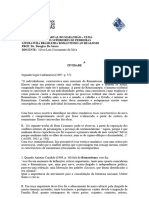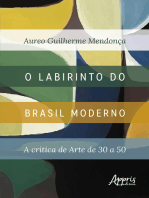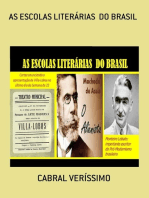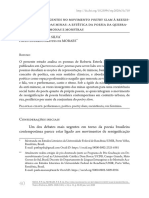Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O surrealismo na poesia de Jorge de Lima
Enviado por
gregooneDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O surrealismo na poesia de Jorge de Lima
Enviado por
gregooneDireitos autorais:
Formatos disponíveis
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
O SURREALISMO NO BRASIL:
A POESIA E A PINTURA EM PNICO EM JORGE DE LIMA
Luciano Marcos Dias Cavalcanti2
RESUMO:
Este texto pretende examinar o recurso da montagem e do onirismo, procedimento esttico
proveniente do surrealismo, utilizado por de Jorge de Lima na confeco de suas fotomontagens e
em sua obra potica.
PALAVRAS-CHAVE: Montagem. Surrealismo. Jorge de Lima.
ABSTRACT:
This text aims at examining the resource of the poetical assembly and the onirism, aesthetic
procedure proceeding from the surrealism, used for of Jorge de Lima in the confection of its collage
and its poetical workmanship.
KEYWORDS: Assembly. Surrealism. Jorge de Lima.
A presena do Surrealismo no Brasil oferece algumas controvrsias. Existe
uma tendncia crtica que considera que esta expresso artstica no teve uma
importncia real no cenrio literrio brasileiro. Apresentando-se de maneira dispersa
por poucos poetas, apenas registrada pela utilizao de algumas tcnicas
surrealistas para composio de seus poemas. Portanto, sem a consistncia de uma
escola ou tendncia esttica significativa. Esta compreenso do surrealismo no
Brasil se configura principalmente pelos pensamentos crticos de Jos Paulo Paes e
Antonio Candido. De outro lado, h os que acreditam que a presena do Surrealismo
no Brasil foi consistente e seus maiores representantes, na poesia, seriam Murilo
Texto referente a pesquisa de ps-doutorado, em andamento, denominada Mito e poesia na lrica
final de Jorge de Lima, junto ao departamento de Literatura/UNESP-Araraquara financiada pela
FAPESP.
2
Luciano Marcos Dias Cavalcanti, Doutor em Teoria e Histria Literria IEL/UNICAMP, psdoutorando UNESP/Araraquara. E-mail: bavarov@terra.com.br.
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
Mendes e Jorge de Lima. Esta tendncia crtica formada principalmente pelo
artista e crtico Srgio Lima.
No parecer de Antonio Candido, em seu ensaio Surrealismo no Brasil, esta
tendncia artstica e outros movimentos afins podem ser considerados ndices de
uma crise de evoluo na histria intelectual do ocidente, na qual o Brasil
participou por contgio.
Da a atitude surrealista ser, entre ns, nas suas raras e imperfeitas
manifestaes ortodoxas, apenas uma atitude. O que h de fecundo
e de permanente nas pesquisas do surrealismo francs, encontramo-lo nos nossos grandes poetas, diludo na realidade mais
autnoma da sua poesia. (...) No Brasil o surrealismo, alm de
ginstica mental, s pode ser compreendido como uma contribuio
tcnica, nunca como uma concepo geral do pensamento e da
literatura, maneira porque cabvel na Europa. (CANDIDO, 1992,
p.105).
Aproximando-se desta perspectiva crtica, Jos Paulo Paes nega a existncia
do Surrealismo no Brasil. Ele observa a questo de forma irnica e mesmo cmica,
afirmando que sobre o movimento, em sua expresso literria,
quase se pode dizer o mesmo que d batalha de Itarar: no houve.
E no houve, explica-o uma frase de esprito hoje em domnio
pblico, porque desde sempre fomos um pas surrealista, ao
contrrio da Frana, cujo bem-comportado e incurvel cartesianismo
vive repetidamente a exigir terapia de choque como a poesia de
Baudelaire, Lautramont e Rimbaud, os manifestos de Tzara e
Breton, o romance de Cline e Gent. (PAES, 1985, p. 99).
Do mesmo modo que pensa Antonio Candido, Jos Paulo Paes considera
que o Surrealismo marcou presena no Brasil atravs da absoro, por alguns
poetas, de apenas alguns elementos formais presentes em suas obras. Nesse
sentido, o crtico faz uma lista de escritores brasileiros que, em seus textos,
apresentam tais caractersticas. A enumerao vai dos poetas romnticos aos
modernistas: Bernardo Guimares, Augusto dos Anjos, Adelino Guimares (estes
antes mesmo do advento do Surrealismo), Mrio de Andrade, Lus Aranha, Prudente
de Moraes Neto (j com influncia de Breton), Joo Cabral de Melo Neto (em Pedra
do sono) e Manuel Bandeira, que comps em sonho Palindia e O Lutador, que
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
segundo o prprio poeta, surrealisticamente, de maneira inapreendida na franja da
conscincia apresentando um carter hermtico at mesmo para seu prprio autor.
(PAES: 1985, p.111). Para o crtico, a influncia surrealista bem mais perceptvel
na poesia brasileira atravs das criaes de Ismael Nery e Murilo Mendes2.
Contrria a esta perspectiva apontada, Srgio Lima, em seu ensaio
Surrealismo no Brasil: mestiagem e seqestros, afirma que o surrealismo est
presente no Brasil desde os anos 20. Para o crtico, essa situao demonstrada a
partir das
poesias e textos publicados; exposies e revistas o veicularam,
alm de ser publicada sob forma de manifesto uma declarao do
direito do sonho em sintonia direta com os propsitos do movimento;
exerccios e escrituras automticas, nos moldes daqueles praticados
no centro parisiense; tentativa de lanamento de uma revista
exclusiva do movimento em 1926 (Pedrosa, Xavier e Bento); edio
de obras explcitas. Trs livros apreendidos (Sinal de Partida,
Revelaes do prncipe do jogo e O alimento negro; Pedrosa, F.
ndio do Brasil e B. Pret) e destrudos pelos rgos policiais, o
retorno pelo selvagem que marcar profundamente toda uma
vertente do perodo modernista, do inferno verde (Euclides da
Cunha e Alberto Rangel) s pesquisas de Rego Monteiro, passando
pelo Pau Brasil, Antropofagia (Tarsila e o descobrimento de
Rousseau: primitivismo o onirismo puro, dir Bachelard), Oswald,
Bopp, Pagu; o Corao verde e os militantes da Verde (Rosrio
Fusco se debater com Antonio Candido nos anos 40); logo outros
mais, como as adeses de Jorge de Lima, Murilo Mendes, Ccero
Dias, Hildebrando Lima, etc.; e, no nos esqueamos, Benjamin
Pret e Elise Houston (mais Andr Breton tambm presente na
Revista de Antropofagia com versos). (LIMA, 1999, p. 309).
No parecer de Srgio Lima o que ocorrera no Brasil um seqestro do
Surrealismo, construindo uma espcie de ausncia do movimento atravs de
envolvimentos e vnculos com as expresses artsticas brasileiras.
podemos dizer o contrrio do consenso geral ou da tese errnea de
que no houve surrealismo no Brasil houve sim, tanto o
surrealismo e sua presena enquanto movimento como
manifestaes voltadas para a viso proposta pelos surrealistas,
como atividades coletivas ou grupais (anos 20), como formao de
2
Como o prprio poeta confessa: Ns todos ramos delirantemente modernos, queramos fazer
tbua rasa dos antigos processos de pensamento e instalar tambm uma espcie de nova tica
anarquista (pois de comunistas s possumos a averso ao esprito burgus e uma espcie de nova
sociedade, a proletria, estava nascendo). Nessa indeciso de valores, claro que saudamos o
surrealismo como o evangelho da nova era, a ponte da libertao. (MENDES, 1996, p.25).
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
dois grupos de militantes do movimento internacional (anos 60 e 90),
com a formao de parcerias iguais s de Moro e Wesphalen, como
revistas, e mesmo uma mostra do movimento: a 13 Exposio
Internacional do Surrealismo, em So Paulo, agosto-setembro de
1967. Como houve sim a ausncia de uma reflexo sobre o
surrealismo e suas implicaes primeiras. (LIMA, 1999, p. 320).
Valentin Facioli contribui com este debate apresentando a ideia de que o
Brasil e a Amrica Latina apresentavam condies muito favorveis para uma
relao profcua com o surrealismo organizado e combatente,
pois no s sobreviviam (e sobrevivem) nesta regio culturas
indgenas e africanas, por exemplo, que se expressam em suas
formas prprias margem do campo erudito e cuja produo no
presidida pela racionalidade liberal capitalista do mercado artstico.
Tnhamos e temos elementos culturais e prticas vitais surrealistas
que parecem continuar vivos e que podiam ter imantado e feito
proliferar uma larga produo surrealista no campo das artes
eruditas. (FACIOLI, 1999, p. 294).
Para o crtico, mesmo o Brasil apresentando condies favorveis de contato
com o Surrealismo, ocorre, nos anos 20 e 30, conflitos e contradies sociais e
culturais acrescido pela poltica nacional populista do Estado , causando um
rompimento com o surrealismo, por se caracterizar contrria ao ambiente constitutivo
destas duas dcadas. (FACIOLI, 1999, p. 304-5).
Jorge de Lima um poeta reconhecidamente mltiplo, conforme atesta sua
produo artstica em geral. Percorreu vrios caminhos em sua atividade literria: poeta,
romancista e crtico. Alm de sua atividade literria tambm foi mdico, vereador da
Cmara do antigo Distrito Federal e professor de Literatura Brasileira na Universidade do
Brasil. Soma-se a estas, a sua atividade de pintor, escultor e de operador de
fotomontagens. Uma faceta de grande importncia, pois est intrinsecamente ligada a
uma das tcnicas fundamentais de sua obra potica final, a montagem e/ou colagem,
como tambm ao misticismo, que o levou ao terreno da fantasia, do sonho e do inslito.
A collage uma tcnica proveniente dos papiers colls cubistas, que consiste em
aproximar duas realidades diferentes num plano que no lhes era prprios, provocando
uma imagem inusitada, diferenciada do corriqueiro e do lgico; prxima, portanto, ao
mundo do sonho. De acordo com Srgio Lima, o termo collage indica um modo preciso e
diferente daquele conhecido como colagem:
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
o termo collage, como designao de expresso determinada, foi
colocado em circulao por Max Ernst desde 1918/19. Antes, como
material apenas e num sentido diverso, tanto Picasso como os cubistas e
os futuristas j haviam utilizado o material colado em suas obras (alis,
denominavam isto de papiers-colls, pois a expresso de Ernst s foi
surgir aps Dada), pem sempre em torno de material, com
preocupaes grficas ou de textura. E no no sentido como na
expresso collage, inaugurada assim por Max Ernst nas artes plsticas.
(LIMA, 1995, p.358).
Em um processo anlogo colagem surrealista, no Brasil, Jorge de Lima praticou
o que aqui se denominou de fotomontagem. O seu livro Pintura em Pnico (1943),
prefaciado por Murilo Mendes, produziu grande interesse por parte de alguns crticos,
como exemplar o caso de Mrio de Andrade e do prprio Murilo Mendes. O primeiro, de
forma entusiasta, associou a fotomontagem ao jogo ldico da brincadeira infantil e
explicou o seu processo de criao.
A fotomontagem parece brincadeira, a princpio. Consiste apenas na
gente se munir de um bom nmero de revistas e livros com fotografias,
recortar figuras, e reorganiz-las numa composio nova que a gente
fotografa ou manda fotografar. A princpio as criaes nascem bisonhas,
mecnicas e mal inventadas. Mas aos poucos o esprito comea a
trabalhar com maior facilidade, a imaginao criadora apanha com
rapidez, na coleo das fotografias recortadas, os documentos capazes
de se coordenar num todo fantstico e sugestivo, os problemas tcnicos
da luminosidade so facilmente resolvidos, e, com imensa felicidade,
percebemos que, em vez de uma brincadeira de passatempo, estamos
diante de uma verdadeira arte, de um meio novo de expresso!
(ANDRADE, 1987, p.09).
Murilo Mendes caracterizou o processo da feitura da fotomontagem como desforra
contra a restrio e a ordem, tambm a associando infncia.
A fotomontagem implica uma desforra, uma vingana contra a restrio
de uma ordem do conhecimento. Antecipa o ciclo de metamorfoses em
que o homem, por uma operao de sntese da sua inteligncia, talvez
possa destruir ao mesmo tempo.
Liberdade potica: este livro respira, a infncia d a mo idade
madura, a calma e a catstrofe descobre parentesco prximo ao
folhearem um lbum de famlia. (MENDES, 1987, p.12).
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
Portanto, a construo da fotomontagem est associada combinao dos
elementos escolhidos pelo poeta e no apenas na eleio de um elemento complexo
isolado por ele. Dessa forma, o fotomontagista tem em suas mos uma tcnica de forte
criao imagtica, a partir da unio de elementos muitas vezes simples que por causa de
sua combinao se tornam inusitados, fornecendo uma atmosfera mgica, muitas vezes
enigmtica e at mesmo inslita o que nos d a sensao de estar em contato com
uma imagem nova.
Otto Maria Carpeaux, em introduo a Obra Potica de Jorge de Lima, organizada
por ele, dizia que quando as palavras j no pareciam capazes de exprimir tudo aquilo
que o poeta [Jorge de Lima] pretendeu dizer, recorreu ao recurso da fotomontagem
(CARPEAUX, 1949, p.VII). Acrescenta-se a esta perspectiva uma outra, a de Murilo
Mendes, que considerava o procedimento da fotomontagem como uma forma de
resistncia ao mundo presente: As catacumbas marinhas contra o despotismo, Morta a
reao, a poesia respira, alm de outras, so imagens de um mundo que resiste
tirania, que se aparelha contra o massacre do homem, o aniquilamento da cultura, a arte
dirigida e programada. (MENDES, 1987, p.12).
O uso da fotomontagem feita por Jorge de Lima o associa ao Surrealismo,
perspectiva esttica que tambm lhe fornece uma tcnica que d um respeitvel suporte
para construo de sua poesia. Dessa forma, notada a influncia, no poeta, de
significativos autores surrealistas como De Chirico (com suas paisagens inslitas e
misteriosas, seus manequins, arcadas e pirmides), Max Ernst (e suas colagens),
Salvador Dal (com suas imagens misteriosas e de subverso do tempo convencional
com seus relgios maleveis) e como apontou Murilo Mendes, de La femme 100 Ttes,
motivadora das montagens, e as leituras de Freud e Jung, que apontam para a criao
desse mundo onrico na obra limiana.
importante lembrar que as fotomontagens de A pintura em Pnico, publicadas
em 1943, foram, em sua grande parte, compostas trs a quatros anos antes. Isto quer
dizer que foram realizadas em plena Segunda Guerra Mundial. Diante disso, mais que
uma simples tcnica artstica, a fotomontagem pode ser considerada uma expresso da
vida moderna fragmentada, mltipla e catica de uma sociedade esfacelada pela guerra.
Soma-se a isso, o incio das crises depressivas pelas quais o poeta passara no final dos
anos trinta. No difcil perceber essas intensas perturbaes que passam tanto o poeta
quanto o mundo nas vrias fotomontagens do livro, assim como em algumas de suas
legendas:
6
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
Possivelmente pelo terror das futuras
hecatombes.
A poesia abandona a cincia sua
prpria sorte.
As coisas comeam a engordar,
suando dentro de certo ar de luxria.
Pois sempre desejvamos a paz,
a paz branca dentro de um saturno
dirio.
Ser revelado no final dos tempos.
Ao meio dia, dentro da confuso
luminosa voavam seres.
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
O comeo da catequese.
A poesia de uns depende da asfixia
de outros.
Eis o clice de fel.
A inveno da polcia.
O anunciador da catstrofe.
O Julgamento do tempo.
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
A presena do surrealismo com seu pressuposto bsico da repulsa ao realismo
positivista, que, para Breton, significava um empecilho a qualquer evoluo intelectual e
moral, prendendo o artista ao conhecido e ao classificvel, empobrecendo o carter
imaginativo da arte que provm dos sentimentos perfeitamente visvel tanto nas
fotomontagens quanto na lrica final de Jorge de Lima. Para se afastar do reino da
lgica, que nos governa atravs do racionalismo fundamentado pela utilidade imediata e
voltado para o senso comum, os surrealistas apontam as portas dos sonhos. Para estes,
o onirismo possibilitaria uma ampliao do conhecimento por no estar preso
estritamente ao racional. Nesse sentido, a imaginao ganha reconhecimento e garante o
aprofundamento da mente, antes aprisionada pela racionalidade. Para Breton,
inaceitvel que o onrico, parte to importante da atividade psquica, tenha chamado to
pouca ateno; o sonho e a noite no podem ficar reduzidos a um parntese.
Todo empenho tcnico do surrealismo organiza-se em multiplicar os acessos de
penetrao nas camadas mais profundas da mente. para ressaltar a assimilao do
sonho vida e arte que Breton conta uma histria do poeta Saint-Pol-Rol, que
diariamente antes de adormecer mandava afixar um aviso porta de seu solar de
Camaret: O POETA EST TRABALHANDO, da mesma forma, o terico do Surrealismo
estabelece como ordem as palavras do poeta que mais inspirou o movimento, Rimbaud:
Digo que preciso ser vidente, tornar-se vidente.
Parece razovel dizer que o sonho3 pode servir de instrumento inspirador ao
artista que, posteriormente, d prosseguimento ao seu trabalho, utilizando-se do
pensamento intelectual. Mas, talvez, um dos grandes servios prestados pelo onirismo
literatura, como instrumento de criao artstica, est no fato dele fornecer ao artista uma
espcie de liberdade (com o abandono, mesmo que provisrio, da funo crtica s
vezes bloqueadora do ato da criao) e espontaneidade no esprito criador.
especialmente a partir dos estudos de Freud sobre o sonho que os surrealistas tomaram contato
com o mundo onrico. De acordo com a teoria freudiana, o sonho constitudo, principalmente, por
dois elementos: o contedo manifesto (o que conseguimos contar) e o contedo latente (o que
necessitamos decifrar para interpretar o sonho uma espcie de chave para compreendermos os
significados do sonho) esse aspecto demonstra o motivo pelo qual encontramos dificuldades na
compreenso dos sonhos. A sua caracterizao bsica encerra no sentido de que o sonho sempre
a realizao de um desejo, mesmo que aparentemente se apresente de forma perturbadora ao
sonhador. No seu sentido geral, as ideias essenciais do onirismo para Freud podem ser resumidas
em duas palavras chaves: deslocamento e condensao, caractersticas essenciais da imagem
potica. Essas duas formas conectivas tpicas da imagem onrica correspondem a um princpio
agregador e ou comparativo, prprios da metonmia e da metfora.
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
Jorge de Lima um poeta que principalmente na sua lrica final apresenta
contatos estreitos com caractersticas formais do surrealismo. O poeta
constantemente solicitado quando se quer tratar do surrealismo, sendo apresentado
de duas maneiras: como poeta caracteristicamente surrealista ou que apresenta
fortes marcas dessa tendncia esttica.
bem provvel que a relao de Jorge de Lima com o surrealismo provenha
tambm indiretamente de Ismael Nery, artista mltiplo e amigo de Murilo Mendes
que viajou Europa e estabeleceu contato direto com Andr Breton e Marc Chagall
em 1927. Fora ele que divulgara a Murilo Mendes as ideias surrealistas que, por
conseguinte, tambm teriam chegado a Jorge de Lima. A dedicatria de Tempo e
Eternidade, livro composto por Murilo Mendes e Jorge de Lima depe a favor disso:
memria de Ismael Nery.
A figura de Ismael Nery se apresenta de forma singular na cultura brasileira.
Nery era um artista incomum e de personalidade mltipla, cultivava o gosto por
diversos campos artsticos e filosficos: a pintura, o desenho, a arquitetura, a poesia,
a dana, a filosofia, a teologia. Ele foi o criador do Essencialismo4 (termo cunhado
por Murilo Mendes) sistema filosfico religioso que nunca se materializou de forma
organizada porque Nery no deixou nenhum sistema escrito e, portanto, s temos
notcias atravs de textos esparsos, resumos e depoimentos sobre ele. Basicamente
a doutrina essencialista fundamentada na abstrao do tempo e do espao, na
seleo e cultivo dos elementos essenciais existncia, na reduo do tempo
unidade, na evoluo sobre si mesmo para a descoberta do prprio essencial, na
representao das noes permanentes que daro arte a universalidade.
(MENDES, 1996, p.65).
O momento histrico por que passa a poesia no Brasil tambm sentido na
mudana da perspectiva adotada por Jorge de Lima. Nos anos 40, h no pas um
4
Assim Murilo Mendes apresenta a doutrina Essencialista: Segundo o prprio Ismael, o sistema
essencialista era em ltima anlise uma preparao ao catolicismo. Sabendo da indisposio
existente, hoje, em geral, contra as idias catlicas, resolveu Ismael apresent-las sobre outras
espcies, a fim de evitar o part-pris do interessado. No dia em que o iniciado se tornar catlico dizia
, o sistema essencialista no lhe adiantar mais nada, pois ter sido conquistado um grau superior e
definitivo. O sistema essencialista, entretanto, servia muito para encurtar a experincia dos homens.
O mal do homem moderno consiste em fazer uma construo de esprito dentro da idia de tempo.
Ora, o tempo traz no seu bojo a corrupo e a destruio. Deve o homem apegar-se a sistemas que
evoluem constantemente, porque baseados numa cincia incerta e vacilante? No. Todas as
experincias que tm havido at agora foram teis. Todas as verdades sobre a vida j foram ditas,
mas ainda no foram organizadas. Sem a cincia da vida, ou o homem construir inutilmente, ou
ento ter que destru-la. O valor permanente e definitivo, valor que o tempo no ataca, o trazido
pelo Cristo. (MENDES, 1996, p.48).
10
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
grande interesse pelo onirismo ou pela chamada linguagem noturna, como
notadamente percebida at mesmo na poesia de Joo Cabral de Melo Neto, que
comps o seu livro Pedra do Sono e Consideraes do poeta dormindo. nessa
dcada que Jorge de Lima publica o seu livro de fotomontagens Pintura em Pnico
(1943) e Anunciao e Encontro de Mira-Celi, tambm de 1943, e o Livro de
Sonetos (1948).
Em Anunciao e Encontro de Mira-Celi a criao potica de Jorge de Lima
est intrinsecamente ligada inspirao (Mira-Celi a musa que inspira o poeta) e
busca do sagrado. Mas tambm constituir uma relao profcua com a esttica
surrealista, j que, como vemos no poema 30, o poeta se relaciona com o mundo
noturno, o onrico e o fabuloso, propiciando imaginao a magia e a inspirao:
Acontece que uma face
alta noite vem juntar-se
minha face. Magia:
ela penetra em meus lbios,
em minha fronte, em meus olhos,
e eu no sei se a minha face
ou se a face do meu sono
ou da morte. Ou quem dir?
Se de alguma criatura
composta apenas de face
incorprea como o sono,
face de Lenora obscura
que penetra em minha sala
e do outro mundo me espia.
Atrelado a este sentido, o sonho em Anunciao e encontro de Mira-Celi
tambm apresentar o significado mais comum, o de esperana. Como pode-se
notar no poema 3 .
H necessidade de tua vinda Mira-Celi:
Milhares de ventos virginais te esperam
Atravs de sculos e sculos de insnia!
................................................................
Quando vires, as rvores ocas daro flores,
e teu esplendor acender pela noite
os olhos entreabertos dos semblantes amados.
11
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
Outro sentido importante relacionado ao ambiente onrico presente em MiraCeli nos remete a uma ligao intrnseca entre sonho e poesia. No poema 11, a
musa ser equiparada poesia.
Em tua constelao, vrias de tuas irms no existem mais,
(melhor fora que nunca houvessem nascido)
desertaram de teus outonos, Mira-Celi;
.............................................................
Apenas os teus sonhos nos povoam de poesia
e o teu ressonar a nossa terrena msica
Alta noite despertas, doce Musa sonmbula
readormeces depois: explodem dios no mundo
...................................................................
preciso que acorde, grande Musa, esperada
O Livro de Sonetos, que pelo prprio ttulo se oporia esttica surrealista
(pelo simples motivo de que os surrealistas nunca permitiram qualquer forma prestabelecida para a composio de uma obra de arte), estabelece a relao com
esta esttica no que diz respeito a seu contedo imaginativo. Assim, encontramos,
neste livro, temas como a loucura:
No procureis qualquer nexo naquilo
que os poetas pronunciam acordados
pois eles vivem no mbito intranqilo
em que se agitam seres ignorados.
Da escrita por pulso, assim como o prprio modo de criao do livro, feito em
estado de hipnagose.
Vereis que o poema cresce independente
e tirnico. irmos, banhistas, brisas,
algas e peixes lvidos sem dentes
veleiros mortos, coisas imprecisas,
Nesse momento, talvez seja importante informar ao leitor um fato biogrfico
que nos ajudar a pensar melhor sobre o processo de criao de Jorge de Lima, e
que est intrinsecamente ligado forma de sua escritura noturna. A composio de
Livro de Sonetos e Inveno de Orfeu se d em um momento de recolhimento do
12
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
poeta por causa de um esgotamento nervoso. Seguindo orientaes mdicas,
Jorge de Lima se recolhe em uma clnica de repouso no Alto da Boa Vista (que o
poeta significativamente denominava como seu bero), onde compe, em dez dias
em estado hipnaggico 102 sonetos, sendo que 77 formam o Livro de Sonetos e os
25 restantes aguardam a composio de Inveno de Orfeu para serem includos
neste. O amigo e tambm mdico Jos F. Carneiro, que acompanhou ativamente
esse momento, nos conta que Jorge de Lima, se levantando s vezes de
madrugada, compunha de uma s vez trs, quatro, cinco sonetos.
No sei se seria do gosto do poeta a narrativa das circunstancias que
cercaro a produo desses sonetos. Limitar-me-ei a referir que
foram escritos em momento de grande angstia, quando seu autor
comeou a sonhar acordado, e a ver, diante de si, entre outras
coisas, o galo do Rosrio em Macei, um galo de orientao dos
ventos, que, Jorge de Lima achava belssimo e que muito ocupou
sua imaginao de criana. Tinha 7 anos e, segundo me disse, ia
dormir com aquele galo na memria. De dedo em riste um vereador
petebista ameaava seu adversrio udenista: Sr. presidente, todos
nesta casa so testemunhas.... Mas o presidente da cmara, via
apenas, diante de si, girando, o galo, o galo da igreja do Rosrio. E
Celidnia. E Elisa. Tambm a draga da praia de Pajuara.
(CARNEIRO, 1958, p. 48-49).
Soma-se a isso a declarao do prprio poeta sobre a feitura de Inveno de
Orfeu: Durante dois anos fui escrevendo o poema sem saber onde ia chegar, de
quantos versos constaria, nem o que pretendia. Com a sua leitura depois de
composto que verifiquei a sua inteno independente das minhas intenes.(...)
Foi feito como criao onrica. (LIMA, 1958, p. 94). nessa direo que o poeta
concebe sua poesia: Nenhum poeta, creio, constri com planta. Isto prprio da
arquitetura. Depois de produzido o poema quem quiser que o classifique ou etiquete.
O essencial que seja poesia. (LIMA, 1958, p. 97).
So inmeros os exemplos da perspectiva esttica surrealista em Inveno
de Orfeu. No Canto I, estncia III, o poeta nos diz que pretende contar uma histria
mal-dormida de uma viagem: Contemos uma histria. Mas que histria?/ A histria
mal-dormida de uma viagem.. Esta histria se apresenta entre os estados da viglia
e do sono; portanto, uma histria noturna e turbulenta, como est bem caracterizado
pelo vocbulo mal-dormida sugerindo a representao do estado em que seu
viajante se encontra. Ou seja, contada por um viajante que se mostra em posio
13
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
adversa do habitual: no est completamente em viglia, nem em repouso, unindo,
assim, metaforicamente na construo de sua histria a imaginao (caracterizada
pelo ambiente noturno) e o trabalho potico (caracterizado pelo estado de viglia).
A estncia V, do mesmo Canto, nos mostra bem o lugar privilegiado que
Jorge de Lima d imaginao em seu poema, sem ela a obra se extinguiria. A
construo artstica, que caracteristicamente se utiliza do trabalho para sua
elaborao, no h como negar este carter geral da obra de arte soma-se, de
forma privilegiada, imaginao e ao sonho. O poeta tambm pede ao escriba para
no se esquecer das pobres geografias, os nordestes, j prenunciando os
elementos que o poema vai nos apresentar durante toda a sua construo. Em
Inveno de Orfeu, o social e o imaginrio estaro presentes, juntos a outras
variadas temticas. Desse modo, o poeta parece estar preparando ou informando o
seu leitor sobre o que ele vai encontrar no seu poema.
Revela-se, no poema, a valorizao da imaginao quando o poeta pede ao
escriba dessa viagem que no se esquea de contar ao lado do que est aparente o
fictcio. Essa perspectiva ser empreendida em todo poema, dando-lhe uma forte
marca imaginativa, que ser muitas vezes evidenciada nas imagens surrealistas,
como se percebe no verso: faces perdidas, formas inumanas.. o que tambm
est expresso no desejo de evaso do poeta de um mundo conturbado e inabitvel,
representado, principalmente, pelo tempo presente vivenciado por ele. Assim vemos
figurados nos versos: uns tempos esbraseados para pestes/e muitos ossos tbios
chamuscados, ou como tambm revelam mais evidentemente este: quereis fugir ao
mundo persignado,.
No esqueais escribas os somenos,
as geografias pobres, os nordestes
vagos, os setentries desabitados
e essas flores ptreas antilhanas.
H nesses mapas nmeros pequenos,
uns tempos esbraseados para pestes
e muitos ossos tbios chamuscados,
faces perdidas, formas inumanas.
No esqueais, escribas, ir contando
nas cartas o que est aparente, ao lado
das invenes em seu fictcio arranjo.
14
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
E os pequenos orgulhos, sempre quando
quereis fugir ao mundo persignado,
impenitente e despenhado arcanjo.
Podemos ver na estncia XVIII, deste Canto, uma espcie de transmutao
alqumica, em que assistimos transformao de um elemento em outro, em uma
representao de coisas que s ocorre devido ao rompimento com o retrato
mimtico do mundo e a partir do auxlio da imagem surrealista. Atravs de uma
imaginao intensa, vemos surrealisticamente a metamorfose de flores em
borboletas e de figuras mticas, como o centauro (espcie de colagem de homem
com cavalo) e de cavalos alados (colagem de cavalo com ave). Alm destes
elementos caractersticos de uma mitologia clssica, notamos tambm que as
imagens do poema so criadas atravs do processo metafrico caracterstico da
montagem surrealista. Desse modo, a imagem potica parece ter sido criada pela
primeira vez por causa de seu carter original e singular. Em uma espcie de busca
da linguagem original o poeta cria um mundo particular inventado por ele.
Alm desses processos, importante notar o carter pictrico do poema, em
que vemos uma preocupao do poeta com a textura de alguns elementos
representados por ele: as borboletas gordas e veludosas como urtigas, o ... o
esterco fumegante, e tambm o erotismo, a partir da comparao entre as
borboletas e o sexo. Nesse sentido, salienta-se o ganho que a poesia obteve com a
pintura surrealista, com sua fuso do real ao imaginrio, o visvel ao invisvel, o
racional ao irracional (De Chirico, Picasso, Braque, Dal, entre outros, deixavam de
representar a natureza de forma mimtica para deform-la, criando outro mundo). O
que ocorre um desprezo dos artistas pelo mundo sensvel, pois no h mais
sentido em reproduzir mimeticamente o real. O poema se realiza como uma
composio surrealista em que os elementos opostos se misturam e se transmutam
um no outro, de modo que a representao deste estado potico s poderia realizarse por um tipo de representao imagtica renovada.
guas vieram , tarde, perseguidas,
depositaram bostas sob as vides.
Logo aps borboletas vespertinas,
gordas e veludosas como urtigas
sugar vieram o esterco fumegante.
Se as vsseis, vs direis que o composto
15
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
das asas e dos restos eram flores.
Porque parecem sexos; nesse instante,
os mais belos centauros do alto empreo,
pelas ptalas descerem atrados,
e agora debruados formam crculos;
depois as beijam como beijam lrios.
bem provvel que uma das metforas mais importantes do poema, que
revela o procedimento potico para a construo de Inveno de Orfeu, est
exemplarmente expressa na estncia XXIV do Canto Primeiro, em que o poeta se
intitula engenheiro noturno. Esta expresso rompe com a aparente oposio e/ou a
separao entre razo e inspirao para a criao artstica. Nesse sentido, quebrase a ideia de que existem apenas dois tipos de possibilidades criativas: aquela em
que o artista criaria somente por meio da inspirao e a outra, em que a criao
seria feita apenas por meio da razo.5
Abrigado por trs de armaduras e esgares,
o engenheiro noturno afinal aportou
ao nordeste desta ilha e construiu-lhe as naves.
Penoso empreendimento o invento desse cais
e desse labirinto e desses arraiais.
Para britar a pedra escreveram-se hinos
prontos para marchar ou morrer sem perdo.
Numeraram-se chos cada qual com seus ossos,
reacendeu-se a colmia, atiou-se o pavio.
Lemos contos de Grimm, colamos mariposas
nesse jato de luz em frente as velhas tias;
e sob esse luar conversando baixinho
com esse pranto casual que os velhos textos tm.
O prodgio engenheiro acendeu seu cachimbo
e falou-nos depois de flores canibais
5
Marcel Raymond nos explica, modelarmente, a nova relao estabelecida entre estes dois termos
na concepo artstica do pensamento esttico moderno, e que representa bem a posio que ocupa
a poesia limiana nesse cenrio: Eis a, parece, duas correntes de sentido inverso: de um lado, uma
tentativa de adaptao ao real positivo, ao universo mecnico de nosso tempo; de outro, um desejo
de encerrar-se no recinto do eu, no universo do sonho. Mas preciso logo observar que possvel
evadir-se ou refugiar-se to bem fora quanto dentro de si; os dois movimentos podem ser segundo
o caso, itinerrios de conquista ou de fuga. De resto, e nisso consiste o principal, uma srie de fatos
contemporneos justifica amplamente a reconciliao do real e do sonho, e quase no permite opor,
a no ser de maneira abstrata, as duas atitudes que definimos. Esses fatos, aos quais corresponde a
conduta dos poetas modernos, so as proposies dos epstemologistas sobre as condies e os
limites do conhecimento, so as teorias psicolgicas sobre o inconsciente ou o subconsciente, e a
crena mais ou menos generalizada, ou a suspeita, de que existem no homem e fora dele foras
desconhecidas sobre as quais ele pode esperar agir. (RAYMOND, 1997, p.193-194).
16
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
que sorvem qualquer ser com seus polens de urnio.
Feliz de quem ainda em cera se confina...
Disse-nos afinal o engenheiro noturno.
Em seguida sorriu. Era perito e bom.
Vimo-lo sempre em sonho a perfurar os tneis
forrados a papel de cpias e memrias.
Era a carne profunda a embalar-nos nos braos
e esse vasto suspiro a se perder no mundo;
era a marca dorsal j tatuada em porvires
desses castos pores de prazeres reptantes.
Inaugurou-se a festa, os impulsos surgiram,
e em calmaria fez-se a colheita do sal.
Houve proibies em frente s velhas tias
de sobrolho tardio e ternuras intactas.
Alguma loura irm dentro de ns dormiu,
abriu-se em nosso tecto uma abbada escura
circunstancial, madura em seu silncio cmplice.
Essa perturbao alcanou os meninos
esculpidos ao p das colunas do templo
que desceram ao palco exibindo-se nus.
Do noturno trabalho a gente tresnoitada
dana de ver assim ao romper da alvorada
esse engenheiro-ser tocando a sua gaita
os rebanhos levar; logo no tosco jarro
aquele lhe oferece a doce e branca ovelha,
e a vaca os seios seus em queijos e coalhada.
O engenheiro noturno exemplar como expresso metafrica, pois abarca
duas caractersticas paradoxais do mesmo ser. O engenheiro, que no exerccio de
sua profisso utiliza-se do clculo e da tcnica para realizao de seu trabalho, por
excelncia o indivduo que faz uso da cincia e da matemtica para conceber e
realizar sua obra. Contrrio a esse tipo de concepo criadora, est o elemento
noturno que em um sentido mais imediato representa o mundo do sono, do sonho,
do devaneio, contrastando, assim, com o primeiro elemento. Mas na potica de
Jorge de Lima essa unio de elementos opostos, que inicialmente pode parecer
paradoxal, na realidade, representa a maneira pela qual o poeta elabora sua criao
potica. Unido os contrrios, elementos que normalmente seriam incompatveis e
antagnicos, o poeta utiliza-se do elemento racional e do onrico para realizao
potica. Em sntese, a metfora do engenheiro noturno aponta para a ideia que, no
17
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
seu poema, unem-se os campos intelectual e espiritual, que se exprimem numa
linguagem engenhosa e onrica.
interessante notar que essa caracterizao do fazer potico presente em
Inveno de Orfeu, representa a prpria concepo moderna do fazer potico que
oscila entre o delrio e a razo, representada, de um lado, por Rimbaud e, de outro,
por Mallarm e Valry, e que se encontra amalgamada em Baudelaire, centro
dessas duas correntes principais da poesia moderna, como j apontou Marcel
Raymond.
Estes elementos que, de acordo com o pensamento moderno, propiciam a
realizao do poema tambm esto intrinsecamente ligados em Inveno de Orfeu.
Esse aspecto, a nosso ver, se apresenta de forma mais completa para a explicao
da construo do fenmeno potico. Do contrrio, a poesia feita apenas atravs do
uso da razo ou da intuio se apresentaria de maneira unilateral, excluindo duas
caractersticas pertencentes obra potica e ao homem, limitando, portanto, o
conhecimento do potico e do humano.6
importante frisar, em nosso ponto de vista mesmo crendo que Jorge de
Lima no um surrealista de Escola
, que no importa uma definio
peremptria quanto a sua caracterizao como um poeta Surrealista ou no, mas
sim o quanto a utilizao de elementos muitas vezes similares ou provenientes
dessa tendncia esttica enriquece sua lrica. O que realmente vale a relao
profcua que o criador de Mira-Celi estabelece como o onrico em sua poesia. Afinal,
as foras do inconsciente humano no so exclusivas do pensamento surrealista,
mas antes de tudo so humanas e, portanto, se revelam como um elemento
6
lvaro Lins se pronuncia a esse respeito nos dizendo o seguinte: acredito que em todo poeta se
faro sentir os apelos do inconsciente e a disciplina da razo; o culto do irreal e a sensao da
realidade; a vertigem dos sonhos e as limitaes do cotidiano; o delrio e a lucidez. No que estes
estados se misturem; eles se superpe e se completam. Em poesia que se pode ver bem a verdade
deste princpio: a razo no criadora; ordenadora. No ato da criao, antes que a razo
intervenha, j se ter manifestado a presena das potncias obscuras do ser. S posteriormente
que a razo completa e ordena estas potncias. (...) Tanto a inconscincia total como a lucidez
absoluta so estados impossveis no homem, mesmo no homem especial que poeta. Um poema,
sabe-se, inspirao e realizao: a inspirao pode ser inconsciente, mas a realizao sempre
lcida. (LINS, 1970, p.13-14).
7
O poeta mesmo declara: A poesia mais do que tudo h de ter e sempre teve a sua origem e sua
razo de ser no sobrenatural. E o racionalismo foi a tentativa de morte do sobrenatural. (...) A
imitao da natureza no constitui poesia. O poeta imita o criador. A natureza apenas informa o
poeta. O poeta deforma, reforma a natureza e o mundo ante a fora criadora do poeta se conforma
com o que ele presente, v, profetiza, poeta. (LIMA, 1935, p.221). Esta posio assumida pelo
poeta, em 1935, nos revela tambm que a sua suposta constante mutabilidade potica pode ser
contestada, j que sua reflexo concorda bastante com sua postura esttica, que se d como uma
espcie de fio condutor desde Tempo e Eternidade at Inveno de Orfeu, seu penltimo livro.
18
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
potencial e/ou presente em qualquer forma de expresso artstica. Mas no
podemos nos esquecer tambm que foi com o Surrealismo que estas foras do
inconsciente puderam se expressar de maneira mais atuante; o que, de acordo com
lvaro Lins, resultou numa disposio revolucionria que no pode ser esquecida e
sim continuada: uma revoluo contra o esprito de imitao e de rotina, contra o
falso realismo que excluda o transcendental, contra a arte petrificada nos
formulrios, contra a conscincia lgica que no tinha coragem de se voltar para
dentro de si mesmo. (LINS, 1970, p. 16-17). A presena constante do onrico na
potica limiana no significa, de forma alguma, que sua criao potica seja
exclusivamente caracterizada pela construo do poema atravs do simples impulso
da inspirao ou do sonho. A poesia de Jorge de Lima tambm elaborada a partir
do trabalho formal, na medida em que visa encontrar, atravs do trabalho potico,
sua prpria linguagem: o poeta precisa de sua prpria linguagem potica, pois
carece ele de comunicar o seu misterioso mundo de conhecimentos inefveis
(LIMA, 1958, p. 67). Referindo-se necessidade de preciso e de beleza formal, ele
diz: Vivemos (...) numa poca de preocupao com a forma. E acredito que muito
se lucrar a poesia brasileira com tudo isso. Passou evidentemente o tempo em que
o poeta, obrigado pelas circunstncias, partia apenas em busca da aventura
vivencial da poesia; hoje se deve ter em mira tambm a bela e nobre aventura da
forma. (LIMA, 1958, p. 67). Para Jorge de Lima, necessrio o depuramento formal
na expresso potica. Segundo ele, foram Baudelaire e Rimbaud que iniciaram o
retorno s verdadeiras tradies poticas (LIMA, 1958, p. 68).
Desse modo, o formalismo limiano se configura por meio dos vrios
aspectos da concepo tradicional da poesia, somados concepo moderna, ou
seja, privilegia-se tambm a magia das palavras (com sua sonoridade e imagens
extraordinrias), a inspirao, a poesia como forma de conhecimento do humano, o
rigor formal, a expresso espontnea, mostrando-se como um poeta que expressa
as angstias do homem do tempo presente.
Nesse sentido, o poema limiano elaborado atravs de uma comunho
(talvez, para alguns, paradoxal) entre a emoo e o rigor formal. A lrica de Jorge de
Lima se associa aos grandes nomes da poesia moderna universal: Baudelaire,
Rimbaud e tambm Mallarm, j que o poeta brasileiro ousado na utilizao de
metforas complexas, negando-se a representar o mundo de maneira clara e fcil. O
que ele deseja criar novas realidades atravs de uma nova representao literria,
19
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
feita pela imaginao e pela prpria poesia. Como nos aponta Fbio de Souza
Andrade, a ltima fase de Jorge de Lima se inclui nessa tradio, pois o poeta
emprega largamente a metfora absoluta, as metforas genitivas,
abertas para a ambigidade e pluralidade de sentidos. Muito mais do
que simples construo metricamente peritas ou demonstraes de
habilidade potica, seus sonetos finais os do Livro de Sonetos e da
Inveno de Orfeu so experincias-limite dentro dessa vertente
moderna da poesia. A obscuridade semntica aparece aqui como
defesa possvel contra a banalizao das palavras e da prpria lrica.
A estratgia fechar-se a si mesmo para sobreviver, criar carapaas
(i.e., as imagens complexas) que dificultam a compreenso imediata,
mas preservam o que , por natureza, forte e frgil: a capacidade da
linguagem de fundar mundos prprios. (ANDRADE, 1996, p.138).
O poeta mesmo reflete sobre esta perspectiva, apontada acima, associandose ao pensamento de Mallarm, Valry e T. S. Eliot, quando preconiza que na
linguagem potica os poetas devem primar pela conciso e pela justeza verbal.
Mas os poetas no podem se esquecer de que devem comunicar aos outros a sua
poesia e no sobrecarreg-la de tal obscuridade que torne incompreensvel. A
dificuldade da linguagem potica reside precisamente nisso: ser linguagem do poeta
e ser comunicvel. (LIMA, 1958, p.73). Muitas vezes acusado de hermtico, Jorge
de Lima tinha conscincia de que o poeta tem que se comunicar com o leitor; caso
contrrio, sua poesia estaria fadada ao fracasso, ficaria presa em si mesma. No
entanto, h de se considerar, como aponta lvaro Lins, de que muitas vezes no
responsabilidade do poeta essa no transmisso de sua experincia potica: A
responsabilidade pode se encontrar no leitor, no seu prosasmo, nos seus
preconceitos, nas suas exigncias de uma clareza dentro da lgica comum. A poesia
moderna, porm, se acha colada muito alm dessa lgica comum. (LINS, 1970, p.
20). O crtico salienta ainda que algumas obras tm o destino de conservar um
estado de mistrio, de se concentrar dentro de uma espcie no comum de
obscuridade. (LINS, 1970, p. 21).
Mesmo utilizando-se, em sua lrica final, da imaginao e do onirismo para
composio de seus poemas, acreditamos que Jorge de Lima no cria suas
imagens de forma automtica, como praticavam alguns poetas surrealistas, mas
carregadas de sentido histrico, dialogando com a tradio literria, mitolgica e
religiosa. Inveno de Orfeu nos oferece um imenso repertrio de exemplos nesse
20
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
sentido, que nos revela como o poeta pensou e trabalhou todo o poema: o
entrelaamento entre emoo inspiradora e trabalho potico.
REFERNCIAS
ANDRADE, Fbio de Souza. O engenheiro noturno: a lrica final de Jorge de Lima.
So Paulo: EDUSP, 1997.
ANDRADE, Mrio de. Fantasias de um Poeta. In: Paulino, Ana Maria (org.) O Poeta
Inslito Fotomontagens de Jorge de Lima. So Paulo: IEB/USP, 1987.
BRETON, Andr. Manifestos do Surrealismo. (Trad.: Srgio Pach) Rio de Janeiro:
Nau Editora, 2001.
CANDIDO, Antonio. Surrealismo no Brasil. In: Brigada ligeira e outros estudos. So
Paulo: Ed. UNESP, 1992.
CARNEIRO, J. Fernando. Apresentao de Jorge de Lima. Rio de Janeiro: MEC,
1958.
CARPEAUX, Otto Maria. Organizao e Introduo a Obra Potica - Jorge de Lima.
Editora Getlio Costa: Rio de Janeiro, 1949.
CAVALCANTI, Luciano Marcos Dias. Inveno de Orfeu: a utopia potica na lrica
de Jorge de Lima. Campinas: IEL/UNICAMP, 2007. (Tese de Doutorado)
DUTRA, Waltensir. Descoberta, Integrao e Plenitude de Orfeu. In: Obra Completa
(org. Afrnio Coutinho). Rio de Janeiro: Aguilar, 1958, vol. I.
FACIOLI, Valentin. Modernismo, vanguardas e surrealismo no Brasil. In: Surrealismo
e novo mundo. (Org. Robert Ponge) Porto Alegre: Editora UFRGS, 1999.
FREUD, Sigmund. A interpretao dos sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 2001.
LIMA Jorge de. Obra Completa (org. Afrnio Coutinho). Rio de Janeiro: Aguilar,
1958.
LIMA Jorge de. A mystica e a poesia. In: A Ordem. (vol. XIV julho a dezembro) Rio de
Janeiro: rgo do Centro Dom Vital: 1935.
LIMA, Srgio. A aventura Surrealista. (Tomo I). Campinas. S. P.: Ed. Unicamp; So
Paulo: UNESP; Rio de Janeiro: Vozes, 1995.
21
[revista dEsEnrEdoS - ISSN 2175-3903 - ano IV - nmero 13 - teresina - piau - abril maio junho de 2012]
LIMA, Srgio. Surrealismo no Brasil: mestiagem e seqestros. In: Surrealismo e
novo mundo. (Org. Robert Ponge) Porto Alegre: Editora UFRGS, 1999.
LINS, lvaro. Poesia e Forma. In: Teoria Literria. Rio de Janeiro, Ediouro: 1970.
MENDES, Murilo. Recordaes de Ismael Nery. So Paulo: EDUSP; Giordano,
1996.
MENDES, Murilo. Poemas de Ismael Nery (1) e (2) (recolhidos por Murilo Mendes).
In: A Ordem. (ano XV vol. XIII). Rio de Janeiro: rgo do Centro Dom Vital, 1935.
MENDES, Murilo. Nota liminar. In: Paulino, Ana Maria (org.) O Poeta Inslito
Fotomontagens de Jorge de Lima. So Paulo: IEB/USP, 1987.
PAES, Jos Paulo. O surrealismo na literatura brasileira. In: Gregos e Baianos. So
Paulo: Brasiliense, 1985.
PAULINO, Ana Maria. Jorge de Lima Artistas Brasileiros (Poesia e Pintura). So
Paulo: EDUSP, 1995.
RAYMOND, Marcel. De Baudelaire ao surrealismo. So Paulo: EDUSP, 1997.
22
Você também pode gostar
- As Ilusões Da ModernidadeDocumento13 páginasAs Ilusões Da ModernidadeRicardo Gomes da Silva100% (1)
- Literatura Contemporânea Brasileira: Panorama e TendênciasDocumento30 páginasLiteratura Contemporânea Brasileira: Panorama e TendênciasCarlos Lerina75% (4)
- Surrealismo e Modernismo - Experiências Surrealistas Na Arte Brasileira 1920-1940Documento8 páginasSurrealismo e Modernismo - Experiências Surrealistas Na Arte Brasileira 1920-1940Eduardo RosalAinda não há avaliações
- O surrealismo na crítica e criação literária brasileiraDocumento12 páginasO surrealismo na crítica e criação literária brasileiradanieldeaguiarAinda não há avaliações
- O Surrealismo Na América Latina o Caso de PeruDocumento7 páginasO Surrealismo Na América Latina o Caso de PeruCarlos BeluypuyAinda não há avaliações
- A poesia e o pensamento de Adolfo Casais MonteiroDocumento9 páginasA poesia e o pensamento de Adolfo Casais Monteirogustavo schmidtAinda não há avaliações
- Haroldo de Campos, Tradição e Paralelismos (Rivera, 2018)Documento15 páginasHaroldo de Campos, Tradição e Paralelismos (Rivera, 2018)Paula MendonçaAinda não há avaliações
- Análise da obra literária Estrela da Manhã de Manuel BandeiraDocumento44 páginasAnálise da obra literária Estrela da Manhã de Manuel BandeiraClara VasconcelosAinda não há avaliações
- Presencismo Ufc, 2021Documento54 páginasPresencismo Ufc, 2021Santiago LucasAinda não há avaliações
- O Surrealismo em PortugalDocumento729 páginasO Surrealismo em PortugalRenata Ribeiro100% (2)
- Repivetta,+7 +Uma+Originalidade+DispersivaDocumento18 páginasRepivetta,+7 +Uma+Originalidade+DispersivaVitor QuirinoAinda não há avaliações
- Andrade, Oswald de - Do Pau Brasil A Antropofagia e As UtopiasDocumento290 páginasAndrade, Oswald de - Do Pau Brasil A Antropofagia e As UtopiasmoniAinda não há avaliações
- Romantismo Byroniano e a remanescência contemporânea na produção artísticaDocumento13 páginasRomantismo Byroniano e a remanescência contemporânea na produção artísticaThay BelfortAinda não há avaliações
- NUNES, Benedito. Oswald CanibalDocumento79 páginasNUNES, Benedito. Oswald CanibalBaruch Bronenberg100% (6)
- Periodização Da Literatura BrasileiraDocumento19 páginasPeriodização Da Literatura BrasileiraHildaMenezes100% (2)
- Murilo MendesDocumento13 páginasMurilo MendesJônatas CastroAinda não há avaliações
- Oswald de AndradeDocumento6 páginasOswald de AndradeFernando Maia da CunhaAinda não há avaliações
- 1696 7167 1 PBDocumento15 páginas1696 7167 1 PBheitortanusAinda não há avaliações
- Naturalismo e Século XXDocumento114 páginasNaturalismo e Século XXPaula MacenaAinda não há avaliações
- Influências do Modernismo na Poesia MarginalDocumento10 páginasInfluências do Modernismo na Poesia MarginalNícolas NardiAinda não há avaliações
- Pré ModernismoDocumento39 páginasPré ModernismoEbiana BorgesAinda não há avaliações
- Corpo, Arte e Filosofia No BrasilDocumento29 páginasCorpo, Arte e Filosofia No Brasilnetunno100% (1)
- O Modernismo Brasileiro e O Rebanho, de Mario de AndradeDocumento9 páginasO Modernismo Brasileiro e O Rebanho, de Mario de AndradewillianqueirozAinda não há avaliações
- Poesia Marginal - Antologia PoéticaDocumento87 páginasPoesia Marginal - Antologia PoéticaGuilherme100% (1)
- Literatura - 3°trimestreDocumento7 páginasLiteratura - 3°trimestrejoaogabrielcpcppcpcAinda não há avaliações
- Teatro No ModernismoDocumento17 páginasTeatro No ModernismoivandelmantoAinda não há avaliações
- Revista Teresa - Dossiê Romance de 30Documento324 páginasRevista Teresa - Dossiê Romance de 30Franklin MoraisAinda não há avaliações
- Realismo: literatura e autoresDocumento3 páginasRealismo: literatura e autoressaulo100% (2)
- A harmonia das forças opostas em Ruy BeloDocumento8 páginasA harmonia das forças opostas em Ruy BeloAdriano CardealAinda não há avaliações
- NEORREALISMO-literatura Brasileira-Ensaio - A SecaDocumento6 páginasNEORREALISMO-literatura Brasileira-Ensaio - A SecaMonica GarciaAinda não há avaliações
- Raizes Do Brasil e o ModernismoDocumento8 páginasRaizes Do Brasil e o ModernismoPaulo KonzenAinda não há avaliações
- Realismo NaturalismoDocumento26 páginasRealismo Naturalismof4bi0oliver4Ainda não há avaliações
- 004 SimbolismoDocumento2 páginas004 SimbolismoMirianAinda não há avaliações
- O Modernismo LiterárioDocumento14 páginasO Modernismo LiterárioGabriela CharleauxAinda não há avaliações
- 4 Antologia PoéticaDocumento10 páginas4 Antologia PoéticajucalimaAinda não há avaliações
- Estilos literários, escolas e períodosDocumento12 páginasEstilos literários, escolas e períodosLarissa LopesAinda não há avaliações
- ATIVIDADE RomantismoDocumento2 páginasATIVIDADE RomantismoSilvio LUISAinda não há avaliações
- Impresso Total Li - bras.III 2016.2Documento146 páginasImpresso Total Li - bras.III 2016.2Arlene VasconcelosAinda não há avaliações
- O Turista Aprendiz - RESENHADocumento12 páginasO Turista Aprendiz - RESENHAJanaina Quetzal100% (1)
- O modernismo em PortugalDocumento7 páginasO modernismo em Portugalnosferato666Ainda não há avaliações
- Panorama da literatura brasileira dos últimos 60 anosDocumento12 páginasPanorama da literatura brasileira dos últimos 60 anosOkmn GtfrAinda não há avaliações
- Resumão Enem LiteraturaDocumento6 páginasResumão Enem LiteraturaLarissaAinda não há avaliações
- Modernismo No Brasil 2° Fase Entrega Dia 13Documento4 páginasModernismo No Brasil 2° Fase Entrega Dia 13juliasouza62277Ainda não há avaliações
- Herói FracassadoDocumento20 páginasHerói FracassadoPaulo de ToledoAinda não há avaliações
- O Labirinto do Brasil Moderno: A Crítica de Arte de 30 a 50No EverandO Labirinto do Brasil Moderno: A Crítica de Arte de 30 a 50Ainda não há avaliações
- pdf70Documento13 páginaspdf70Delano ValentimAinda não há avaliações
- Unidade IV - A Representação Da Morte Na Poesia de Álvares de Azevedo, Cruz e Sousa, Augusto Dos Anjos e Manuel BandeiraDocumento30 páginasUnidade IV - A Representação Da Morte Na Poesia de Álvares de Azevedo, Cruz e Sousa, Augusto Dos Anjos e Manuel BandeiraGilda BBTTAinda não há avaliações
- 838-Texto Do Artigo-5455-3-10-20201223Documento13 páginas838-Texto Do Artigo-5455-3-10-20201223Hi SofAinda não há avaliações
- Oswald de AndradeDocumento9 páginasOswald de AndradeNathhy LimaAinda não há avaliações
- Fabiocesaralves,+00+Em+Torno+Do+Romance+de+30Documento4 páginasFabiocesaralves,+00+Em+Torno+Do+Romance+de+30lueldo.bezerraAinda não há avaliações
- Observações surrealistas sobre religiões afro-brasileirasDocumento21 páginasObservações surrealistas sobre religiões afro-brasileirasTayana BrittesAinda não há avaliações
- O fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNo EverandO fauno nos trópicos: Um panorama da poesia decadente e simbolista em PernambucoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A literatura no Brasil - Relações e Perspectivas - Conclusão: Volume VINo EverandA literatura no Brasil - Relações e Perspectivas - Conclusão: Volume VIAinda não há avaliações
- O cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraNo EverandO cego e o trapezista: Ensaios de literatura brasileiraAinda não há avaliações
- Máscaras da Morte e do Eterno: As Indagações Metafísicas de Mario QuintanaNo EverandMáscaras da Morte e do Eterno: As Indagações Metafísicas de Mario QuintanaAinda não há avaliações
- A literatura no Brasil - Era Realista e Era de Transição: Volume IVNo EverandA literatura no Brasil - Era Realista e Era de Transição: Volume IVAinda não há avaliações
- Jornal Dobrabil: a irreverência poética de Glauco MattosoNo EverandJornal Dobrabil: a irreverência poética de Glauco MattosoAinda não há avaliações
- A Imagem Visual Na Nova HistóriaDocumento13 páginasA Imagem Visual Na Nova HistóriagregooneAinda não há avaliações
- Experiência e Arte ContemporâneaDocumento100 páginasExperiência e Arte ContemporâneagregooneAinda não há avaliações
- Aby Warburg e a herança de uma ciência da culturaDocumento15 páginasAby Warburg e a herança de uma ciência da culturagregooneAinda não há avaliações
- PASCAL+QUIGNARD Da+imagem+que+falta+aos+nossos+dias 2018Documento50 páginasPASCAL+QUIGNARD Da+imagem+que+falta+aos+nossos+dias 2018gregooneAinda não há avaliações
- Hal Foster - Arquivos Da Arte ModernaDocumento12 páginasHal Foster - Arquivos Da Arte ModernaIvair ReinaldimAinda não há avaliações
- O Prazer Do Texto BarthesDocumento35 páginasO Prazer Do Texto BarthesMacioniliaAinda não há avaliações
- A Desconstrução Da Geometria-FabbriniDocumento10 páginasA Desconstrução Da Geometria-Fabbrinigregoone100% (1)
- Antony GormleyDocumento105 páginasAntony GormleyDaniel FrancoAinda não há avaliações
- Montaigne DoscanibaisDocumento6 páginasMontaigne DoscanibaisValdir PrigolAinda não há avaliações
- Dois Diálogos Imaginários - Priscila RufinoniDocumento16 páginasDois Diálogos Imaginários - Priscila RufinonigregooneAinda não há avaliações
- Hal Foster - Arquivos Da Arte ModernaDocumento12 páginasHal Foster - Arquivos Da Arte ModernaIvair ReinaldimAinda não há avaliações
- Cultura, alteridade e linguagens do outroDocumento38 páginasCultura, alteridade e linguagens do outrogregooneAinda não há avaliações
- Ana RodriguesDocumento7 páginasAna RodriguesgregooneAinda não há avaliações
- A noção de texto na semiótica francesaDocumento12 páginasA noção de texto na semiótica francesaUnicaprecifeAinda não há avaliações
- Pintura no Campo Expandido: Gustavo Fares analisa a disciplinaDocumento10 páginasPintura no Campo Expandido: Gustavo Fares analisa a disciplinagregoone100% (1)
- A Desconstrução Com Impossibilidade Utópica DerridaDocumento15 páginasA Desconstrução Com Impossibilidade Utópica DerridaEvaldo GondimAinda não há avaliações
- O Autor Por Um Fio - Miriam ChnaidermanDocumento12 páginasO Autor Por Um Fio - Miriam ChnaidermangregooneAinda não há avaliações
- 3229 7519 1 PBDocumento8 páginas3229 7519 1 PBgregooneAinda não há avaliações
- Ensino do Desenho no Curso SecundárioDocumento24 páginasEnsino do Desenho no Curso SecundáriofelipenotoAinda não há avaliações
- Arte No Pens Amen To de HeideggerDocumento15 páginasArte No Pens Amen To de HeideggergregooneAinda não há avaliações
- Tendências PedagógicasDocumento8 páginasTendências PedagógicasRaquel MagalhãesAinda não há avaliações
- Arte e Geografia, Renata MarquezDocumento8 páginasArte e Geografia, Renata MarquezbabicutlakAinda não há avaliações
- Samuel Taylor Coleridge - A Balada Do Velho MarinheiroDocumento114 páginasSamuel Taylor Coleridge - A Balada Do Velho MarinheiroJoséMarques0% (1)
- Antologia de Poesia ModernaDocumento63 páginasAntologia de Poesia ModernaMirian MuginskiAinda não há avaliações
- A historicidade da poesia moderna segundo BarbosaDocumento11 páginasA historicidade da poesia moderna segundo BarbosaJoanita Bau De OliveiraAinda não há avaliações
- Literatura Na EscolaDocumento27 páginasLiteratura Na EscolaAndrea HulewiczAinda não há avaliações
- Da Poesia À Prosa-Cosac Naify (2007)Documento111 páginasDa Poesia À Prosa-Cosac Naify (2007)Rafael GrigorioAinda não há avaliações
- Ritmo x MetroDocumento19 páginasRitmo x MetroEdylene Daniel SeverianoAinda não há avaliações
- O Grau Zero Da EscrituraDocumento6 páginasO Grau Zero Da EscrituraAlfredo Christofoletti100% (2)
- O Poeta Moderno: Baudelaire e a Perda da Auréola DivinaDocumento8 páginasO Poeta Moderno: Baudelaire e a Perda da Auréola DivinaWeber WagnerAinda não há avaliações
- Editado - Poesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxDocumento6 páginasEditado - Poesia e Ideologia - Otto Maria CarpeauxleandrodinizAinda não há avaliações
- Anunciação e encontro de Mira-Celi: mito e poesia na lírica final de Jorge de LimaDocumento11 páginasAnunciação e encontro de Mira-Celi: mito e poesia na lírica final de Jorge de LimaLuciano Dias CavalcantiAinda não há avaliações
- Textos Da Oficina PoéticaDocumento55 páginasTextos Da Oficina Poéticaapi-3833129100% (2)
- Exercícios sobre o Modernismo BrasileiroDocumento4 páginasExercícios sobre o Modernismo BrasileiroFlavianaSantosAinda não há avaliações
- MELO NETO, João Cabral de - ProsaDocumento141 páginasMELO NETO, João Cabral de - ProsaFernanda DrummondAinda não há avaliações
- Não há vagasDocumento2 páginasNão há vagasKellySantanaAinda não há avaliações
- Contra a interpretação excessiva da arteDocumento9 páginasContra a interpretação excessiva da arteKamila Evan100% (1)
- Vozes insurgentes no poetry slam e a reexistência social da poesia periféricaDocumento24 páginasVozes insurgentes no poetry slam e a reexistência social da poesia periféricaPaulo BenitesAinda não há avaliações
- Conceito de Tradição Da RupturaDocumento7 páginasConceito de Tradição Da RupturaKindzumocambiqueAinda não há avaliações
- O Resgate Das Ciencias Humanas2016 Vol 4Documento736 páginasO Resgate Das Ciencias Humanas2016 Vol 4Kesia RamosAinda não há avaliações
- Corpo grotesco na poesia de Anjos, Sá-Carneiro e VelardeDocumento239 páginasCorpo grotesco na poesia de Anjos, Sá-Carneiro e VelardeMauricio de AssisAinda não há avaliações
- Rimbaud e a ruptura com a poesia tradicional nas IluminaçõesDocumento3 páginasRimbaud e a ruptura com a poesia tradicional nas IluminaçõesCaio SoutoAinda não há avaliações
- Questões Vanguardas e Pré-ModernismoDocumento5 páginasQuestões Vanguardas e Pré-ModernismoEduarda MachadoAinda não há avaliações
- Poesia Hermética BrasileiraDocumento332 páginasPoesia Hermética BrasileiraBruno MaltaAinda não há avaliações
- BAUDELAIRE E A CIDADE MODERNADocumento17 páginasBAUDELAIRE E A CIDADE MODERNAGabriela BalbiAinda não há avaliações
- Processo criativo de Mário FaustinoDocumento243 páginasProcesso criativo de Mário FaustinoJurema AraujoAinda não há avaliações
- Parnasianismo Simbolismo PDFDocumento24 páginasParnasianismo Simbolismo PDFdudu françaAinda não há avaliações
- A Essência Da PoesiaDocumento40 páginasA Essência Da PoesiaDenis Moura de QuadrosAinda não há avaliações
- Arte inútil e livre segundo Paulo LeminskiDocumento4 páginasArte inútil e livre segundo Paulo LeminskiwillianqueirozAinda não há avaliações
- Uma viagem pelas imagens de Emílio MouraDocumento205 páginasUma viagem pelas imagens de Emílio MouraRonairGamaAinda não há avaliações
- Rimbaud e A Comuna de Paris - Vanessa AneliseDocumento7 páginasRimbaud e A Comuna de Paris - Vanessa Anelisemaria_vida2596Ainda não há avaliações