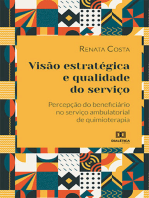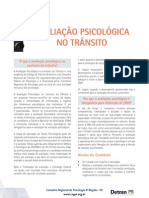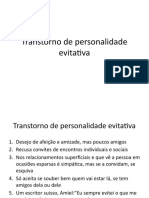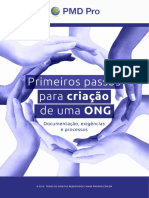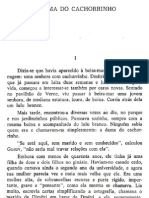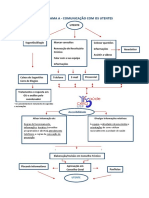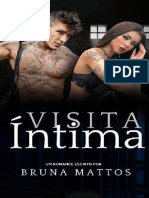Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Cotidiano Do Usuario Do Caps - Empoderamento Ou Captura
O Cotidiano Do Usuario Do Caps - Empoderamento Ou Captura
Enviado por
Bruno BortoliniDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Cotidiano Do Usuario Do Caps - Empoderamento Ou Captura
O Cotidiano Do Usuario Do Caps - Empoderamento Ou Captura
Enviado por
Bruno BortoliniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O COTIDIANO DE USURIOS DE CAPS:
EMPODERAMENTO OU CAPTURA?+
Rafael de Albuquerque Figueir++
Magda Dimenstein+++
RESUMO
A reforma psiquitrica tem investido na criao de servios e qualificao tcnica.
Consideramos que a ateno tcnica/especializada tem limitaes para atender
diversas demandas dos usurios e muitas formas de cuidado podem ser produzidas
entre os mesmos. Este artigo discute a ajuda mtua e o empoderamento entre
usurios de CAPS na perspectiva de ressaltar essa dimenso instituinte da
reforma. Fazendo uso da entrevista e da observao participante percebemos
que o modo de funcionamento e a gesto dos CAPS, bem como a concepo
teraputico-clnica da equipe, tendem a barrar as possibilidades de ajuda mtua
entre os usurios, dificultando o empoderamento dos mesmos.
Palavras-chave: Reforma psiquitrica; ajuda mtua; empoderamento; CAPS.
THE DAILY LIFE OF USERS OF CAPS:
EMPOWERMENT OR CAPTURE?
ABSTRACT
The psychiatrist reform has invested in service creation and the qualification of
the technicians. We believe that attention specialist has limitations to meet various
demands of users and many forms of care can be produced among the users. This
article discusses the mutual aid and empowerment among users of CAPS investing
in this dimension of instituting reform. Making use of mapping and participant
observations, we see that the mode of operation and management of CAPS, and
the design of therapeutic and clinical technical team, they tend to spread the
opportunities for mutual support among users, making the empowerment of those.
Keywords: Psychiatrist reform; mutual help; empowerment; CAPS.
Agradecimento ao CNPq que financiou essa pesquisa por meio de bolsa de Mestrado concedida
ao primeiro autor.
++
Psiclogo, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, pesquisador
da rea de sade coletiva.
E-mail: rafaelpsiufrn@hotmail.com
+++
Professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Pesquisadora do CNPq. Doutora em Sade Mental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Endereo: UFRN, CCHLA, Dept de Psicologia, Campus Universitrio, Lagoa Nova, Natal/
RN. CEP 59.078-970.
E-mail: magda@ufrnet.br
+
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
INTRODUO
O processo de reforma psiquitrica brasileira tem tido avanos significativos
nas ltimas dcadas. Podemos perceber investimentos em equipamentos, recursos
humanos e polticas de ateno em sade mental. Porm, o desafio que se coloca
na atualidade diz respeito ao aumento da participao dos usurios nesse processo.
Como torn-los protagonistas do processo de reforma psiquitrica? Levando em
considerao que a ateno profissional no atende s diversas questes presentes no cotidiano dos usurios (necessidades culturais, de lazer, econmicas etc.),
acreditamos ser necessrio investir mais fortemente em novas estratgias e atores
capazes de agenciar foras instituintes1 a esse movimento, como os usurios, por
exemplo, para que se possa alavancar o processo de reforma psiquitrica, no s
em nvel de uma ateno tcnica/especializada, mas no que diz respeito a uma
maior participao e empoderamento2 desses sujeitos (Vasconcelos, 2008).
Este artigo apresenta os resultados da pesquisa de mestrado que discute
o papel dos CAPS no empoderamento dos usurios. Aqui pretendemos focar na
dinmica de tais servios substitutivos e na possibilidade de ajuda mtua3 entre
os usurios e consequente empoderamento dos mesmos. Utilizando a observao
participante do cotidiano dos servios e de entrevistas, a pesquisa buscou investigar possveis prticas de ajuda mtua entre usurios, bem como o contexto em
que ocorrem e os efeitos na vida dos usurios. Alm disso, auxiliado pela metodologia das rodas de conversa (AFONSO; ABADE, 2008), buscamos captar a
postura dos profissionais perante a tais atitudes.
CONSIDERAES TERICO-METODOLGICAS
Na inteno de mapear as diversas foras, intensidades e relevos presentes no cenrio da pesquisa, bem como sua relao com o pesquisador,
definimos a cartografia enquanto mtodo-guia em nossa insero no campo. A
cartografia, antes de ser um mtodo, se situa como uma discusso metodolgica, propondo uma revalorizao da dimenso subjetiva em pesquisa (KIRST
et al., 2003). Nesse sentido, o trabalho de campo consistiu prioritariamente
na observao sistemtica do cotidiano de dois CAPS II e na conversa com
tcnicos e usurios dos servios. As observaes foram realizadas entre os
meses de dezembro de 2008 e maro de 2009.
As equipes participantes desse processo de pesquisa eram compostas
por vigias, terapeutas ocupacionais, educador fsico, auxiliar de servios gerais
(ASG), auxiliares administrativos, psiclogas (sendo que uma exercia o cargo
de coordenadora e a outra realizava a dupla funo de psicloga e administradora), enfermeiras, psiquiatras, arte-educadora, farmacutico, auxiliares de
farmcia, nutricionista, tcnicos de enfermagem. Alm disso, profissionais que
trabalhavam na cozinha, prestando servio por meio de empresa terceirizada.
Ao todo foram observados 32 turnos (por turno entendemos uma manh ou uma
tarde), distribudos da seguinte forma: 15 turnos pela manh e dois tarde no
432
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
CAPSa; 13 turnos pela manh e dois tarde no CAPSb. Alm disso, participamos de 22 reunies de equipe, sendo 12 no CAPSa e dez do CAPSb e trs
assembleias (duas no CAPSa e uma no b).
Nossa participao consistiu da presena nas oficinas (muitas vezes realizando, juntamente com os usurios, as atividades propostas); nas assemblias que
reuniam usurios, tcnicos e familiares; nos momentos das refeies e de intervalo
entre uma oficina e outra, quando partilhvamos de conversas e dilogos informais
com alguns usurios e, s vezes, com tcnicos. Alm desses momentos referentes
dinmica interna do servio, foi possvel acompanhar algumas aes externas como
passeios, bem como alguns eventos comemorativos, dentro e fora dos CAPS.
Por fim, foi proposta uma roda de conversa4 com os tcnicos dos servios (ao
todo ,participaram nove tcnicos do servio), permitindo que esses agentes expusessem seus discursos, j que por meio desses que uma instituio pode ser analisada (ALTO, 2004). Essa atividade girou em torno da temtica da ajuda mtua
entre os usurios, tentando perceber como os tcnicos se posicionam diante dessa
questo, alm de promover uma devoluo equipe dos resultados da pesquisa. As
rodas de conversa consistiram, pois, em um tipo de dispositivo que prtendeu criar
condies de dilogo entre os participantes, propiciando um momento de escuta
e de circulao da palavra (AFONSO; ABADE, 2008), promovendo a reflexo e
discusso sobre um determinado tema. Mais importante do que transmitir informaes/concluses, interessava provocar discusses sobre questes pontuais.
RESULTADOS/DISCUSSO
Nossas observaes do cotidiano dos usurios nos CAPS indicaram a falta
de prticas de ajuda e/ou suporte mtuo entre os usurios. As poucas iniciativas
que observamos se deram de forma bastante pontual, geralmente no momento das
refeies em relao a algum usurio que apresentava determinada dificuldade de
realizar uma tarefa sozinho. Na tentativa de compreender este fenmeno, percebemos que a dinmica dos servios, em particular a heterogesto das atividades
e a concepo de teraputico-clnica que norteia profissionais e servios, tende a
barrar possveis articulaes entre os usurios, dificultando atitudes de ajuda mtua e empoderamento.Tentaremos, a seguir, discutir esses dois eixos de anlise.
1. HETEROGESTO DO COTIDIANO
A desarticulao vista no CAPS pode, talvez, ser explicada pelo modo
como esse equipamento opera e intervm na vida cotidiana dos usurios. A sua
dinmica serve para refletir sobre a apatia e a desarticulao vista entre seus
usurios. Nesse sentido, um primeiro ponto a ser explorado aqui diz respeito
heterogesto que, no CAPS, acaba fazendo funcionar um dispositivo de poder e,
consequentemente, de saber, sobre aquele coletivo.
Ao fazermos uma retrospectiva histrica percebemos que tal modo de
funcionamento vem ganhando espao na sociedade. Particularmente na idade
moderna, a figura do especialista / expert se destaca, passando a ocupar lugar
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
433
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
central nas tomadas de deciso e na gesto dos coletivos. Os problemas que antes
pertenciam ao cotidiano de determinado grupo, e por este eram resolvidos, passam a ser da alada de determinados profissionais que, por meio da legitimao
do fazer cientfico, tm seu saber/fazer validado (BAREMBLITT, 1992). nesse
sentido, que a anlise institucional advoga a favor da autoanlise e autogesto
dos/nos coletivos (em oposio heterogesto), acreditando na capacidade que
estes tm de administrar suas prprias demandas, favorecendo, ou fazendo com
que sejam mais bem- sucedidos os processos revolucionrios. nesse sentido
que colocamos em discusso a questo da heterogesto.
A posse dos meios de regulao e funcionamento do servio, ou seja,
o controle sobre a vida cotidiana dos usurios um elemento que opera um
dispositivo de gesto de suas vidas, pelo menos enquanto usurios do servio,
que muitas vezes, age na direo da desarticulao e do enfraquecimento desse
coletivo. O que se percebe nos CAPS pesquisados uma estrutura rgida, um
funcionamento esttico e definido pelos tcnicos, quando so os usurios quem
deveriam ter maior possibilidade de gesto e inveno das atividades, j que
so as suas vidas que esto em jogo.
Durante a realizao de nossas observaes nos deparamos com um momento em que os tcnicos propuseram se reunir para planejar as oficinas, repensar
o que vinha acontecendo at ento, pensar outras estratgias para avanar nos projetos teraputicos de cada usurio. O servio estava vazio, sem usurios e essa seria
a condio durante toda a semana. Segundo a coordenao, o servio fecharia as
portas aos usurios e faria apenas expediente interno. Nestes dias de planejamento,
andamos pelos corredores, percebemos o silncio, sentimos falta dos usurios,
do burburinho, das risadas, do cheiro de cigarro. Como pensar o cotidiano de um
equipamento em condies irreais? Irreal no sentido de extracotidiano, j que tal
conjuntura, a presena exclusiva de tcnicos, no faz parte da realidade de um
CAPS, e, em nossa opinio, nem deve fazer. Um equipamento de sade s tem
sentido com a presena de seus usurios, principais atores (ou pelo menos assim
deveria ser) daquele espao. Tal concentrao de poder na figura do tcnico tem
sido apontada por autores como Vieira Filho e Nbrega (2004), colaborando para
a manuteno das relaes de tutela diante da loucura, o que nos provoca enorme
incmodo enquanto pesquisadores e militantes da reforma psiquitrica.
O incmodo se justifica tambm por acreditarmos que aquelas pessoas possuem um saber valioso sobre suas situaes de vida (VASCONCELOS, 2003),
sendo capazes de coloc-los em prtica em seus cotidianos para pensar no s
sua condio de sade e respectivo tratamento como em suas prprias vidas. A
proposta da ajuda e dos grupos de ajuda e suporte mtuos,5 por exemplo, poderia favorecer o empoderamento desses sujeitos (VASCONCELOS, 2003). Tais
assertivas encontram amparo em diversos autores que defendem que determinados coletivos, em particular aqueles compostos por sujeitos que vivem uma
mesma problemtica, possuem um potencial de ajuda e melhoria da qualidade de
vida de seus integrantes (ROOM, 1998; DESSEN; BRAZ, 2000; DAVISON et
al., 2000; JAPUR; GUANAES, 2001; RASERA; JAPUR, 2003; ROEHE, 2004;
PINHEIRO, et al., 2008; CHIEN et al., 2008; OLIVEIRA et al., 2008).
434
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
Acrescente-se a isso que as pessoas encarregadas de gerir o cotidiano dos
servios e, por que no, a vida dos usurios, so profissionais de diversas reas,
cada vez mais especializados (seguindo as exigncias do mercado) agindo de
formas cada vez mais especficas e sobre recortes da realidade cada vez mais distantes da realidade cotidiana daqueles sujeitos (YASUI; COSTA-ROSA, 2008).
Dessa forma, o que acontecia ali era a invalidao da capacidade dos usurios
de pensarem seus cotidianos, refletirem sobre seu prprio tratamento, em ltima
instncia, gerirem sua prpria existncia. O usurio encontrava-se ali infantilizado diante de seu processo de tratamento (YASUI; COSTA-ROSA, 2008), o que
dificulta qualquer posio de autonomia e empoderamento perante questes que
dizem respeito sua vida. Segundo Guattari (1986, p. 41), esse processo de infantilizao seria uma das funes mais importantes do processo capitalstico de
subjetivao: Pensam por ns, organizam por ns a produo e a vida social. A
infantilizao consistiria na necessidade de mediao pelo Estado de toda e qualquer iniciativa e pensamento, construindo, assim, uma relao de dependncia
dos indivduos diante dos aparelhos do Estado. Dependncia essa que uma das
caractersticas essenciais da subjetividade capitalstica (GUATTARI, 1986).
Nesse sentido, defendemos um modo de funcionamento do servio que
seja mais flexvel, mais permissivo possibilidade de co-gesto dos CAPS por
seus usurios, permitindo ,assim, que estes se apropriem desses dispositivos, (re)
criando-os e criando condies de funcionamento que atendam da melhor maneira possvel suas demandas.
Para perceber como esse planejamento das oficinas se situou bem distante
dos desejos e da realidade dos usurios, cabe aqui retomarmos a pergunta feita
por uma usuria do CAPS: Por que essa mudana nas oficinas?. A resposta
dada pelo tcnico tambm serve de analisador: porque ns pensamos em
propor algumas coisas novas..., segundo nossa concepo, era necessrio fazer
algumas mudanas. (grifo nosso). Vale lembrar que a terceira pessoa do plural, aqui, diz respeito somente equipe tcnica. Isso mostra de onde partiram as
mudanas, bem como torna visvel algumas linhas de fora que colaboram para
a manuteno de determinadas prticas, que se atualizam, muitas vezes, bem distantes das posies dos usurios.
A heterogesto no se faz presente somente no planejamento das oficinas.
Na realizao destas tambm percebemos um modo de funcionamento que tende
a anular qualquer possibilidade de interveno / gesto por parte dos usurios. Tal
processo de invalidao de um saber/discurso, de um modo de ser e de inventar
o cotidiano se d no de uma forma declarada, por meio das instituies, leis e
polticas que norteiam os CAPS, mas micropoliticamente, nos discursos, olhares,
nas brechas do cotidiano, enfim, pequenos acontecimentos (cotidianos, muitas
vezes) que servem de analisadores de um conflito de foras.
Em um determinado momento de nossa insero nos servios, participamos
da oficina Quem sabe canta, em um dos CAPS. A dinmica da oficina bem interessante e os usurios participam efetivamente da proposta, de maneira bastante
espontnea, at os tcnicos intervirem e regularem a atividade. Eles controlam o
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
435
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
tempo que se usa pra cantar, chegando at mesmo a desligar o microfone em certa
ocasio. Em outra, um usurio interrompido ao tocar pandeiro, para no atrapalhar a msica do outro. Concordando com Yasui e Costa-Rosa (2008, p. 32),
acreditamos que tal postura coloca os sujeitos (equipe tcnica e usurios) em:
[...] um lugar de sujeio, produo e reproduo
de subjetividades enquadradas, conformadas e bemcomportadas: produo de afetos tristes, renncia
potencialidade criativa, ao desejo, autonomia.
Se o funcionamento de uma oficina est conectado com o ritmo e funcionamento dos tcnicos, de se esperar, e at fcil de compreender, o que diariamente
se v nos servios: usurios sem vontade de participar das oficinas, sendo muitas
vezes induzidos com insistncia a participar das atividades. Isso quando no esto dormindo. Em uma manh de observao em um dos CAPS, de doze usurios
presentes, seis dormiam. Fato que nos faz pensar sobre a pertinncia daquelas
atividades, bem como sobre a (des)conexo com o desejo/vida dos usurios.
Outro ponto que chamou a ateno, em ambos os CAPS, foi o modo como
ocorrem as assembleias, que geralmente renem tcnicos, usurios e familiares
para discutir algum assunto ou passar algum informe. Participamos de uma dessas assembleias. Ao comear a reunio, Ana6 (coordenadora do servio) pas-
sou alguns informes: sada de Dr. G, falta de gua e carnaval. Quanto a
este ltimo, foram-lhes dadas duas alternativas: na rua ou no iate club...
Atentamos questo do poder poltico de uma assembleia, da importncia
de uma tomada de deciso democrtica... Os usurios queriam realmente
comemorar o carnaval? De que forma? Por que os usurios no pensaram
em seu prprio carnaval, nas suas prprias alternativas para o evento? O
que se viu foi a votao em torno de duas possibilidades j prontas, que
sequer envolveram a participao dos usurios em sua proposio, em sua
formulao... rua, praia, shopping etc. Ou talvez no prdio na Prefeitura
de Natal, onde se poderia, talvez, aproveitar essa manifestao do carnaval
para expor algumas reivindicaes, descontentamentos etc.
Ana falou ainda em gesto horizontal, coletiva, onde todos os tcnicos teriam a mesma possibilidade de voz e atuao, sem distino por
categoria. Mas, como pensar tal horizontalidade em um servio em que o
psiquiatra o nico a trabalhar apenas um dia na semana?
Dialogando com Chau (1986) percebemos que o conceito de Comunicao de Massapode ser-nos til para pensar sobre o modo como
as assembleias (e as prprias relaes nos CAPS) acontecem. Segundo a
autora, a comunicao de massa tem como pilar central o pressuposto de
que tudo passvel de ser dito, comunicvel, desde que fique claro quem
pode dizer e quem pode ouvir. O que presenciamos na assembleia h pouco mencionada em que se discute sobre algumas propostas previamente
colocadas pela coordenao, nada mais do que a comunicao de massa
posta em prtica. Cria-se um espao irreal, em que h a iluso de pertencer
436
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
a um grupo (homogneo e transparente), tal qual o ns, brasileiros, ns
telespectadores (CHAU, 1986, p. 31) e, ousaria dizer, o ns, usurios,
mascarando o fato de que os emissores autorizados a falar so os especialistas (tendo em vista os conhecimentos que o autorizam a falar). Ao
contrrio dos receptores autorizados, que tm a permisso de falar:
[...] como opinador ou como contraditor, com direito a
aceitar ou recusar, julgar e avaliar, interpretar o que recebeu,
mas no interior do espao definido previamente pela prpria
estrutura da emisso (CHAU, 1986, p. 31).
Nesse sentido, os usurios so convidados a participar dos processos decisrios no como sujeitos ativos, construtores de suas realidades, mas como espectadores passivos do processo de gesto do servio e, talvez, de suas prprias vidas.
2. A CONCEPO TERAPUTICO-CLNICA
Outro elemento importante para se pensar a desarticulao dos usurios do
CAPS a proposta e o modo como opera o que se chama de clnica das psicoses. Muitas das atitudes dos profissionais do CAPS (em particular dos profissionais psi) so em nome de um projeto teraputico, ou de uma concepo do que
seja teraputico neste servio. Nesse sentido, ao falar em clnica nesse momento,
referimo-nos a uma srie de dispositivos e posturas que se articulam com a ideia
de um projeto teraputico, ou com uma finalidade teraputica para o sujeito.
Nas reunies de passagem (que acontecem entre um turno e outro de trabalho, com toda a equipe, discutindo questes organizacionais, ou referentes aos
projetos teraputicos de cada usurio) surgiram alguns elementos para se pensar
esse fenmeno. Ao discutirem sobre o contrato de uma usuria, decidiram por
reduzi-la (termo usado pela equipe tcnica para designar uma reduo na frequncia com que o usurio deve vir ao servio) a dois dias, que no coincidissem
com os dias de um outro usurio, que lhe bastante prximo. Segundo a coordenao, a inteno fazer com que ela se desligue mais facilmente do servio, j
que eles esto prximos demais. A nosso ver, planejam a despotencializao do
coletivo. Pareceu-nos uma grande reunio de gestores, tentando gerir, no s o
servio, mas a vida de algumas pessoas, que se encontram em uma clara posio
de inferioridade hierrquica.
Essa atitude tem espao por se dar em nome de uma proposta teraputica,
de uma determinada concepo de clnica para aqueles sujeitos. Ento, se o objetivo do CAPS promover a alta do paciente e, se este se prende ao servio por
possuir vnculos de amizade, estes vnculos se tornam agora um inimigo a ser
combatido. Antes de se pensar em sade, o que acontece aqui a produo de
sofrimento, alm da desarticulao e enfraquecimento daqueles sujeitos, o que
dificulta qualquer prtica com sentido de ajuda ou suporte mtuo.
A clnica, termo que vem do grego klinus e significa leito ou cama, abarcando o sentido de inclinar-se sobre o outro, dia-a-dia, promovendo cuidados
(AMARANTE, 2009, online), adquire, aqui, o sentido de controle, tutela. InclinaFractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
437
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
se sobre o doente, mas com uma visvel superioridade de poder, inclinando-se
sobre algum que se encontra abaixo, como bem afirmou Ribeiro (2008). O que
antes visava sade, agora provoca sofrimento e despotencializao. Percebe-se,
aqui, a fora da instituio Psi e sua relao com as foras instituintes (neste
momento bastante enfraquecidas). E aqui, tambm, os mecanismos de enfraquecimento so sutis, porm visveis. Algumas semanas depois, em uma assembleia
realizada com usurios, tcnicos e familiares, uma usuria questionou o fato de
alguns usurios terem sido separados, acreditando ser proposital, e descontente,
acusou a coordenao, que, naquele momento negou o fato, alegando que se tratava apenas de questes administrativas.
Dado esse contexto, podemos pensar que a clnica, aqui, serve como dispositivo de manuteno do institudo. Baremblitt (1992) j nos alertava sobre a
tendncia presente nas instituies, de manterem a ordem estabelecida, barrando
qualquer movimento de carter instituinte. Tendncia esta, que, levada ao extremo, ocasiona atitudes de represso, de microfacismos, como esta percebida na
dinmica do CAPS em questo.
Pensemos no que significa o encontro entre dois usurios. A potencialidade
deste acontecimento est no encontro entre pessoas, no encontro subjetivo, e nos
infinitos agenciamentos que tal encontro pode provocar. Plbart (2003) j discutia sobre a potncia contida no coletivo, particularmente na forma de multido
(na qual a introjeo da lei, da norma, no se faz presente), em detrimento da de
povo (entendido como coletivo institucionalizado em forma de regras, obedincia
etc.). A multido proporciona o encontro de foras. Foras essas que se articulam no sentido de romper barreiras, transpor limites, satisfazendo sua avidez
conquistadora (PLBART, 2003, p. 72). Nesse sentido, percebe-se a potncia
contida no encontro e agenciamentos entre pessoas. E , aqui, podemos pensar a
subjetividade, inerente a esses encontros, como:
[...] uma fora viva, at mesmo uma potncia poltica.
Pois as foras vivas presentes na rede social, com sua
inventividade intrnseca, criam valores prprios, e
manifesta, sua potncia prpria. o que alguns chamam de
potncia de vida do coletivo, sua biopotncia. um misto
de inteligncia coletiva, afetao recproca, produo de
lao (PLBART, 2003, p. 73).
a favor dessa potncia de vida do coletivo que se deve pensar os encontros entre os usurios do CAPS. Acreditar que tal agenciamento capaz de
provocar mudanas significativas no cotidiano, tanto dos usurios quanto do prprio servio, um elemento que deve estar presente na proposta teraputica dos
CAPS. Se o encontro com um colega, amigo, um dos elementos que motiva os
usurios a frequentarem o servio, porque deixar de lado (ou at mesmo se opor
a) essa questo? Se esses encontros so fontes de satisfao, alegria por parte dos
usurios, por que pensar uma clnica distante disso? Conforme assinalaram Brda
e Augusto (2001), as amizades podem sim, se configurar enquanto importante
recurso teraputico para os usurios.
438
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
Alis, ainda nessa direo, Plbart (2003) defende exatamente que so
esses laos, produtores de alegria, que se constituem enquanto dispositivos polticos, atuando a favor da potncia dos coletivos. Esta seria a funo poltica da
alegria para esse autor. O que Plbart pretende, influenciado principalmente por
Gabriel Tarde, articular a ideia de multido funcionando principalmente pelo
dispositivo da alegria. Alegria essa, presente nos encontros, nas articulaes, produtora de potncia e inveno dos/nos coletivos:
A multido [...], plural, centrfuga, ela foge da unidade
poltica, ela no assina pactos com o soberano, ela no
delega a ele direitos, ela resistente obedincia. [...] Ora,
com a desagregao das classes sociais e a emergncia de
um proletariado imaterial, ou intelectualidade de massa, que
trabalha com informao, com programao, com imagens,
com imaginao, essa pluralidade de crebros e afetividade
conectadas em rede, um certo carter da riqueza coletiva
vem tona (PLBART, 2003, p. 76).
Nesse sentido, nossas impresses iniciais no CAPS, quando nos deparamos com a imobilidade, monotonia e falta de vida daquele cotidiano, talvez se
expliquem justamente pela falta de articulao entre os usurios, o que refora
a ideia de que a alegria e a potncia dos encontros podem ser elementos importantes e produtores de vida, o que faz com que pensemos na importncia de uma
mudana nessa direo, no que diz respeito ao funcionamento deste servio. Fazer do CAPS um espao favorvel ao encontro, produo de potncia nos/dos
usurios, deve estar presente tambm na concepo teraputica deste servio.
A concepo teraputico-clnica presente no servio parece ser importante
para nortear tambm outras questes. Em uma das reunies de equipe que participamos surgiu o caso do esposo de uma usuria que s vezes fica nervoso tornando-se agressivo, chegando a agredir os filhos. Alguns profissionais sugerem
uma comunicao ao Conselho Tutelar, ou algum outro encaminhamento nesse
sentido. A psicloga deste servio, porm, defende que a postura do CAPS deve
ser a de um servio de sade: escuta, atendimento, psicoterapia. Descarta assim, a possibilidade de articulao com outros servios e setores da sociedade.
Concepo, em nossa opinio, bastante limitada do que seria sade.
A prpria proposta da EAPS (Estratgia de Ateno Psicossocial) exige
que superemos essas ideias que sustentam o paradigma mdico-organicista, e
afirmemos outros valores, que sejam capazes de construir novos paradigmas que
concebam a doena como um processo complexo, atravessado por questes de
diversas ordens, e que exigem uma ateno inter/transdisciplinar e, principalmente, intersetorial, atuando a favor de um cuidado em rede (YASUI; COSTAROSA, 2008). Alm desses autores, podemos trazer aqui mais uma vez, Vieira
Filho e Nbrega (2004), quando afirmam a importncia da prtica teraputica
territorial extrapolar o consultrio, fortalecendo a ideia de uma rede comunitria
de servios, para tentar atender a maioria das demandas existentes. Rede esta que
no se faz presente na concepo de sade da psicloga supracitada.
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
439
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
Uma apreenso da sade descolada do contexto social, de questes polticas, econmicas, culturais etc., tende a centrar no sujeito (individual, privado)
e em suas queixas ou sintomas toda a ao teraputica. importante atentarmos
para o fato de que, no mbito da reforma psiquitrica, tal proposta clnica contribui muito pouco para o avano do movimento. O que buscamos, nessa luta por
outra relao com a loucura, uma clnica que possa atuar a favor da cidadania,
da ampliao de conquistas polticas, de mudanas culturais na sociedade para
que se rompa com a excluso imposta loucura, enfim, por uma sociedade e por
relaes sociais mais justas.
Quando Basaglia (1985) realizava assembleias com os pacientes do Hospital Psiquitrico de Gorizia, na Itlia, discutindo questes referentes poltica,
cultura e a questes internas ao hospital, ele estava, sim, fazendo clnica. Quando
Pichn-Riviere, aps uma greve dos funcionrios do Hospital de Las Mercedes,
na Argentina, organizou os pacientes para que pudessem tocar adiante o cotidiano daquele manicmio (BAREMBLITT, 1989), ele estava, sim, fazendo clnica.
Precisamos nos dar conta de que a reforma psiquitrica exige que a clnica saia
dos espaos institudos de seu exerccio, que se arrisque a produzir movimentos
diversos na sociedade, enfim, que seja uma clnica nmade.
Podemos pensar a clnica nmade como aquela que se ocupa de espaos
adjacentes aos j tradicionais espaos destinados clnica, pensando sempre em
construir modos de existncia no doente (ROLNIK, 1997, p.84). Trata-se no
s de ocupar-se com outros espaos, no sentido concreto, espacial do termo, mas
de navegar por entre linhas de tempo, compreendendo estas enquanto uma certa
conjuntura de foras que se concretizam em um certo modo de existncia. Nesse
sentido, interessa a essa perspectiva clnica produzir novos modos de subjetivao, de existncia, principalmente por entender a sade enquanto fluidez desse
processo, ao passo que a doena consistiria no emperramento do mesmo. O profissional norteado por essa perspectiva deve acreditar na capacidade de experimentao como prtica capaz de compor novas redes, provocar mudanas de
rota na vida dos loucos, fazendo-os comporem novos modos de vida, ou fazendo
com que novos territrios ganhem consistncia, para que possam atualizar certas
linhas de fora, de desejo, criando uma sade possvel. (ROLNIK, 1997). Mais
do que se ater a determinados modelos tericos, a clnica nmade deve ter como
norte uma perspectiva tica, a saber, a de:
[...] aliar-se s foras da processualidade, buscando
meios para faz-las passar, j que isto condio para
a vida fluir e afirmar-se em sua potncia criadora [...]
(ROLNIK, 1997, p. 92).
nesse sentido que afirmamos um outro modelo de clnica para a reforma
psiquitrica. Precisamos de uma clnica que se permita inventar, que consiga ser
plural, articulando diversas instncias e saberes (SCHMID, 2007).
440
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
A dificuldade de se colocar a favor do paradigma psicossocial est tambm
expressa na fala de Xaolin, psiquiatra de um dos servios, quando este comunica
que est saindo do CAPS e indo para o Ambulatrio de Sade Mental porque, segundo ele, no CAPS no h espao para fazer um servio de psiquiatria mesmo.
Xaolin, por defender a clnica no sentido clssico, de consultrio, observao
dos sintomas, diagnsticos etc., sente dificuldade de se adaptar proposta de um
servio substitutivo. Ressalta, muitas vezes, em sua fala, a importncia do aprendizado clnico que o consultrio permite, por meio da observao dos sintomas, o
contato com as patologias, etc. Infelizmente, tal postura acaba sendo reforada
pelos usurios, que valorizam a terapia medicamentosa como principal recurso
psiquitrico, conforme apontou o trabalho de Mostazo e Kirschbaum (2003). Obviamente, no se trata aqui de perceber isso enquanto uma postura individual dos
usurios, culpabilizando-os perante uma situao, que, como sabemos, fruto de
uma construo histrica bastante particular.
A concepo de clnica apresentada pelo psiquiatra do CAPS nos remete
a uma ideia de subjetividade, de psiquismo concebido como algo particular, interno. Tal ideia de psiquismo no recente. Principalmente na modernidade, a
ideia de uma subjetividade privada, de uma dimenso psquica calcada na interioridade identitria, se constri e se consolida no mbito das cincias humanas,
fundando um determinado modo de conceber a clnica, o que tornou possvel uma
episteme do particular (RIBEIRO, 2008, p. 88).
Foi essa clnica do particular que, principalmente a partir da modernidade,
se constituiu enquanto pilar fundamental de uma nova forma de controle sobre os
sujeitos, agora no mais atrelada ao poder de vida e morte exercido pelo soberano,
mas sustentada num conjunto de saberes capazes de produzir e modular subjetividades, alm de ordenar o cotidiano. No s a justia, mas tambm a cincia, incluindo aqui a psicologia, se incumbem deste papel (ROMAGNOLI, 2006). Porm,
Romagnoli (2006) nos convoca a pensar no s no poder que esses saberes articulam no controle da vida, mas na potncia contida na vida em resistir a esse poder.
Potncia das subjetividades de, a partir da inveno e do acontecimento, virarem o
jogo, num dispositivo poltico de resistncia. Deleuze (1988, p. 99) nos diz: A vida
se torna resistncia ao poder quando o poder toma como objeto a vida.
Nesse sentido, o que Romagnoli (2006) prope uma clnica articulada
a esses princpios de resistncia, agindo pelo princpio do acontecimento, que
provoca agenciamentos, rupturas com as foras repressoras institudas trazendo o
novo, a inveno. E justamente nos encontros, no entre, que o acontecimento
tem a possibilidade de se atualizar, passar do plano da potncia para o plano do
concreto, inventando, resistindo (ROMAGNOLI, 2006, p. 51).
Criticando a clnica social que, muitas vezes, opera de maneira a-histrica, adaptando subjetividades ao modo de ser dominante e psicologizando a vida
cotidiana, a autora defende uma proposta clnica, social, que atue provocando
acontecimentos, conexes, acreditando na singularidade dos territrios existenciais, articulando potncias. Clnica esta que de qualquer lugar, qualquer
clientela, uma clnica nmade, que se exerce deixando um pouco de lado nosso
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
441
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
aparato tcnico psi, acreditando no acaso, possibilitando contato e acreditando na potncia da diferena. Mais uma vez nos deparamos com argumentos
que nos convocam a acreditar nos encontros, na possibilidade de inveno. Para
isso, faz-se necessrio perceber em ns e em nossos sujeitos-clientes as foras
que paralisam, emolduram e aquelas que fazem a inveno, a resistncia, a
alegria, potencializando-as. Resistir para inventar. Isso o que a clnica exige
hoje de ns (ROMAGNOLI, 2006, p. 55).
CONSIDERAES FINAIS
Este artigo se props a discutir como alguns elementos da dinmica interna
dos CAPS tendem a promover a imobilidade e a desarticulao dos usurios, dificultando prticas de ajuda ou suporte mtuo entre eles. Nesse sentido, procuramos
apontar como a gesto dos servios pela equipe tcnica (o que chamamos de heterogesto) e a concepo do que seria teraputico ou clnico nos CAPS se articulam
a fim de dificultar o contato entre os usurios, bem como seu empoderamento.
Ao apostar nos encontros entre os usurios de servios de sade mental,
defendemos aqui a potncia contida na loucura, historicamente despotencializada
por diversas instituies. Em ltima anlise, trata-se de acreditar no ser humano,
e em sua capacidade de se apropriar de sua vida, vencendo obstculos, transpondo limites, atualizando foras a favor da expanso de possibilidades, de vida.
Acreditar no encontro entre potncias, entre sujeitos, entre loucos. No nas
condies em que se efetivam atualmente, no interior (ou fora) dos servios, sob
relaes de tutela, mas em circunstncias nas quais haja maior possibilidade para
a atualizao de seus fluxos de potncia, fluxos instituintes.
Os CAPS estudados se mostram, no presente momento, espaos de captura,
de anulao da potncia dos coletivos de usurios. Enquanto essa for a realidade
da ateno em sade mental, dificilmente conseguiremos relaes potentes com
a loucura, relaes que atuem a favor da desinstitucionalizao da loucura, bem
como avanos nas dimenses culturais e de cidadania, referentes ao processo de
reforma psiquitrica brasileira. Mudar essa realidade tarefa no s de polticas
pblicas, mas de atitudes cotidianas, de ns todos, para com o outro, quem quer
que seja esse outro. Ao refletir sobre o conflito de foras presentes no interior de
servios substitutivos, devemos estar atentos a o que esse tipo de funcionamento
tem a nos dizer, no s no nvel individual, da ruptura que cada usurio provoca
em nossas vidas, mas da capacidade que a loucura tem de pr em cheque nossos
dispositivos, engrenagens, instituies etc., e de como tornar essas mesmas instituies mais potentes.
442
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
NOTAS
Por instituinte, compreendemos as foras que tendem a transformar (ou fundar) uma instituio.
Por instituio referimo-nos s lgicas [...] que podem ser leis, podem ser normas e, quando no
esto enunciadas de maneira manifesta, podem ser hbitos ou regularidades de comportamentos
(BAREMBLIT, 1992, p. 25).
2
Empoderamento, segundo Vasconcelos (2003), diz respeito ao aumento de fora e poder de uma
determinada coletividade, favorecendo, por exemplo, o ganho de autonomia e o combate da
relao de tutela que historicamente abarca o fenmeno da loucura.
3
Ajuda mtua diz respeito ao acolhimento e apoio emocional que um usurio oferta a outro. Quando
esse apoio adquire tambm o carter de suporte concreto nas atividades dirias (locomoo, lazer
etc.) temos o que se chama de suporte mtuo (VASCONCELOS, 2008).
4
Devido falta de disponibilidade por parte da equipe de um CAPS, a roda de conversa aconteceu
somente em um deles.
5
Os grupos de ajuda e suporte mtuos so grupos de pessoas que passam por problemas parecidos
(doenas crnicas, ou outros) e que se renem para tentar encontrar/desenvolver estratgias de
enfrentamento de tais questes, promovendo empoderamento e aumento da qualidade de vida.
6
Todos os nomes prprios contidos neste trabalho so fictcios.
1
REFERNCIAS
AFONSO, M. L.; ABADE, F. L. Para reinventar as rodas: rodas de conversa em
Direitos Humanos. Belo Horizonte: RECIMAM, 2008.
ALTO, S. Ren Lourau: analista institucional em tempo integral. So Paulo:
Hucitec, 2004.
AMARANTE, P. Reforma Psiquitrica e Epistemologia, 2009. Disponvel em:
<http://www.abrasme.org.br/cbsm/artigos>. Acesso em: 29 maio 2010.
BAREMBLITT, G. F. Compndio de Anlise Institucional e outras correntes:
teoria e prtica. Rio de Janeiro: Rosa dos Ventos, 1992.
BAREMBLITT, G. F. Apresentao do movimento institucionalista. In: ______
Sade e Loucura. So Paulo: Hucitec, 1989. v. 1, p. 109-119.
BASAGLIA, F. A Instituio negada. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
BRDA, M. Z.; AUGUSTO, L. G. S. O cuidado ao portador de transtorno
psquico na ateno bsica de sade. Cincia e sade coletiva, So Paulo, v. 6, n.
2, p. 471-480, 2001.
CHAU, M. Conformismo e resistncia: aspectos da cultura popular no Brasil.
So Paulo: Brasiliense, 1986.
CHIEN, W. T. et al. Evaluation of a peer-led mutual support group for chinese
families of people with schizophrenia. Am J Community Psychology, v. 42, n. 1-2,
p. 122-134, Sept. 2008.
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
443
Rafael de Albuquerque Figueir; Magda Dimenstein
DAVISON, K. P. et al. Who talks? The Social Psychology of illness support
groups. American Pyichologist, Washington, v. 55, n. 2, p. 205-217, fev. 2000.
DELEUZE, G.. Foucault. So Paulo: Brasiliense, 1988.
DESSEN, M. A.; BRAZ, M. P. Rede social de apoio durante transies familiares
decorrentes do nascimento de filhos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, Braslia, v.
16, n. 3, p. 221-231, set./dez.2000.
GUATTARI, F. Subjetividade e Histria. In: ______. Micropoltica: cartografias
do desejo. Petrpolis, RJ: Vozes, 1986. p. 33-148.
JAPUR, M.; GUANAES, C. Fatores teraputicos em um grupo de apoio para
pacientes psiquitricos ambulatoriais. Revista Brasileira de Psiquiatria, So
Paulo, v. 23 n. 3, p. 134-140, set. 2001.
KIRST, P. G. et al. Conhecimento e cartografia: tempestade de possveis.
In:______. Cartografias e devires: a construao do presente. Porto Alegre:
EDUFRGS, 2003. p. 91-102.
MOSTAZO, R. R.; KIRSCHBAUM, D. I. R.. Usurios de um centro de ateno
psicossocial: um estudo de suas representaes sociais acerca de tratamento
psiquitrico. Revista Latino-Americana de Enfermagem, So Paulo, v. 1, n. 6, p.
786-791, nov./dez. 2003.
OLIVEIRA, L. M. A. C. et al. Use of therapeutic factors for the evaluation of
results in support groups. Acta Paulista de Enfermagem, So Paulo, v. 21, n. 3, p.
432-438. mar./abr. 2008.
PLBART, P. P. Da funo poltica do tdio e da alegria. In: ______. Cartografias
e devires: a construo do presente. Porto Alegre: EDUFRGS, 2003. p. 69-78.
PINHEIRO, C. P. O. et al. Participating in a support group: experience lived
by women with breast cancer. Revista Latino-Americana de Enfermagem, So
Paulo, v. 16, n. 4, p. 733-738, jul./ago. 2008.
RASERA, E. F.; JAPUR, M. Grupo de apoio aberto para pessoas portadoras de
HIV: a construo da homogeneidade. Estudos de Psicologia, Natal, v. 8, n. 1, p.
55-62. jan./abr. 2003.
RIBEIRO A. S. Sade mental e cultura: que cultura? Sade em Debate, Rio de
Janeiro, v. 32, n. 78, p. 78-91, jan./dez. 2008.
444
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
O cotidiano de usurios de CAPS: empoderamento ou captura?
ROEHE, M. V. Experincia religiosa em grupos de auto-ajuda: o exemplo dos
neurticos annimos. Psicologia em Estudo, Maring, v. 9, n. 3, p. 399-407,
2004.
ROLNIK, S. Clnica nmade. In: Equipe de Acompanhantes teraputicos do
Instituto A Casa (Org.). Crise e Cidade: acompanhamento teraputico. So Paulo:
EDUC. 1997, p. 83-100.
ROMAGNOLI, R. C. Algumas reflexes acerca da clnica social. Fractal, Rev.
Psicol. [online], v. 18, n. 2, p. 47-56, 2006.
ROOM, R Mutual help movements for alcohol problems in an international
perspective. Addiction Research, v. 6, n. 2, p. 131-145, 1998.
SCHMID, P. C. Viajando no, s sonhando! Fractal, Rev. Psicol. [online], v. 19,
n. 1, p. 187-198, 2007.
VASCONCELOS, E. M. Abordagens psicossociais: reforma psiquitrica e sade
mental na tica da cultura e das lutas populares. So Paulo: Hucitec, 2008. v. II.
VASCONCELOS, E. M. O poder que brota da dor e da opresso: empowerment,
sua histria, teoria e estratgias. So Paulo: Paulus, 2003.
VIEIRA FILHO, N. G.; NBREGA, S. M. A ateno psicossocial em sade
mental: contribuio terica para o trabalho teraputico em rede social. Estudos
de Psicologia, Natal, v. 9, n. 2, p. 373-379, maio/ago. 2004.
YASUI S.; COSTA-ROSA A. A estratgia de ateno psicossocial: desafio na
prtica dos novos dispositivos em sade mental. Sade em Debate, Rio de Janeiro,
v. 32, n. 78/ 79/80, p. 27-37. jan./dez. 2008.
Recebido em: outubro de 2009
Aceito em: maio de 2010
Fractal: Revista de Psicologia, v. 22 n. 2, p. 431-446, Maio/Ago. 2010
445
Você também pode gostar
- Questões Da Pós em TCCDocumento6 páginasQuestões Da Pós em TCCRenato FigueiredoAinda não há avaliações
- FREUD - A Questão Da Análise Leiga - 1926 - Vol. 17Documento66 páginasFREUD - A Questão Da Análise Leiga - 1926 - Vol. 17Jamespsk100% (4)
- Ética e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 1 de 3Documento29 páginasÉtica e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 1 de 3Jamespsk100% (4)
- Relatório de Estágio - Engenharia Civil - UFPaDocumento19 páginasRelatório de Estágio - Engenharia Civil - UFPaGRS100% (2)
- Faculdade Anhaguera de Governador ValadaresDocumento10 páginasFaculdade Anhaguera de Governador ValadaresRian Custodio MartinsAinda não há avaliações
- Aula 9 PDFDocumento43 páginasAula 9 PDFjuliaAinda não há avaliações
- LIVRO - Adolescente Hoje - OsórioDocumento92 páginasLIVRO - Adolescente Hoje - OsórioJamespsk100% (1)
- Dicionario WinnicottDocumento10 páginasDicionario WinnicottJamespsk50% (2)
- Relatório Final Orientação Correto e FinalizadoDocumento10 páginasRelatório Final Orientação Correto e FinalizadoJana BenitesAinda não há avaliações
- Proposta de Intervenção Com EstamiraDocumento3 páginasProposta de Intervenção Com EstamiraAlberis Luís0% (1)
- Projeto ZumbaDocumento2 páginasProjeto ZumbaJuliana da PazAinda não há avaliações
- Eru 383Documento2 páginasEru 383Cleiton BatistaAinda não há avaliações
- Roteiro Comentado Observacao de GruposDocumento6 páginasRoteiro Comentado Observacao de GruposJuliano SidneyAinda não há avaliações
- FREUD - Caso - Katharina - 189x - Vol. 02Documento12 páginasFREUD - Caso - Katharina - 189x - Vol. 02Jamespsk0% (1)
- Neuroses e Não Neuroses Marion Minerbo - ResenhaDocumento5 páginasNeuroses e Não Neuroses Marion Minerbo - ResenhaJamespskAinda não há avaliações
- Unip - Psicologia Integrada - 5 AnoDocumento4 páginasUnip - Psicologia Integrada - 5 AnoJamespsk50% (2)
- ORGANIZACAO DOS ESPACOS TIPOLOGIAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Lady DiDocumento17 páginasORGANIZACAO DOS ESPACOS TIPOLOGIAS DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS Lady Disoraia75% (4)
- Coração de Cristal Walcyr CarrascoDocumento2 páginasCoração de Cristal Walcyr CarrascoElizabeth Barbosa100% (1)
- Visão estratégica e qualidade do serviço: percepção do beneficiário no serviço ambulatorial de quimioterapiaNo EverandVisão estratégica e qualidade do serviço: percepção do beneficiário no serviço ambulatorial de quimioterapiaAinda não há avaliações
- Resumo Psicologia Do TrânsitoDocumento3 páginasResumo Psicologia Do Trânsitoana cleideAinda não há avaliações
- Atividade 3 - Psico - Estágio - Institucional - 52-2023Documento1 páginaAtividade 3 - Psico - Estágio - Institucional - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Relatório Plantão PsicológicoDocumento18 páginasRelatório Plantão PsicológicoQueria DinheiroAinda não há avaliações
- Atendente Modulo 5Documento13 páginasAtendente Modulo 5yusayaky takashy takashyAinda não há avaliações
- Ilovepdf Merged PDFDocumento292 páginasIlovepdf Merged PDFAlexandre Ribeiro AquinoAinda não há avaliações
- Orientações para Entrevista Semiestruturada Com AdolescenteDocumento2 páginasOrientações para Entrevista Semiestruturada Com AdolescenteAngelino BozziniAinda não há avaliações
- NormasDocumento9 páginasNormasBeatriz F.Ainda não há avaliações
- Técnicas de Avaliação PsicológicaDocumento4 páginasTécnicas de Avaliação PsicológicaAlexsander Oliveira100% (1)
- Modelo Do Projeto de PesquisaDocumento5 páginasModelo Do Projeto de Pesquisaronaldomof123Ainda não há avaliações
- Entrevista Semi EstruturadaDocumento5 páginasEntrevista Semi EstruturadaEduardo SpillerAinda não há avaliações
- SATEPSI - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - HomeDocumento6 páginasSATEPSI - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - HomeElaine SilvaAinda não há avaliações
- Analise Comportamental em GrupoDocumento0 páginaAnalise Comportamental em Grupolucieny_gomesAinda não há avaliações
- Avaliacao Psicologica TransitoDocumento2 páginasAvaliacao Psicologica TransitoMaurice GreenAinda não há avaliações
- A Dieta Do Yin YangDocumento193 páginasA Dieta Do Yin YangFabiana LunkesAinda não há avaliações
- Whodas 2.0Documento164 páginasWhodas 2.0Cláudia FerreiraAinda não há avaliações
- Escrita Dos Resultados Do BETA IIIDocumento2 páginasEscrita Dos Resultados Do BETA IIIBrenda LouiseAinda não há avaliações
- Atividades APDocumento3 páginasAtividades APLaura DuarteAinda não há avaliações
- Teoria Cognitivo Comportamental - Aaron Beck: Raíra CavalcantiDocumento21 páginasTeoria Cognitivo Comportamental - Aaron Beck: Raíra CavalcantiAndressaAinda não há avaliações
- 01 - 5SDocumento8 páginas01 - 5SAmanda NeponucenoAinda não há avaliações
- 5a AULA Atitudes Do Psicologo ClinicoDocumento21 páginas5a AULA Atitudes Do Psicologo ClinicoFelisberto Aguiar MuanhaAinda não há avaliações
- Modelos de Avaliação PsicologicaDocumento17 páginasModelos de Avaliação PsicologicaO'incorrigivel100% (1)
- Resumo Entrevista Psicologica Tecnicas para Diferentes Entrevistas em Diferentes Espacos Maria Aparecida Da Silveira BrigidoDocumento2 páginasResumo Entrevista Psicologica Tecnicas para Diferentes Entrevistas em Diferentes Espacos Maria Aparecida Da Silveira BrigidoViviane NogueiraAinda não há avaliações
- Modelo Ação de PCODocumento23 páginasModelo Ação de PCOGardênia BrilhanteAinda não há avaliações
- Relatório Do Teste H.T.PDocumento30 páginasRelatório Do Teste H.T.PKauany Marcella Ponzio Braga SilvaAinda não há avaliações
- AULA 01 - O Que É A Avaliação PsicológicaDocumento23 páginasAULA 01 - O Que É A Avaliação Psicológicadannhalabe100% (1)
- PROJETO APLICATIVO GAF Versão FinalDocumento7 páginasPROJETO APLICATIVO GAF Versão FinalSammi2013Ainda não há avaliações
- EM - Volume 1 - Educação InclusivaDocumento84 páginasEM - Volume 1 - Educação InclusivaLuana Souza100% (1)
- Como Fazer Um Relatório de PesquisaDocumento5 páginasComo Fazer Um Relatório de Pesquisavicenteartur17Ainda não há avaliações
- Apresentação - As Mulheres No Mercado de Trabalho Na ÁreaDocumento6 páginasApresentação - As Mulheres No Mercado de Trabalho Na ÁreaKalyneMaylaAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento40 páginasÉticaAmanda MagalhãesAinda não há avaliações
- Estrutura Da SessãoDocumento2 páginasEstrutura Da SessãoVitoria BordoniAinda não há avaliações
- PRÁTICA CLÍNICA EM PSICOLOGIA 2 CorreçãoDocumento4 páginasPRÁTICA CLÍNICA EM PSICOLOGIA 2 CorreçãoAriane GomesAinda não há avaliações
- Instrumentos de Avaliação Psicológica PDFDocumento8 páginasInstrumentos de Avaliação Psicológica PDFthiagojuhasAinda não há avaliações
- Minuta Pesquisa Educáção BásicaDocumento5 páginasMinuta Pesquisa Educáção BásicaPablo MateusAinda não há avaliações
- Aula 3 - Aconselhamento Diretivo e Não DiretivoDocumento19 páginasAula 3 - Aconselhamento Diretivo e Não Diretivonathália_siqueira_47Ainda não há avaliações
- Processos Grupais Na Família - EnsaioDocumento3 páginasProcessos Grupais Na Família - EnsaioClaudiana Ramos da SilvaAinda não há avaliações
- Primeira Entrevista em PsicoterapiaDocumento22 páginasPrimeira Entrevista em PsicoterapiaBA - SoulAinda não há avaliações
- Aula 04 - Exercicio Do Filme - Amor Sem EscalasDocumento1 páginaAula 04 - Exercicio Do Filme - Amor Sem EscalasMarcilia LimaAinda não há avaliações
- Personalidade EvitativaDocumento12 páginasPersonalidade EvitativaMiriam Regina ReyAinda não há avaliações
- Modelo Resultado Completo ACDocumento3 páginasModelo Resultado Completo ACBárbara Monique AlvesAinda não há avaliações
- EF2 8ano V3 PFDocumento219 páginasEF2 8ano V3 PFDandara Zunduri MatosAinda não há avaliações
- 2-Banov Behaviorismo Cap3Documento24 páginas2-Banov Behaviorismo Cap3Zuleika Raquel Lazarini100% (1)
- Modelo Oficio RemanejamentoDocumento2 páginasModelo Oficio RemanejamentoMarcos MattosAinda não há avaliações
- Ebook Criacao de Ong PMD ProDocumento17 páginasEbook Criacao de Ong PMD Prosilva_crisAinda não há avaliações
- Ciclo Motivacional Das Teorias Das Relações HumanasDocumento8 páginasCiclo Motivacional Das Teorias Das Relações HumanasArthur CostaAinda não há avaliações
- Roteiro de EntrevistaDocumento3 páginasRoteiro de EntrevistaLarissa CardosoAinda não há avaliações
- Assedio Moral e SexualDocumento41 páginasAssedio Moral e SexualRobsonAinda não há avaliações
- Termo de Avaliacao PsicologicaDocumento1 páginaTermo de Avaliacao PsicologicaDeiviane MatosAinda não há avaliações
- Liderança FemininaDocumento18 páginasLiderança FemininaGiseli CostaAinda não há avaliações
- O sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNo EverandO sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Comunicar eficazmente no trabalho: Diga o que quer dizer e obtenha o que querNo EverandComunicar eficazmente no trabalho: Diga o que quer dizer e obtenha o que querAinda não há avaliações
- LIVRO - Sinusite - Blackbook - Clínica Médica - Pedroso & OliveiraDocumento10 páginasLIVRO - Sinusite - Blackbook - Clínica Médica - Pedroso & OliveiraJamespskAinda não há avaliações
- Procedimendos Da Quick Massage - Portal EducaçãoDocumento3 páginasProcedimendos Da Quick Massage - Portal EducaçãoJamespskAinda não há avaliações
- MASSIMI - Historiografia - Da - Psicologia - MetodosDocumento28 páginasMASSIMI - Historiografia - Da - Psicologia - MetodosJamespskAinda não há avaliações
- Peter Spink As Interfaces Entre Psicologia e Politicas Publicas e A ConfiguracaoDocumento17 páginasPeter Spink As Interfaces Entre Psicologia e Politicas Publicas e A ConfiguracaoJamespskAinda não há avaliações
- Masud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFDocumento24 páginasMasud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFJamespskAinda não há avaliações
- O Relato de Casos Clínicos em Psicanálise - Um Estudo Comparativo PDFDocumento16 páginasO Relato de Casos Clínicos em Psicanálise - Um Estudo Comparativo PDFJamespskAinda não há avaliações
- Plotino Enc3a9adas 1 2 3 Portuguc3aasDocumento684 páginasPlotino Enc3a9adas 1 2 3 Portuguc3aasCiça Vicente de AzevedoAinda não há avaliações
- Ética e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 3 de 3Documento34 páginasÉtica e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 3 de 3JamespskAinda não há avaliações
- Uniao MisticaDocumento146 páginasUniao MisticaMaria MilhomemAinda não há avaliações
- RESENHA - Neurose Traumática - Myriam UchitelDocumento2 páginasRESENHA - Neurose Traumática - Myriam UchitelJamespskAinda não há avaliações
- Recomendações Aos Médicos Que Exercem A Análise FreudDocumento7 páginasRecomendações Aos Médicos Que Exercem A Análise FreudJamespskAinda não há avaliações
- Ética e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 2 de 3Documento34 páginasÉtica e Técnica No at - Andanças Com o Dom Quixote e Sancho Pança - Kleber Duarte Barreto - Parte 2 de 3JamespskAinda não há avaliações
- Unip - Psicologia - Direito de Familia - 5 AnoDocumento3 páginasUnip - Psicologia - Direito de Familia - 5 AnoJamespskAinda não há avaliações
- A Dama Do Cachorrinho - TchekhovDocumento10 páginasA Dama Do Cachorrinho - TchekhovClaudinha OliveiraAinda não há avaliações
- 40090enfermagem Do Trabalho ApostilaDocumento40 páginas40090enfermagem Do Trabalho ApostilaNadielle Dias100% (1)
- Trabalho Holocausto BrasileiroDocumento6 páginasTrabalho Holocausto BrasileiroFabiana AlmeidaAinda não há avaliações
- A Percepção Visual Como Elemento de Conforto Na Arquitetura HospitalarDocumento14 páginasA Percepção Visual Como Elemento de Conforto Na Arquitetura HospitalarAna Carla P. SilvaAinda não há avaliações
- LIVRO DF Prevent SêniorDocumento246 páginasLIVRO DF Prevent SêniorElizabeth ChoAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Tratamento Expectante em OdontohebiatriaDocumento2 páginasPlano de Aula - Tratamento Expectante em OdontohebiatriaGenildo VasconcelosAinda não há avaliações
- Auto-Hipnose - Vencendo As Próprias BarreirasDocumento19 páginasAuto-Hipnose - Vencendo As Próprias BarreirasÉderson NascimentoAinda não há avaliações
- Infeção PrevençãoDocumento32 páginasInfeção PrevençãoPedro Vieira Martins Costa100% (1)
- PSICOPATOLOGIA - AULAS 1° SEMESTRE 2010 - Uniban Morumbi IIDocumento15 páginasPSICOPATOLOGIA - AULAS 1° SEMESTRE 2010 - Uniban Morumbi IIJosé Hiroshi Taniguti100% (1)
- Fluxogramas Da USF CelaSaúde PDFDocumento8 páginasFluxogramas Da USF CelaSaúde PDFFátima MarquesAinda não há avaliações
- UTI Morte 07-31-49Documento19 páginasUTI Morte 07-31-49Sara LimaAinda não há avaliações
- M77Z 086 - Transa de Mulheres - Tony Manhattan PDFDocumento103 páginasM77Z 086 - Transa de Mulheres - Tony Manhattan PDFJoão Rocha Labrego100% (1)
- Sebenta - Perspetiva Histórica Da RNCSDocumento11 páginasSebenta - Perspetiva Histórica Da RNCSAndreia RegoAinda não há avaliações
- Resumo Do Filme de Florence 2022Documento2 páginasResumo Do Filme de Florence 2022Kezia MartinsAinda não há avaliações
- Programas Acreditados Pela ABPDocumento7 páginasProgramas Acreditados Pela ABPGilmara RisterAinda não há avaliações
- Manual Paciente Hospital Sirio Libanes PDFDocumento57 páginasManual Paciente Hospital Sirio Libanes PDFMauro R. B. SilvaAinda não há avaliações
- Lêa Lopes 2015. Acolhimento Do Utente - Atividade Facilitadora Do Processo de Hospitalização PDFDocumento87 páginasLêa Lopes 2015. Acolhimento Do Utente - Atividade Facilitadora Do Processo de Hospitalização PDFSonia Jose JamboAinda não há avaliações
- Caderno de HM8 2019-2Documento32 páginasCaderno de HM8 2019-2AlanaAinda não há avaliações
- Guiao de Entrevista. ClementinaDocumento6 páginasGuiao de Entrevista. Clementinamarzuke manuel diogo monteiroAinda não há avaliações
- Relatório Estágio WordxDocumento5 páginasRelatório Estágio WordxPaola guimaraes da rosaAinda não há avaliações
- AMIL S380 (Empresarial)Documento5 páginasAMIL S380 (Empresarial)anon_291027769Ainda não há avaliações
- Centro CirurgicoDocumento25 páginasCentro CirurgicoBRUNO MARQUESAinda não há avaliações
- Atenção Psicosocial (CAPS)Documento14 páginasAtenção Psicosocial (CAPS)Pedro SaterAinda não há avaliações
- LígiaDocumento4 páginasLígiaMaria Paula de Souza TurimAinda não há avaliações
- Santa Casa de Patrocínio - Miolo Completo PDFDocumento64 páginasSanta Casa de Patrocínio - Miolo Completo PDFHospital Santa Casa de PatrocínioAinda não há avaliações
- Visita Intima - Bruna MattosDocumento444 páginasVisita Intima - Bruna MattoshingridyhsaAinda não há avaliações
- Internação Pediátrica - Márcia BrandãoDocumento36 páginasInternação Pediátrica - Márcia BrandãoSimone AbadiAinda não há avaliações