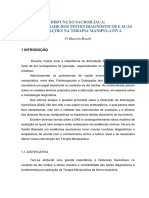Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cinesioterapia motora na prevenção da SIP em UTI
Enviado por
ravennaleiteDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cinesioterapia motora na prevenção da SIP em UTI
Enviado por
ravennaleiteDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
A Cinesioterapia Motora como preveno da Sndrome da
Imobilidade Prolongada em pacientes internados em Unidade de
Terapia Intensiva
Mnica Gondim Assumpo Casara de Rivoredo
monicassump@gmail.com
2
Dayana Mejia
Ps-Graduao em Terapia Intensiva Faculdade vila
Resumo
A Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) pode ocorrer em pacientes internados em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido restrio de mobilidade e ao tempo prolongado
de permanncia no leito, podendo retardar o processo de recuperao do paciente,
aumentando o risco de desenvolver complicaes fsicas. Com a assistncia fisioterapeutica
presente nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), fazendo uso exclusivo da Cinesioterapia
motora, a Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) pode ser prevenida, proporcionando ao
paciente aps a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma melhor funcionabilidade fsica
e incapacidades reduzidas. Este estudo tem como objetivo identificar os efeitos da
Cinesioterapia motora na preveno da Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP),
descrever os benefcios da preveno da Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) e
identificar as consequencias da Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) quando esta no
for prevenida. A metodologia utilizada foi uma reviso bibliogrfica da literatura nacional, e
busca de artigos cientficos nas bases de dados das revistas eletrnicas: MedLine (Literatura
Internacional em Cincias e Sade), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em
Cincias e Sade), Cochrane, PubMed, no perodo de setembro de 2011 a maro de 2012,
onde os artigos foram selecionados conforme os objetivos proposto neste estudo. Conclui-se
que a Fisioterapia tem potencial de restaurar a perda funcional e a Cinesioterapia Motora
considerada um elemento central na maioria dos planos de tratamento fisioterapeutico com o
objetivo de reduzir incapacidades e aprimorar a funcionabilidade do paciente.
Palavras-chave: Sndrome da Imobilidade Prolongada; Preveno; Cinesioterapia Motora.
1. Introduo
Os primeiros estudos sobre a utilizao dos exerccios teraputicos datam da Grcia e Roma
antiga, porm, foi a partir da I Guerra Mundial que, devido ao grande nmero de casos de
leses, mutilao, alteraes fsicas de vrios tipos e graus, houve uma expanso no campo de
atuao da Cinesioterapia, aumentando a utilizao deste recurso para reabilitao destes
pacientes, favorecendo o crescimento da fisioterapia, em especial, da Cinesioterapia.
Recentemente, com o posicionamento da ASSOBRAFIR e do COFFITO, quanto ao emprego
da Cinesioterapia nas mais diversas reas de atuao do profissional Fisioterapeuta, bem
como, estabelecendo de forma clara a reserva de atuao deste profissional, vieram
corroborar, sobremaneira, para consolidar este recurso teraputico, principalmente, em seu
emprego dentro do contexto de multidisciplinaridade de uma Unidade de Terapia Intensiva
1
2
Ps-graduanda em Terapia Intensiva
Orientadora
(UTI), consolidado de forma normativa por uma Resoluo da Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria ANVISA.
Segundo a ASSOBRAFIR (Associao Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratria e
Fisioterapia em Terapia Intensiva), a fisioterapia aplicada na Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) tem uma viso geral do paciente, pois atua de maneira complexa no amplo
gerenciamento do funcionamento do sistema respiratrio e de todas as atividades
correlacionadas com a otimizao da funo ventilatria. fundamental que as vias areas
estejam sem secreo e os msculos respiratrios funcionem adequadamente. A Fisioterapia
auxilia na manuteno das funes vitais de diversos sistemas corporais, pois atua na
preveno e/ou no tratamento das doenas cardiopulmonares, circulatrias e musculares,
reduzindo assim a chance de possveis complicaes clnicas. Ela tambm atua na otimizao
do suporte ventilatrios, atravs da monitorizao contnua dos gases que entram e saem dos
pulmes e dos aparelhos que so utilizados para que os pacientes respirem melhor. O
Fisioterapeuta tambm possui o objetivo de trabalhar a fora dos msculos, diminurem a
retrao de tendes e evitar os vcios posturais que podem provocar contraturas e lceras de
presso.
Segundo o COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional), a
Fisioterapia busca alcanar, atravs de metodologias e tcnicas prprias baseadas na
utilizao teraputica dos movimentos e dos fenmenos fsicos, uma melhor qualidade de
vida para o cidado, frente s disfunes intercorrentes. As metodologias e as tcnicas da
Cinesioterapia so prticas prprias e exclusivas do profissional Fisioterapeuta, sendo sua
indicao e sua utilizao prtica teraputica prpria, privativa e exclusiva do profissional
Fisioterapeuta.
A Resoluo RDC N 07 de 24 de Fevereiro de 2010, regulamenta a obrigatoriedade do
Fisioterapeuta, com ttulo de especialista, inserido em uma equipe multidisciplinar, dentro de
uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Dispe sobre os requisitos mnimos para
funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e d outras providncias.
A Diretoria Colegiada da Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria, no uso da
atribuio que lhe confere o inciso IV do Art.11 do Regulamento aprovado pelo
Decreto n 3.029, de 16 de abril de 1999, e tendo em vista o disposto no inciso II e
nos 1 e 3 do Art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Portaria n 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no D.O.U., de 21
de agosto de 2006, em reunio realizada em 22 de fevereiro de 2010.
Art. 13 Deve ser formalmente designado um Responsvel Tcnico mdico, um
enfermeiro coordenador da equipe de enfermagem e um fisioterapeuta coordenador
da equipe de fisioterapia, assim como seus respectivos substitutos.
2 Os coordenadores de enfermagem e de fisioterapia devem ser especialistas em
terapia intensiva ou em outra especialidade relacionada assistncia ao paciente
grave, especfica para a modalidade de atuao (adulto e peditrico ou neonatal).
Estabeleceremos conceitos e definies sobre a Cinesioterapia, pormenorizando a
Cinesioterapia motora ativa e passiva, a Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) suas
sequelas e consequncias da no preveno. Apresentaremos, de forma clara e concisa, o
quadro clnico e tratamento fisioterapeutico.
Uma das mais bvias caractersticas que mostram a existncia de vida em um organismo a
presena de movimento (GREVE & AMATUZZI, 1999) e, a partir dele que
desempenhamos grande parte das nossas funes.
O aspecto dinmico do corpo um dos principais responsveis por sua sade. Qualquer
alterao desta dinmica afetar cedo ou tarde, tanto o trofismo como as estruturas
responsveis pelos atos motores.
Cinesioterapia significa basicamente terapia pelo movimento, sendo a utilizao de diferentes
formas de atividade motora como meio de tratamento de enfermidades. uma tcnica que se
baseia nos conhecimentos de anatomia, fisiologia e biomecnica, a fim de proporcionar ao
paciente um melhor e mais eficaz trabalho de preveno, cura e reabilitao. Sua principal
finalidade a manuteno ou desenvolvimento do movimento livre para a sua funo, e seus
efeitos baseiam-se no desenvolvimento, evoluo, restaurao e manuteno da fora, da
resistncia fadiga, da mobilidade e flexibilidade, do relaxamento e da coordenao motora
(KISNER & COLBY, 1998).
Auguste Georgii (1847), ao utilizar o termo Cinesioterapia, propunha esta definio: O
tratamento das doenas atravs do movimento; a Cinesioterapia ativa assim a parte da
fisioterapia que utiliza o movimento provocado pela atividade muscular do paciente com uma
finalidade precisamente teraputica. o que h muito tempo se chamou de ginstica mdica
em oposio ginstica geral, cujos propsitos so essencialmente higinicos ou estticos.
Entretanto essa noo de movimento muito restritiva, portanto se incluem inteiramente no
quadro da Cinesioterapia ativa, solicitaes musculares de estabilizaes que no induzem
nenhum deslocamento das alavancas sseas.
Boris Dolto (1978) props outra definio oposta primeira, que era a seguinte: A
cinesioterapia no um tratamento atravs do movimento, mas o tratamento do
movimento; a negao por certo contrria ao estabelecido, porm, a integrao dos
conceitos neuromusculares e mesmo sensitivo neuro motores da organizao gestual deve ser
aceita. Isso leva a uma tica diferente da Cinesioterapia e o aspecto, reforado em especial
pelas noes de regulagens de coordenao das cadeias musculares por curvas de retroao
com ponto de partida proprioceptivo ou exteroceptivo. Nesse esquema ciberntico de
funcionamento, a noo de movimento deve ser entendida, inclusive nesse caso, em um
sentido amplo porque a atividade postural de equilbrio est inteiramente inclusa no processo
teraputico podendo mesmo ser a iniciadora. o que encontramos nos mtodos
fisioterapeutico conhecidos como a base proprioceptiva ou ainda de reprogramao neuro
motora. O recrutamento da atividade muscular no somente voluntrio, mas, tambm,
automtico ou reflexo. Portanto de maneira muito ampla a Cinesioterapia ativa pode ser
definida pela colorao em ao da atividade das fibras musculares contrrias do paciente da
maneira analtica ou global voluntria ou automtico-reflexa. Essa atividade realizada com
uma finalidade teraputica local, regional ou geral.
Para Gardiner (1995), a Cinesioterapia um meio de acelerar a recuperao do paciente de
ferimentos e doenas que alteram seu modo normal de viver.
A Cinesioterapia a terapia ou tratamento atravs do movimento e englobam recursos e
tcnicas variados, incluindo mobilizao ativa e passiva, exerccio respiratrios, exerccios
para o fortalecimento muscular, reeducao da postura, coordenao motora, equilbrio, entre
outros. Seus procedimentos usam o movimento dos msculos, articulaes, ligamentos,
tendes e estruturas ligados ao sistema nervoso central e perifrico, tendo como objetivo
recuperar a funo dos mesmos.
Segundo Gardiner (1995) os objetivos da Cinesioterapia ou as metas de tratamento pelo
exerccio so: promover a atividade quando e onde seja possvel minimizar os efeitos da
inatividade, corrigir a ineficincia de msculos especficos ou grupo musculares e
reconquistar a amplitude normal do movimento da articulao sem perturbar a obteno do
movimento funcional eficiente e encorajar o paciente a usar a habilidade que ele reconquistou
no desempenho de atividades funcionais normais, e assim acelerar sua reabilitao.
A Cinesioterapia motora pode ser ativa ou passiva, sendo que a ativa se divide em trs tipos:
ativo assistido, ativo resistido e ativo livre. A Cinesioterapia motora ativa conta com a
participao ativa e consciente do paciente onde ele executa voluntariamente os movimentos.
A passiva, o fisioterapeuta realiza os movimentos sem ajuda do paciente. Quando a atividade
impossvel ou contra indicada, so usados movimentos passivos para manter a elasticidade
dos msculos e a livre amplitude de movimento nas articulaes. O movimento executado
manualmente ou atravs de aparelhagens especiais, que imitam os movimentos fisiolgicos ou
realizam-se manipulaes de diferentes segmentos ou tecidos, com o auxlio de diversas
metodologias. A Cinesioterapia ativo assistido realizada pelo paciente que recebe ajuda
parcial do fisioterapeuta. A Cinesioterapia ativo livre realizada pelo paciente com ou sem a
ao da fora da gravidade, enquanto na Cinesioterapia ativo resistido o movimento
realizado contra a resistncia manual do fisioterapeuta.
O programa de exerccios para cada paciente determinado de acordo com suas necessidades
e baseia-se na avaliao da incapacidade do paciente. A modalidade, frequncia e durao do
tratamento cinesioteraputico so determinadas frente histria clnica e exame fsico do
paciente, sendo que este inclui a inspeo, palpao, mensurao, avaliao dos reflexos,
testes especiais, teste de fora muscular e de amplitude articular de movimento (SHESTACK,
1987).
A indicao da Cinesioterapia bastante criteriosa, necessita de avaliao para traar
objetivos e estratgias, alm de reavaliaes frequentes, visando atualizao junto
progresso do paciente e em consequncia da necessidade de correes ao programa inicial
at atingir o potencial de recuperao esperado.
O termo imobilidade definido como a qualidade ou estado do que no se move. No entanto
este conceito pode ser ampliado e definido como restrio prescrita ou inevitvel de
movimento em qualquer momento da vida do indivduo. Isto , a imobilidade pode ocorrer em
vrios nveis como fsico, emocional, intelectual e social, podendo ainda ser provocado por
doena, tratamento ou por fatores prprios do indivduo ou do seu meio.
A Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) um conjunto de disfunes que tem por
mecanismo inicial, a manuteno da postura no leito do indivduo acamado por um perodo
prolongado (PRESTO & DAMZIO, 2009). Os efeitos da imobilizao so definidos como
uma reduo na capacidade funcional dos sistemas osteomusculares, tecido conjuntivo, tecido
articular, sistema respiratrio, sistema metablico, sistemas gastrointestinais, sistemas
geniturinrios entre outros, o que contribui para o prolongamento da internao.
A perda ou diminuio da capacidade funcional do paciente impede ou modifica a sua vida
ps-internao, independentemente de continuar seu trabalho e desfrutar de uma vida social.
A imobilidade prolongada pode alterar tambm o estado emocional do paciente, independente
da patologia que o levou ao decbito prolongado, podendo apresentar ansiedade, apatia,
depresso, labilidade emocional, isolamento social entre outros. O fisioterapeuta atua sobre os
efeitos causados pela imobilidade do paciente restrito ao leito, bem como, a diminuio do
tempo de permanncia na UTI.
Considera-se que de sete a dez dias seja um perodo de repouso, de doze a quinze dias j
considerada imobilizao e a partir de quinze dias considerado decbito de longa durao
(KANOBEL, 2004).
Para cada semana de imobilizao completa no leito um paciente pode perder de 10 a 20%
(dez a vinte porcento) de seu nvel inicial de fora muscular. Por volta de quatro semanas,
50% (cinquenta porcento) da fora inicial pode estar perdida.
A utilizao da Cinesioterapia motora como preveno da Sndrome da Imobilidade
Prolongada (SIP) visa estabelecer um bom prognstico fsico-funcional do paciente no
ambiente da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A persistncia da imobilidade implicar em
complicaes clnicas como: disfunes osteomusculares, disfunes no sistema tegumentar,
e no sistema cardiorrespiratrio, comprometimento do sistema geniturinrio, e sistema
gastrointestinal, surgimento de lceras de presso, entre outros.
QUADRO CLNICO
A Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) ocasiona comprometimento generalizado,
agravando sobremaneira, a evoluo do paciente no leito da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), acometendo principalmente: sistema musculoesqueltico, sistema cardiovascular,
sistema respiratrio, sistema tegumentar, sistema geniturinrio e sistema gastrointestinal.
O sistema musculoesqueltico o mais acometido pelo imobilismo, podendo levar a
osteoporose (osteopenia), fibrose, contraturas, atrofias, diminuio da fora muscular e
reduo de resistncia muscular.
Nos msculos ocorre diminuio no nvel de glicognio e ATP, em funo da reduo da
atividade muscular que pode comprometer a irrigao sangunea, levando a baixa tolerncia
ao cido ltico e dbito de oxignio, com consequente diminuio da
capacidade oxidativa, diminuio da sntese protica, da fora muscular e do nmero de
sarcmeros, ocorre atrofia das fibras musculares tipo I e II, diminuio do torque (fora), falta
de coordenao ocasionada pela fraqueza generalizada resultando em m qualidade de
movimento, dor e desconforto (imobilidade induz a um processo inflamatrio tecidual com
liberao de substncias que estimulam os receptores locais de dor).
Se o paciente crtico apresenta uma leso de motoneurnio superior, a velocidade de
hipotrofia aumentada, a alterao do estado de conscincia tambm leva perda de
integridade mioneural (PRESTO & DAMZIO, 2009).
Nas articulaes pode ocorrer atrofia da cartilagem com desorganizao celular nas inseres
ligamentares, proliferao do tecido fibrogorduroso e, consequentemente, espessamento da
sinvia e fibrose capsular, ocasionando uma diminuio amplitude de movimento articular.
O mau posicionamento do paciente no leito, devido longa durao da restrio ao leito
favorece o surgimento de dores e bloqueio nas articulaes, podendo evoluir para uma
anquilose. As principais articulaes afetadas so: a coluna lombar, quadril, joelhos,
tornozelos, arcos plantares (levando a um posterior comprometimento da marcha), ombros,
cotovelos e msculos intrnsecos das mos (levando a um posterior comprometimento nas
atividades da vida diria, alimentao e habilidade motora fina).
Nos ossos ocorre diminuio da massa ssea total devido ao aumento da atividade
osteoclstica e diminuio da atividade osteoblstica, aumento da excreo de clcio (mxima
atividade osteoclstica) levando a osteoporose por desuso, pois, a reabsoro ssea feita
atravs dos estmulos de presso e trao que este segmento recebe ao longo do dia, onde nos
locomovemos e pressionamos estas estruturas.
No sistema tegumentar comum encontrarmos atrofia de pele e lceras de presso devido
compresso de partes moles entre um plano sseo e um plano de contato com o leito por
tempo prolongado. As lceras de presso ocorrem quando uma presso extrnseca sobre a pele
supera a presso capilar mdia que de 32 mm/Hg, diminuio do fluxo sanguneo e a
oxigenao tecidual. Em pacientes deitados, a presso sobre o sacro e o trocnter pode variar
de 100 a150 mm/Hg.
As lceras de presso so definidas como reas localizadas de necrose celular causada por
isquemia, a qual privou os tecidos de oxignio e nutrientes. Podem ocorrer em qualquer ponto
do corpo, principalmente em reas com pouco tecido adiposo e proeminncia ssea, tais
como: regio occipital, orelhas, escpulas, coluna torcica, sacro, trocnter maior, malolo
lateral e calcanhares.
A idade avanada pode aumentar o risco, devido alterao na pele, incluindo menor
espessura e vascularizao da camada drmica, retardo da capacidade de cura de feridas e
redistribuio do tecido adiposo da camada subcutnea para a camada mais profunda.
A lcera de presso um dos principais exemplos de integridade da pele prejudicada,
representa uma ameaa direta para o individuo, causando desconforto, demora na reabilitao
e alta, podendo causar morte por septicemia.
No sistema cardiovascular a restrio prolongada ao leito causa hipotenso postural
(diminuio da tolerncia ao ortostatismo), linfedema de membros inferiores e acidentes
tromboemblicos, diminuio do consumo mximo de oxignio e aumento da frequncia
cardaca mxima.
No sistema respiratrio as complicaes so ameaadoras a vida do paciente durante
imobilidade prolongada. Ocorre uma reduo do volume corrente, do volume minuto, da
capacidade pulmonar total, da capacidade residual funcional, do volume residual e volume
expiratrio forado. Todas essas funes estariam diminuindo de 25 a 50% no imobilismo.
Os movimentos diafragmticos e intercostais so diminudos com a posterior perda da fora
muscular. A respirao fica mais superficial e a troca gasosa alveolar reduzida com um
aumento relativo de dixido de carbono nos alvolos, aumentando a frequncia respiratria.
A eliminao das secrees mais difcil pelo decbito no leito, a regio pulmonar que fica
em contato com o leito, acumula mais secrees do que a regio livre. A tosse menos
efetiva, somada fraqueza dos msculos abdominais e funo ciliar, diminuindo e
predispondo o paciente a infeces respiratrias (pneumonias) e atelectasias.
A relao ventilao-perfuso (V/Q) pode mudar nas reas dos pulmes que ficam em contato
com o leito, com a ventilao insuficiente e perfuso excessiva ocorre SHUNT pulmonar e
hipoxemia.
No sistema gastrointestinal a imobilidade provoca alteraes como falta de apetite e reduo
da peristalse, levando a absoro mais lenta de nutrientes. Esse fator, junto perda de volume
plasmtico e desidratao que acompanham o repouso no leito, geralmente resultam em
constipao e formao de fecaloma.
No sistema geniturinrio, o esvaziamento da bexiga comprometido pelo decbito dorsal,
devido dificuldade de gerar presso intra-abdominal nessa posio. Ocorre enfraquecimento
dos msculos abdominais, restrio nos movimentos diafragmticos e relaxamento
incompleto do assoalho plvico, provocando a reteno urinria parcial (disria), levando a
infeces de repetio, ocasionando insuficincia renal aguda, podendo evoluir para crnica.
TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO
O movimento uma caracterstica fundamental de toda a vida animal e meio pelo qual o
organismo se adapta s exigncias exercidas sobre ele pelo ambiente no qual vive
(GARDINER, 1995).
O aspecto dinmico do corpo um dos principais responsveis por sua sade. Qualquer
alterao desta dinmica afetar cedo ou tarde, tanto o sistema msculo esqueltico como
outras estruturas responsveis pelo bom funcionamento do nosso organismo. Somos
dependentes da atividade fsica para que haja a manuteno do sistema msculo esqueltico e
para a melhor funo de nossos rgos internos.
A imobilidade e suas complicaes so problemas comuns em pacientes internados em
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), por isso, no ato da admisso deste paciente o
fisioterapeuta, aps realizar a anamnese, prescreve o tratamento cinesioteraputico para a
preveno da Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) e seus comprometimentos.
Os problemas que surgem com a perda de funo so diferentes para cada paciente, portanto,
o tratamento deve ser planejado para vir de encontro s necessidades individuais de cada
indivduo (GARDINER, 1995).
A utilizao da Cinesioterapia motora em pacientes imobilizados, restrito ao leito de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por tempo prolongado, tem como objetivo minimizar os
efeitos negativos do imobilismo, tempo de internao e melhorar a qualidade de vida do
paciente.
A indicao da Cinesioterapia motora bastante criteriosa, necessita de avaliao para traar
objetivos e estratgias, alm de reavaliaes frequentes, visando atualizao junto
progresso do paciente e em consequncia da necessidade de correes ao programa inicial
at atingir o potencial de recuperao esperado.
A Cinesioterapia motora previne a atrofia por desnervao. Mudanas de decbitos ajudam na
preveno da instalao da hipotrofia muscular, uma vez que o decbito dorsal acelera a
hipotrofia muscular, enquanto que o decbito ventral retarda esta hipotrofia.
Presto et al. (2009) sugere o uso da massoterapia por meio de amassamento para o aumento
da circulao do fluxo sanguneos e da frico para liberao de aderncias sobre as partes
moles. Com a melhora do nvel de conscincia do paciente, realizar a Cinesioterapia ativa
enfatizando contraes isomtricas leves como propsito a manuteno do trofismo muscular.
Na evoluo do paciente, realizar exerccios isotnicos submximos para o aumento gradual
da fora muscular. Estas condutas tambm atuam na preveno das alteraes circulatrias
dos membros inferiores e superiores (exerccios metablicos). Quando possvel, devemos
prescrever a sedestao no leito e o treinamento ortosttico.
A Cinesioterapia motora ativa atua tambm, na condio nutricional ajudando na fixao de
protena pelos msculos e no aumento da utilizao de cidos graxos livres, conferindo, de
forma contundente, a melhora da funcionalidade muscular, no que desrespeito a tonicidade.
A fora tarefa da European Respiratory Society and European Society of Intensive Care
Medicine estabeleceu recentemente uma hierarquia de atividades de mobilizao na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), baseada numa sequncia de intensidade do exerccio: mudana de
decbitos e posicionamento funcional, mobilizao passiva, exerccios ativo assistidos e
ativos, uso de ciclo ergmetros na cama; sentar na borda da cama; ortostatismo, caminhada
esttica, transferncia da cama para poltrona, exerccios na poltrona e caminhada. A fora
tarefa recomenda ainda que o Fisioterapeuta deva ser o profissional responsvel pela
implantao e gerenciamento do plano de mobilizao. Esta sequncia de atividades reflete
especificidade para o treinamento de futuras tarefas funcionais.
Estas atividades so demonstradas como seguras e viveis por alguns estudos, devendo ser
iniciadas o mais precocemente possvel, ou seja, logo aps a estabilizao dos maiores
desarranjos fisiolgicos como as situaes de choque no controlado. Uma equipe bem
treinada e motivada fundamental para realizar estas atividades com segurana e eficincia.
A adoo da postura ortosttica com assistncia da prancha recomendada para readaptar os
pacientes posio vertical, quando esses so incapazes de se levantar ou mobilizar com
segurana, mesmo com considervel assistncia. O uso da postura ortosttica na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) tem sido encorajado como tcnica para diminuir os efeitos adversos
da imobilizao prolongada.
Apesar da falta de ensaios clnicos avaliando o impacto no prognstico dos pacientes crticos,
a posio ortosttica foi includa como modalidade de tratamento em recente consenso por
fisioterapeutas ingleses. Seus supostos benefcios incluem melhora no controle autonmico
do sistema cardiovascular, facilitao da ventilao e troca gasosa, facilitao do estado de
alerta, estimulao vestibular e facilitao da resposta postural anti gravitacional.
O posicionamento adequado no leito, atravs de postura antideformante e da Cinesioterapia
motora passiva, executada o mais precocemente possvel, atravs de movimentos em flexo e
extenso dos membros superiores e inferiores, mobilizao articular ou dissociao do quadril
e cintura escapular, os quais geram um baixo estresse ventilatrio, podem sobrepor aos
exerccios aerbicos. Conforme a evoluo do paciente, progredir para a cinesioterapia
motora ativa, na qual o paciente orientado a realizar movimentos em diagonal e em flexoextenso (maior amplitude de movimento das articulaes) e, dependendo da evoluo
clnica, pode-se evoluir para exerccios em sedestao ou ortostase, os quais contribuiro para
a preveno das disfunes articulares.
Na preveno das lceras de presso, o fisioterapeuta, a famlia e os outros integrantes da
equipe multidisciplinar de sade devem atuar juntos. Desenvolver um protocolo de
abordagem que envolva uma inspeo diria da pele, higienizao, manuteno da oleosidade
da pele, vesturio bem adaptado, ausncia de objetos e alimentao no leito, lenis sempre
esticados, colches adaptados (tipo casca de ovo, pneumtico ou dgua), transferncia de
decbito (conforme rotina da UTI) e um posicionamento adequado no leito que facilite a
organizao dos membros e garanta uma melhor distribuio da fora peso, uso de rteses,
coxins, almofadas e outras adaptaes para facilitar o ajuste postural do paciente.
O posicionamento adequado do paciente no leito, fisiologicamente, facilita o transporte de
oxignio atravs do aumento da relao ventilao/perfuso (V/Q), aumenta os volumes
pulmonares, reduz o trabalho respiratrio, diminui o trabalho cardaco e aumenta o clearance
mucociliar.
A mobilizao precoce diminui a incidncia de tromboembolismo e de trombose venosa
profunda (TVP) alm de permitir a melhor oxigenao e nutrio dos rgos internos. A
movimentao ativa quando possvel, a mobilizao passiva a massoterapia, padres
ventilatrios e uso de incentivadores inspiratrios so as principais formas de prevenir as
alteraes nos sistemas viscerais.
A monitorizao dos parmetros do paciente durante e aps a realizao dos exerccios
teraputicos, obrigatrio e recomenda-se: avaliar o padro ventilatrio do paciente e o
conforto a ventilao mecnica (VM), mudanas excessivas na presso arterial, frequncia
cardaca, saturao perifrica de oxignio, arritmias no eletrocardiograma, alm de observar a
conscincia do paciente e verificar a dosagem de drogas vasoativas e sedativas. Pacientes com
instabilidade hemodinmica, que necessitam de suporte ventilatrio no so recomendados a
realizarem atividades de mobilizao mais intensa e agressiva.
O status fisiolgico do paciente crtico pode flutuar consideravelmente ao longo do dia, por
isso, devemos estar atentos a algumas contraindicaes quanto mobilizao precoce do
paciente. Alguns manuseios podem elevar a presso intracraniana, como, por exemplo,
algumas manobras articulares de tronco e posicionamento inadequado cervical em decbito
lateral. Evitar a mobilizao durante a hemodilise. Durante a sua conduta, o Fisioterapeuta
deve estar atento as condies clnicas do paciente e sua resposta diante ao tratamento, isto
exige a elaborao de um plano de tratamento individualizado e com maior flexibilidade
possvel, baseado no status fisiolgico que o paciente apresentar na hora da atividade.
Sabemos dos riscos e limitaes na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e as condies
clnicas so fundamentais para orientao de nossas condutas.
A Cinesioterapia motora deve ter um papel cada vez mais relevante no arsenal de tratamento
do Fisioterapeuta Intensivista, para o tratamento dos pacientes internados em leitos de uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
O exerccio teraputico considerado um elemento central na maioria dos planos
de assistncia da fisioterapia, complementado por outras intervenes, com a
finalidade de aprimorar a funo e reduzir uma incapacidade (HALL & BRODY,
2001).
O exerccio teraputico uma das ferramentas chave que um fisioterapeuta usa
para restaurar e melhorar o bem estar musculoesqueltico ou cardiopulmonar do
paciente. (KISNER & COLBY, 1998).
2. Mtodo
O presente estudo tem como finalidade realizar uma reviso bibliogrfica da literatura
nacional abordando o tema Cinesioterapia motora como preveno da Sndrome da
Imobilidade Prolongada (SIP) em pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI), tendo como objetivos identificar os efeitos da cinesioterapia motora na preveno da
SIP, descrever os benefcios da preveno da SIP e identificar as consequncias da SIP
quando no for prevenida. A pesquisa da literatura e busca de artigos cientficos foram
realizadas nas bases de dados das revistas eletrnicas: MedLine (Literatura Internacional em
Cincias e Sade), LILACS (Literatura Latino Americana e do Caribe em Cincias e Sade),
Cochrane, PubMed, site institucional da ANVISA (Agncia Nacional de Vigilncia
Sanitria), portal da ASSOBRAFIR (Associao Brasileira de Fisioterapia Cardiorrespiratria
e Fisioterapia em Terapia Intensiva) e do COFFITO (Conselho Federal de Fisioterapia e
Terapia Ocupacional), no perodo de setembro de 2011 a maro de 2012, onde os artigos
foram selecionados conforme os objetivos proposto neste estudo.
3. Resultados
Os resultados obtidos atingiram as expectativas, independentemente da escassez de contedo
e da falta de estudos complementares, mais concretos e robustos, no que diz respeito
atuao do profissional Fisioterapeuta dentro da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no
tocante ao desenvolvimento de suas atividades, bem como, sua atuao direta na preveno da
Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP), utilizando as tcnicas de Cinesioterapia.
4. Discusso
de suma importncia atuao do Fisioterapeuta na preveno da Sndrome do Imobilismo
Prolongando (SIP), pois, somente fazendo uso das tcnicas de Cinesioterapia, devidamente
preconizadas e, dentro do contexto de multidisciplinaridade, far a diferena na evoluo do
paciente, evitando sequelas e demora significativa na permanncia deste paciente na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI).
A Cinesioterapia motora constitui-se em um arsenal teraputico bastante seguro e vivel, de
fcil emprego dentro das Unidades de Terapia Intensiva (UTI), pois, pode ser efetuada de
10
maneira ativa e/ou passiva de acordo com a interao com o paciente, sua condio clnica e
resposta ao tratamento.
A Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) atinge uma parcela significativa dos pacientes
internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O imobilismo causa diversas
complicaes, tais como: perda da fora muscular, bloqueio e dores articulares,
comprometimento cardiovascular, complicaes respiratrias e pulmonares, lceras de
presso, entre outros, comprometendo o quadro geral do paciente.
Os pacientes internados em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) tm mltiplos problemas
que mudam rapidamente de acordo com a evoluo da patologia e conduta mdica, por isso
no devemos usar tratamentos padronizados. O Fisioterapeuta deve realizar uma avaliao
diria para orientar-se na prescrio da sua conduta fisioterapeutica sabendo que, frequentes
modificaes podem ocorrer para cada paciente.
A Cinesioterapia motora, adotada como conduta na preveno da Sndrome da Imobilidade
Prolongada (SIP) traz resultados favorveis para pacientes crticos, tais como: o retorno mais
rpido funcionalidade, diminuio do tempo de desmame, menor tempo de permanncia na
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e no hospital.
Apesar da escassez de contedo, no obstante a diversidade metodolgica dos estudos
encontrados, os quais demonstram nitidamente a utilizao da Cinesioterapia motora como
recurso teraputico, com resultados robustos quando empregada precocemente, sugestiona
uma alternativa slida preveno da Sndrome da Imobilidade Prolongada (SIP) adquirida
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entretanto, necessrio um maior aprofundamento na
temtica, utilizando modelos pr-definidos de conduta fisioterapeutica, obtidos atravs de
estudos randomizados, controlados, com maior casustica e com melhor padronizao para
descrio e comparao de diferentes protocolos de tratamento, socializando as informaes
tcnicas para melhorar a interatividade nos tratamento, trazendo novas metodologias,
fundamentadas em estudos alentados e de fcil acesso.
Aps a alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), os pacientes demonstram inabilidades que
podem perdurar por at um ano, sendo incapazes de retornar ao trabalho devido fadiga
persistente, fraqueza e pobreza do status funcional. A Fisioterapia, atravs da Cinesioterapia
motora, tem um potencial de restaurar a perda funcional. A Cinesioterapia motora
considerada um elemento central na maioria dos planos de assistncia da Fisioterapia, com a
finalidade de aprimorar a funcionalidade fsica e reduzir incapacidades, investindo na
readaptao do paciente ao seu meio e o pronto restabelecimento de suas atividades da vida
diria.
5. Concluso
Levando-se em considerao uma nova dinmica dentro de uma Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), de uma nova contextualizao, onde o profissional fisioterapeuta est inserido em uma
equipe multidisciplinar, fazendo parte integrante do suporte bsico e avanado ao paciente,
seja por deliberao de uma Resoluo da ANVISA (RDC N 07, 24 de fevereiro de 2010),
ou, pelo entendimento consolidado em literatura cientfica, bem como, na prtica dentro das
Unidades de Terapia Intensiva , sobremaneira importante, a atuao deste profissional e de
sua qualificao tcnica, para proporcionar um atendimento diferenciado e individualizado,
visando uma evoluo satisfatria. No obstante, o provimento das condies mnimas
necessrias para o pleno exerccio de sua atividade profissional, corrobora, de forma singular,
para a assistncia integral ao paciente, visando um prognstico favorvel e o pleno
restabelecimento de sua higidez.
11
7. Referncias Bibliogrficas
GARDINER, M. Dena. Manual de terapia por exerccios. So Paulo: Santos, 1995.
GREVE, Julia M. D.; AMATUZZI, Marco Martins. Medicina de Reabilitao aplicada
ortopedia e traumatologia. So Paulo: Roca, 1999.
HALL, Carrie; BRODY, Lori Thein. Exerccios Teraputicos em busca da funo. So
Paulo: Manole, 2001.
KISNER, Carolyn; COLBI, Lynn Allen. Exerccios teraputicos: fundamentos e tcnicas.
3. Ed. So Paulo: Manole, 1998.
REBELATO, J.R.; BATON, S. P. Fisioterapia no Brasil - perspectivas de evoluo como
campo profissional e como rea de conhecimento. So Paulo: Manole, 1987.
SHESTACK, Robert. Fisioterapia prtica. 3. Ed. So Paulo: Manole, 1987.
THOMPSON, Ann et al. Fisioterapia de Tidy. 12. Ed. So Paulo: Santos, 1994.
AMATUZZI, Marco Martins. Medicina de Reabilitao aplicada ortopedia e
traumatologia. Ed. 1. Roca. So Paulo, 1999.
DELISA, J. . Medicina de Reabilitao: Principios e Prticas. Ed. Manole. So Paulo,
1992.
GARY, A. Okamoto. Medicina Fsica e Reabilitao. Ed. Manole. So Paulo, 1990.
KNOBEL, E. Condutas no paciente grave. So Paulo, 1998.
LIANZA, Sergio. Medicina Fsica e Reabilitao. 3 Edio Guanabara, So Paulo, 2001.
PRESTO, Bruno; DAMZIO, Luciana. Fisioterapia na UTI. 2 Edio Elsevier, Rio de
Janeiro, 2009.
BORGES, Vanessa Marcos; OLIVEIRA, Luiz Rogrio Carvalho de; PEIXOTO, Elzo;
CARVALHO, Nilza Aparecida Almeida de Carvalho. Fisioterapia motora em pacientes
adultos
em
terapia
intensiva.
So
Paulo,
2009.
Disponvel
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103507X2009000400016&lng=p
t&nrm=iso&tlng=pt> Acesso em: 10 Mar 2012.
doi: org/10.1590/S0103507X2009000400016.
SILVA, A.P; MAYNARD, K; CRUZ, M. G. E f e i t o s d a F i s i o t e r a p i a M o t o r a e m
P acientes Crticos: reviso de literatura. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. 2010; 22(1):
85-91. Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Vol.22 n. 1. So Paulo Mar. 2010. Disponvel
em: <http://www.scielo.br/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0103-507X2010000100014
dx.> Acesso em: 16 Mar 2012. doi: org/10.1590/S0103-507X2010000100014
Dirio Oficial REPBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Imprensa Nacional BRASLIA
DF N 37 D.O.U de 25/02/10 seo 1 p. 48 Ministrio da Sade. Agncia Nacional de
Vigilncia Sanitria. RESOLUO-RDC N 7, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2010.
Disponvel em: <http://www.saude.mag.gov.br/atos.../RDC-7_ANVISA%20240210. pdf>
Acesso em: 18 Mar 2012.
LEDUC; S. M. M, Imobilidade e Sndrome da Imobilizao In. Freitas EV et al. Tratado de
Geriatria e Gerontologia, 1 edio, Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002, 645-653.
GOSSELINK R, BOTT J, JOHNSON M, et al - Physiotherapy for adult patients with
critical illness: recommendations of the European Respiratory Society and European
12
Society of Intensive Care Medicine Task Force on Physiotherapy for Critically Ill
Patients. Intensive Care Med, 2008; 34:11881199.
FRANA, E. ET; FERRARI, F.R; FERNANDES, P. V; CAVALCANTE, R; DUARTE, A;
AQUIM, E. E; DAMASCENO, M.C. P. Fora tarefa sobre a fisioterapia em pacientes
crticos adultos: diretrizes da Associao Brasileira de Fisioterapia Respiratria e
Terapia Intensiva (ASSOBRAFIR) e Associao de Medicina Intensiva Brasileira
(AMIB). Disponvel em: <http://www.amib.org.br/pdf/DEFIT.pdf> Acesso em: 18 de Mar
2012.
Você também pode gostar
- Aula 1 - Introdução À Fisioterapia EsportivaDocumento36 páginasAula 1 - Introdução À Fisioterapia EsportivaRonaldo De Andrade50% (2)
- IMAGINOLOGIA FISIOTERAPIA Modulo 1 A 4Documento66 páginasIMAGINOLOGIA FISIOTERAPIA Modulo 1 A 4Syara Sants100% (1)
- Fisioterapia NeurológicaDocumento29 páginasFisioterapia NeurológicaPamela Paixão100% (1)
- 1.a Fisioterapia o Profissional Fisioterapeuta e Seu Papel em Estética Perspectivas Históricas e Atuais 2004Documento4 páginas1.a Fisioterapia o Profissional Fisioterapeuta e Seu Papel em Estética Perspectivas Históricas e Atuais 2004mafalda1980Ainda não há avaliações
- Atividade QDT Julia e MilenaDocumento9 páginasAtividade QDT Julia e MilenaMaria Julia Rodrigues Lopes de PaivaAinda não há avaliações
- Meyrellyson Meireles Atividade 03Documento14 páginasMeyrellyson Meireles Atividade 03Gonçalo RufinoAinda não há avaliações
- Atividade COFFITODocumento4 páginasAtividade COFFITOAdriel HenriqueAinda não há avaliações
- Resumo:: Performance of Physiotherapy in The Ampute Patient - Literature ReviewDocumento6 páginasResumo:: Performance of Physiotherapy in The Ampute Patient - Literature ReviewSalita SilveiraAinda não há avaliações
- Unidade Iii - CinesioterapiaDocumento23 páginasUnidade Iii - CinesioterapiaLaurent CaioAinda não há avaliações
- CinesioterapiaDocumento7 páginasCinesioterapiaKelly PinheiroAinda não há avaliações
- Apresentação de TCC Geométrico e Retrô Bege e Rosa - 20231024 - 133942 - 0000Documento14 páginasApresentação de TCC Geométrico e Retrô Bege e Rosa - 20231024 - 133942 - 0000PandoraAinda não há avaliações
- Fisioterapia: áreas de atuação e perfil do profissionalDocumento9 páginasFisioterapia: áreas de atuação e perfil do profissionalAvelino AugustoAinda não há avaliações
- Manual de Boas Práticas em FisioterapiaDocumento85 páginasManual de Boas Práticas em FisioterapiaPriscilla Akao MoriAinda não há avaliações
- Blue Minimal Healthy Life PresentationDocumento17 páginasBlue Minimal Healthy Life Presentationjose.itaborahyAinda não há avaliações
- Trabalho de PsicomotricidadeDocumento12 páginasTrabalho de PsicomotricidadeArilton Pindali PindaliAinda não há avaliações
- Trabalho Do Texto Das Areas Da FisioterapiaDocumento5 páginasTrabalho Do Texto Das Areas Da FisioterapiaRaquel Rocha SantosAinda não há avaliações
- Fisioterapia Na UTI 2Documento14 páginasFisioterapia Na UTI 2lorennakarollynnneAinda não há avaliações
- Fisioterapia Na UTI 3Documento14 páginasFisioterapia Na UTI 3lorennakarollynnneAinda não há avaliações
- UntitledDocumento18 páginasUntitledABEL DANIELAinda não há avaliações
- Fisioterapia e suas áreas de atuaçãoDocumento6 páginasFisioterapia e suas áreas de atuaçãoNayara P SantosAinda não há avaliações
- Linha de Pesquisa FisioterapiaDocumento4 páginasLinha de Pesquisa FisioterapiaderaldoAinda não há avaliações
- Fisioterapia em membros superiores na oncologiaDocumento2 páginasFisioterapia em membros superiores na oncologiaSabrina OliveiraAinda não há avaliações
- Power 2Documento14 páginasPower 2kusadilambuta82Ainda não há avaliações
- Plano de Carreira FisioterapiaDocumento15 páginasPlano de Carreira FisioterapiaGerlaine FerreiraAinda não há avaliações
- Atuação Da Fisioterapia Na OncologiaDocumento23 páginasAtuação Da Fisioterapia Na OncologiaDalila MeurerAinda não há avaliações
- AnatomiaDocumento13 páginasAnatomiapmon28027Ainda não há avaliações
- Atuação Da Fisioterapia Motora Na Prevenção e Recuperação Do Declinio Funcional em Pacientes CriticosDocumento23 páginasAtuação Da Fisioterapia Motora Na Prevenção e Recuperação Do Declinio Funcional em Pacientes CriticosLorena SchuffnerAinda não há avaliações
- Fisioterapia Musculoesqueletica Aula 11, CINESIOTERAPIADocumento10 páginasFisioterapia Musculoesqueletica Aula 11, CINESIOTERAPIALuís FernandoAinda não há avaliações
- Avaliacao FisioterapeuticaDocumento14 páginasAvaliacao FisioterapeuticaDani MeloAinda não há avaliações
- MODELO Relatório de Aulas Práticas ReeducaçãoDocumento5 páginasMODELO Relatório de Aulas Práticas Reeducaçãomarlucialucia16Ainda não há avaliações
- Reabilitação Fisioterapêutica No Pós-Operatório Imediato e Tardio de Lesões Do Manguito RotadorDocumento8 páginasReabilitação Fisioterapêutica No Pós-Operatório Imediato e Tardio de Lesões Do Manguito RotadorWallison Leão100% (1)
- A Importancia Do Tratamento Fisioterapeutico No Pos Operatorio de Lesao de Ligamento Cruzado AnterioDocumento6 páginasA Importancia Do Tratamento Fisioterapeutico No Pos Operatorio de Lesao de Ligamento Cruzado AnterioMarcia CarvalhoAinda não há avaliações
- Fisioterapia Mastectomia Pompages TécnicasDocumento11 páginasFisioterapia Mastectomia Pompages TécnicasIsabella LeoneAinda não há avaliações
- Resenha - Instabilidade Lombar (Tratamento)Documento4 páginasResenha - Instabilidade Lombar (Tratamento)Eduarda MendesAinda não há avaliações
- O Papel Do Fisioterapeuta IntensivistaDocumento2 páginasO Papel Do Fisioterapeuta IntensivistaRafaela SouzaAinda não há avaliações
- Mobilização Precoce No Paciente Crítico Internado em Unidade de Terapia IntensivaDocumento6 páginasMobilização Precoce No Paciente Crítico Internado em Unidade de Terapia IntensivaBruno100% (1)
- Histórico da Terapia Manual ao redor do mundoDocumento29 páginasHistórico da Terapia Manual ao redor do mundoThiago Penna ChavesAinda não há avaliações
- Aula 1Documento13 páginasAula 1Thamires MedeirosAinda não há avaliações
- Cartilha - Cinesioterapia para Pessoas IdosasDocumento33 páginasCartilha - Cinesioterapia para Pessoas IdosasDenis Carlos dos SantosAinda não há avaliações
- O Que Faz Um FisioterapeutaDocumento4 páginasO Que Faz Um FisioterapeutaSuzanne NunesAinda não há avaliações
- Beatriz-Revsaude, 6 - Reabilitação Após Lesão (8006)Documento8 páginasBeatriz-Revsaude, 6 - Reabilitação Após Lesão (8006)Jenifer MendesAinda não há avaliações
- Atuação Da Fisioterapia em Saúde Da MulherDocumento21 páginasAtuação Da Fisioterapia em Saúde Da MulherVanessa Cristina0% (1)
- AvaliacaosDocumento11 páginasAvaliacaosVancley CoelhoAinda não há avaliações
- Casos Clínicos - TTMDocumento2 páginasCasos Clínicos - TTMJosé EddAinda não há avaliações
- Fisioterapia idososDocumento14 páginasFisioterapia idososEliezer CavalcantiAinda não há avaliações
- Fisioterapia na equoterapiaDocumento8 páginasFisioterapia na equoterapiaGiulyanna Poças FernandesAinda não há avaliações
- Cinesioterapia e Exercícios FisioterapêuticosDocumento21 páginasCinesioterapia e Exercícios FisioterapêuticosDaniele cosmoAinda não há avaliações
- 052 O Papel Da Fisioterapia No Ambiente HospitalarDocumento6 páginas052 O Papel Da Fisioterapia No Ambiente HospitalarKarine CastroAinda não há avaliações
- Fisioterapia e ReabilitaccedilatildeDocumento17 páginasFisioterapia e ReabilitaccedilatildeAutoGP MultimarcasAinda não há avaliações
- Evolução Histórica da FisioterapiaDocumento6 páginasEvolução Histórica da FisioterapiaAntonio ValentimAinda não há avaliações
- Mobilização Precoce Na UTIDocumento5 páginasMobilização Precoce Na UTICíntia CoimbraAinda não há avaliações
- Fisioterapia hospitalarDocumento3 páginasFisioterapia hospitalarRamon RodriguesAinda não há avaliações
- Fisioterapia Motora Precoce Nos Pacientes Internados em Unidade de Terapia IntensivaDocumento10 páginasFisioterapia Motora Precoce Nos Pacientes Internados em Unidade de Terapia Intensivaanilzialuis068Ainda não há avaliações
- Mobilização articular na fisioterapia: princípios e técnicasDocumento7 páginasMobilização articular na fisioterapia: princípios e técnicasHariellen RochaAinda não há avaliações
- Tratamento fisioterápico Síndrome Túnel CarpoDocumento16 páginasTratamento fisioterápico Síndrome Túnel CarpoRenison SoeiroAinda não há avaliações
- Efeito Da Inibição MuscularDocumento6 páginasEfeito Da Inibição MuscularÍtalo F. Menezes MarquesAinda não há avaliações
- Produto Te - Cnico Finalizado - CompressedDocumento54 páginasProduto Te - Cnico Finalizado - CompressedLeandro NetoAinda não há avaliações
- AVALIAÇÃO-FISIOTERÁPICA-E-ACOMPANHAMENTO-EM-UTI-DIAGRAMADADocumento30 páginasAVALIAÇÃO-FISIOTERÁPICA-E-ACOMPANHAMENTO-EM-UTI-DIAGRAMADAThaisa Gomes CostaAinda não há avaliações
- O espaldar: um aparelho de mecanoterapia para tratamento de lesões musculoesqueléticasDocumento10 páginasO espaldar: um aparelho de mecanoterapia para tratamento de lesões musculoesqueléticasGabrielli ZavatieriAinda não há avaliações
- O Efeito Imediato Da Técnica de Inibição Dos MúsculosDocumento22 páginasO Efeito Imediato Da Técnica de Inibição Dos MúsculosEliane RiosAinda não há avaliações
- ErgonomiaDocumento402 páginasErgonomiaravennaleiteAinda não há avaliações
- Ergo Fundamentos PDFDocumento92 páginasErgo Fundamentos PDFIsabella GasparAinda não há avaliações
- 395 Aula Ergonomia CognitivaDocumento60 páginas395 Aula Ergonomia CognitivaVanderson RosaAinda não há avaliações
- 951 5463 3 PB PDFDocumento13 páginas951 5463 3 PB PDFravennaleiteAinda não há avaliações
- 7-Vulnerabilidade Idosos AidsDocumento6 páginas7-Vulnerabilidade Idosos AidsravennaleiteAinda não há avaliações
- Revisão da reabilitação cardíaca fase IDocumento10 páginasRevisão da reabilitação cardíaca fase IBruna MontenegroAinda não há avaliações
- Aula AntropometriaDocumento26 páginasAula AntropometriaravennaleiteAinda não há avaliações
- Estelle M. Morin (2001) - Os Sentidos Do Trabalho - AlunoDocumento12 páginasEstelle M. Morin (2001) - Os Sentidos Do Trabalho - AlunoAndrêzza EspíndulaAinda não há avaliações
- Paciente CríticoDocumento22 páginasPaciente CríticoravennaleiteAinda não há avaliações
- Antropometria PDFDocumento44 páginasAntropometria PDFravennaleiteAinda não há avaliações
- Revisão da reabilitação cardíaca fase IDocumento10 páginasRevisão da reabilitação cardíaca fase IBruna MontenegroAinda não há avaliações
- Exercício Físico e Síndrome MetabólicaDocumento6 páginasExercício Físico e Síndrome MetabólicaVinícius CavalcanteAinda não há avaliações
- Consenso DPOC CompletoDocumento52 páginasConsenso DPOC CompletoCynthia LopesAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento8 páginas1 PBravennaleiteAinda não há avaliações
- Artigo 03 Reabilitacao CardiovascularDocumento5 páginasArtigo 03 Reabilitacao CardiovascularravennaleiteAinda não há avaliações
- Diretrizes de Reabilitação Cardíaca PDFDocumento10 páginasDiretrizes de Reabilitação Cardíaca PDFEduardo de SouzaAinda não há avaliações
- Treinamento PropioceptivoDocumento10 páginasTreinamento PropioceptivoAlex SaldanhaAinda não há avaliações
- Protocolos Clínicos de Reabilitação Pulmonar em Pacientes Com DPOCDocumento14 páginasProtocolos Clínicos de Reabilitação Pulmonar em Pacientes Com DPOCravennaleiteAinda não há avaliações
- Anatomia Funcional Da COLUNA VERTEBRALDocumento8 páginasAnatomia Funcional Da COLUNA VERTEBRALravennaleiteAinda não há avaliações
- Alteracoes Da Estrutura Corporal Parte Iix UnlockedDocumento33 páginasAlteracoes Da Estrutura Corporal Parte Iix UnlockedravennaleiteAinda não há avaliações
- 9 Controle MotorDocumento29 páginas9 Controle MotorravennaleiteAinda não há avaliações
- 02 - Tratamento FisioterapYutico Da Paralisia Cerebral FacilitaYYo Neuromuscular e Conceito Neuroevolutivo de Bobath.Documento12 páginas02 - Tratamento FisioterapYutico Da Paralisia Cerebral FacilitaYYo Neuromuscular e Conceito Neuroevolutivo de Bobath.tamiresAinda não há avaliações
- Fisio NeonatalDocumento32 páginasFisio Neonatalmercury1946Ainda não há avaliações
- Alteracoes Da Estrutura Corporal Parte Iix UnlockedDocumento33 páginasAlteracoes Da Estrutura Corporal Parte Iix UnlockedravennaleiteAinda não há avaliações
- 3 Cinesiologia Comprimento Tensao Cargas MecanicasDocumento9 páginas3 Cinesiologia Comprimento Tensao Cargas MecanicasravennaleiteAinda não há avaliações
- Terapia Manual I PDFDocumento11 páginasTerapia Manual I PDFravennaleite100% (1)
- 11 Mecanicacorporal 131128165332 Phpapp02Documento155 páginas11 Mecanicacorporal 131128165332 Phpapp02ravennaleiteAinda não há avaliações
- 3 Cinesiologia Comprimento Tensao Cargas Mecanicas PDFDocumento48 páginas3 Cinesiologia Comprimento Tensao Cargas Mecanicas PDFravennaleiteAinda não há avaliações
- Aula 2 Estudo de CasoDocumento25 páginasAula 2 Estudo de CasoRosa Do SertãoAinda não há avaliações
- Disfunção Sacroilíaca: Confiabilidade Dos Testes Diagnósticos E Suas Implicações Na Terapia ManipulativaDocumento24 páginasDisfunção Sacroilíaca: Confiabilidade Dos Testes Diagnósticos E Suas Implicações Na Terapia ManipulativaravennaleiteAinda não há avaliações
- E-Fólio A - 41037 (2015)Documento3 páginasE-Fólio A - 41037 (2015)Hugo RodriguesAinda não há avaliações
- GUIA DISCURSO TECNOCRATASDocumento1 páginaGUIA DISCURSO TECNOCRATASHelenaCastillodeOlanoAinda não há avaliações
- Ficha de Trabalho - O Lobo - CorDocumento4 páginasFicha de Trabalho - O Lobo - CorSofia GraçaAinda não há avaliações
- Bibliografia Livros ProgramaçãoDocumento8 páginasBibliografia Livros ProgramaçãosancrisxaAinda não há avaliações
- TC L32X5BDocumento80 páginasTC L32X5BjbrennoAinda não há avaliações
- EG-M-497 Sistema Gerador Vapor Caldeira Rev 1Documento14 páginasEG-M-497 Sistema Gerador Vapor Caldeira Rev 1Marcos FernandesAinda não há avaliações
- Ciências Da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias Parte 1-2Documento6 páginasCiências Da Natureza, Matemática e Suas Tecnologias Parte 1-2Paula AbreuAinda não há avaliações
- Conservação de massa e energia em escoamentosDocumento9 páginasConservação de massa e energia em escoamentosJefferson RobertAinda não há avaliações
- Unp-Pr-007-Espaco Confinado Confined SpaceDocumento47 páginasUnp-Pr-007-Espaco Confinado Confined SpaceHiorrannis HannisAinda não há avaliações
- Aula Conjunto MóvelDocumento40 páginasAula Conjunto MóvelThiago ValenteAinda não há avaliações
- Inventos EletrônicosDocumento11 páginasInventos Eletrônicosnatysmbio1173Ainda não há avaliações
- Teste Global 6ºDocumento6 páginasTeste Global 6ºMaria Da Guia FonsecaAinda não há avaliações
- Manual CadnormaDocumento69 páginasManual CadnormaMarcelo José Santos Ferreira100% (1)
- ManualDocumento4 páginasManualGuilherme GuidisperaAinda não há avaliações
- Normas para monografias de pós-graduação em DireitoDocumento17 páginasNormas para monografias de pós-graduação em DireitoOsmar Alves BocciAinda não há avaliações
- O Que É Pós ModernoDocumento36 páginasO Que É Pós Modernojhcg13100% (1)
- 376 - Laicado Dominicano Out - Nov. 2015Documento8 páginas376 - Laicado Dominicano Out - Nov. 2015gabrielfsilvaAinda não há avaliações
- Vivaz Taboão Da SerraDocumento25 páginasVivaz Taboão Da SerraIsaac SilvaAinda não há avaliações
- Rebitador Manual - NRM10NDocumento12 páginasRebitador Manual - NRM10NDiogo Ribeiro Cavalcanti de MagalhaesAinda não há avaliações
- Relatório 03 - 03Documento14 páginasRelatório 03 - 03Paloma Medeiros BaquerAinda não há avaliações
- Indicadores Astrológicos para SaúdeDocumento25 páginasIndicadores Astrológicos para SaúdeMichele PóAinda não há avaliações
- Curso Anatomia Da FaceDocumento110 páginasCurso Anatomia Da Faceana picoliniAinda não há avaliações
- Edital de LeilãoDocumento41 páginasEdital de LeilãoHendrick MenezesAinda não há avaliações
- Estruturalismo: O legado de SaussureDocumento4 páginasEstruturalismo: O legado de SaussureJackson CiceroAinda não há avaliações
- Ed - 1819 - Clique e LeiaDocumento193 páginasEd - 1819 - Clique e LeiaHélber RolembergAinda não há avaliações
- Apostila AnatomiaDocumento60 páginasApostila AnatomiaPhelipe DiasAinda não há avaliações
- Apostila Geografia 9 Ano 2 BimestreDocumento41 páginasApostila Geografia 9 Ano 2 BimestreNúbia Santos100% (2)
- Plano de Aula Lpo9 05ats01Documento3 páginasPlano de Aula Lpo9 05ats01rafaelamorelli0Ainda não há avaliações
- Prova de Matemática 7. Classe 2019Documento2 páginasProva de Matemática 7. Classe 2019Evaristo Das Mangas100% (2)