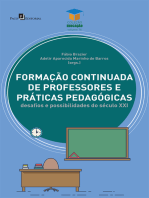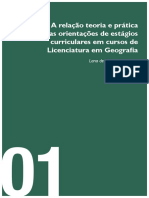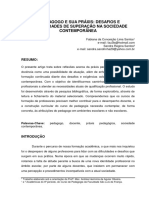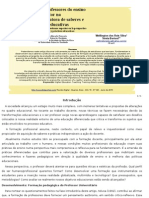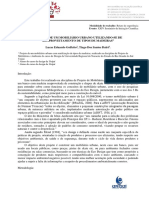Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Desafios da função docente
Enviado por
Talita RubimTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Desafios da função docente
Enviado por
Talita RubimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
Dilemas e desafios da função docente na
sociedade atual: os sentidos da mudança
Dilemmas and challenges of the teacher’s
function in the contemporary society: the
meanings of the change
Regina Cely de Campos Hagemeyer*
RESUMO
A abordagem propõe a constatação das exigências de mudança na
atualidade, decorrentes do quadro complexo em que se dá a educação
escolar hoje para pensar os rumos da atuação/formação do professor. Pro-
curou-se analisar as questões presentes nas tensões vividas pelos docen-
tes no processo pedagógico (curricular), analisando os reflexos do pensa-
mento moderno e pós-moderno na trajetória docente. Em função dessa
proposta, são apresentados resultados da investigação desenvolvida com
alunos(as) da disciplina de Currículos e Programas do Curso de Pedago-
gia e posteriormente aprofundada em Projeto de Pesquisa (Prolicen-UFPR)
no ano de 2001. Os pesquisadores investigaram professores de escolas
públicas de Curitiba e região metropolitana. Buscou-se a leitura de signi-
ficados, necessidades e opções presentes na condução e moldagem das
práticas docentes na atualidade, considerando o conceito de habitus de
BOURDIEU e as possibilidades de análise abertas por SACRISTÁN, GIROUX e
GRAMSCI. Procurou-se desenredar a função docente da profusão de exi-
gências que lhe são postas hoje, numa contribuição ao redirecionamento
das propostas prescritivas de mudança e, sobretudo, de formação do pro-
fessor.
Palavras-chave: função docente, sentido da mudança, modernidade, pós-
modernidade.
* Doutoranda em Educação na Universidade de São Paulo (USP). Professora do Departa-
mento de Planejamento e Administração Escolar da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
E.mail: regicely@terra.com.br
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 67
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
ABSTRACT
This approach presents a panorama of the complex situation of education
in schools nowadays, and the need for changes in the formation/
performance of the teacher. Strains experienced by teachers during the
pedagogical process are analyzed taking into account reflections of modern
and postmodern thinking. According to this proposal, the results of the
investigation developed by graduate and undergraduate students in a dis-
cipline of “Curriculum and Programs” in the Course in Pedagogy, and
later deepened in a Research Project (Procelin-UFPR), in 2001, are
presented here. The researchers investigated teachers from public schools
in Curitiba and Great Curitiba. The meanings, needs and options related
to the teacher’s practice nowadays were understood considering Bordieu’s
concept of habitus, and the analytic possibilities opened by SACRISTÁN,
GIROUX and GRAMSCI. This article tries to disentangle the teacher’s work
from the many demands imposed nowadays, concurring to a redirection
in the prescriptive proposals of changes and specially in the ones referring
to the formation of teachers.
Key-words: teacher’s function, meanings of change, modernity, post-
modernity.
Introdução
Ao refletir sobre a função do professor na atualidade, deparamo-nos
com a dificuldade de combinar os muitos fatores que dizem respeito à forma-
ção humana. O contexto atual, em que os problemas político-econômicos
estão aliados à vertiginosa evolução científica e tecnológica, reflete-se em
mudanças nas formas de ser e viver dos homens em todos os níveis, descon-
certando a quem tem a profissão de ensinar/formar crianças e adolescentes.
Parece que a escola deve mudar e espera-se essa mudança principal-
mente no foco de atuação do professor. Para HARGREAVES (1994), a escola se
constitui hoje em um receptáculo político, no qual se depositam os problemas
insolúveis da sociedade. Nas imposições de revisão curricular e outras, os
professores devem buscar a reconstrução de culturas e identidades nacionais,
sempre em contexto de recessão financeira. Experimentam uma sensação de
intolerável culpabilidade e trabalho intensificado. Observa-se que, mesmo
frente a cada vez mais cargas às estruturas e responsabilidades para a função,
68 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
os professores de alguma forma vêm respondendo às expectativas e exigências
da mudança. Cabe então perguntar: Quais as tensões e conflitos do professor
frente às mudanças sociais e novas propostas pedagógicas? Quais os proces-
sos de criação e construção cotidianos no desenvolvimento do trabalho pe-
dagógico neste contexto? Quais as exigências para sua formação no desen-
volvimento deste trabalho?
Em função dessas questões, procuramos discutir os dilemas da função
docente hoje, buscando no próprio professor e no seu processo de produção
os sentidos da mudança. Partimos de uma reflexão sobre a natureza do traba-
lho pedagógico, para não perder de vista os objetivos educacionais que lhe
são próprios e procuramos considerar três campos que caracterizam o traba-
lho docente: o da competência científica, o técnico-didático e o humano-so-
cial, que também circunscreve a questão cultura. Esses serão tratados de for-
ma sempre inter-relacionada e chamando a atenção ao último, como essência
do trabalho pedagógico, que pode apontar necessidades urgentes da função e
formação docente na atualidade.
Para esse encaminhamento, estamos detectando as exigências enfrenta-
das pelos professores no mundo contemporâneo, para neste quadro, caracteri-
zar as tensões entre as posturas adquiridas a partir da formação no âmbito da
modernidade e as exigências da pós-modernidade. Trazemos as conclusões
de uma pesquisa sobre a produção do professor, realizada na UFPR1, na qual
buscamos novos olhares sobre seu trabalho no locus da sala de aula para iden-
tificar as dimensões e aspectos evidenciados pela prática pedagógica cotidia-
na, levando em conta as exigências de mudança expressas também nas pres-
crições das reformas e propostas educacionais oficiais. Para essa reflexão,
consideramos a noção de habitus de BOURDIEU, buscando elementos de análi-
se da atuação/produção do professor no contexto da cultura escolar.
Estamos partindo de referências circunscritas ao âmbito de posições
críticas2 da educação, que comportam discernimentos em perspectivas da pós-
modernidade. Reorientar o papel do professor face à mudança não significa
que este deva adaptar-se às exigências mercantilizadas ou neoliberais das novas
configurações sociais e econômicas. Buscamos na presente abordagem
1
Referimo-nos aos resultados da pesquisa por nós realizada com alunos(as) do curso de
Pedagogia, da disciplina de Currículos e Programas e de Especialização em Organização do Tra-
balho Pedagógico (1999 e 2000), complementada por Projeto de pesquisa desenvolvido pelo Prolicen
(2001).
2
Referimo-nos às posições críticas, no sentido de que postulam a compreensão da educa-
ção historicamente, a partir de seus condicionantes político-econômico-sociais e das relações de
poder presentes na sociedade.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 69
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
desenredá-lo da profusão de exigências que lhe são feitas, situando as neces-
sidades de sua atuação, formação e engajamento profissional hoje.
Ser professor no contexto atual...
Pode-se dizer que nunca foi tão difícil ser professor como nos dias de
hoje. A trajetória da profissão docente tem estreita ligação com a história da
educação escolar e com os impasses e desafios por ela enfrentados. A indus-
trialização teve seus reflexos organizacionais empresariais, nos moldes
taylorista-fordista refletidos no âmbito escolar, tirando do professor, em grande
medida, a função de pensar/agir sobre o processo pedagógico, função que
coube aos especialistas. A relação vertical dos órgãos oficiais educacionais
ao propor reformas e novas propostas educacionais, vêm alijando o professor
das discussões próprias da função. A profissão docente, nas últimas décadas,
se depara com um processo de valorização/desvalorização, crítica e perda de
identidade. Embora não nos detenhamos especificamente nessa trajetória his-
tórica, consideramos, nos aspectos que nos propusemos a abordar, os reflexos
desse processo.3
No que se refere à competência técnico-didática e científica, o profes-
sor veio construindo o conhecimento com o qual trabalha apoiando-se nos
estatutos da modernidade que têm na ciência, a verdade absoluta, incontestá-
vel. Para ALVES & GARCIA (2000), a educação sempre esteve ligada a um proje-
to, a um sentido e fica difícil para o professor detectar seu papel numa escola
onde sua autoridade não é mais construída pela certeza de métodos e técnicas.
Para FURQUIN, frente à mudança contínua e rápida que dirige nossas pro-
postas de vida e trabalho, a grande preocupação do professor passa a ser a
legitimidade da coisa ensinada, no que se refere ao seu valor educativo, con-
sistência e interesse despertado. O trabalho a partir da cultura compreendida
como herança coletiva e patrimônio intelectual e espiritual requer a transpo-
sição dos limites das comunidades particulares, o que coloca para a escola e
para o professor novas conformações de trabalho e ultrapassagem de frontei-
3
Ver para esse resgate histórico referências desta publicação: NÓVOA, A. Cap. I, 1995 ;
BUENO, B. O.; CATANI, D. B. e SOUSA, C. P., 1998 e ALMEIDA, M. I., 1999 .
70 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
ras. −“Que é pois que, nos conteúdos vivos da cultura, nas significações que
atualmente têm poder de interpelar nossos pensamentos e de regular nossas
existências, pode ser considerado como um valor educativo que justifique um
determinado sistema de ensino?” (FORQUIN, 1993).
Em relação ao aluno, o acesso ao conhecimento se dá concomitantemente
à influência da mídia (televisão, Internet, revistas, cinema, vídeos etc.) e das
relações que se dão na sociedade, como os grupos de amigos, as tribos urba-
nas com valores específicos e maneiras peculiares de vestir, a música, o fute-
bol, a igreja e outras. Na sociedade pós-moderna, a mudança de valores e
significações, em que a própria destruição do homem também está posta, os
professores sentem-se perplexos. Como redimensionar suas funções frente à
validação de todas as formas de ser e estar na sociedade?
Para NÓVOA (1995), a configuração do sistema de ensino mudou radical-
mente e encontramo-nos, por um lado, perante uma autêntica socialização
divergente: a de uma sociedade pluralista, com modelos de educação opostos
e valores diferentes e contraditórios e, por outro, a da diversidade própria da
sociedade multicultural e multilíngue. O caráter unificador no campo cultu-
ral, lingüístico e comportamental em que se afirmava a escola, obriga hoje a
uma ação diversificada na atuação do professor.
As necessidades de mercado apontam para a diminuição crescente de
mão-de-obra em função da evolução da informatização e robotização indus-
trial, causando desemprego em larga escala, além da altíssima concentração
de renda restringindo oportunidades de vida e trabalho. (ALVES & GARCIA, 1993).
Somam-se ao desemprego, a violência e a falta de perspectivas pressionando
o professor a encontrar respostas que ultrapassam as suas possibilidades de
formação.
ESTEVE (Apud. NÓVOA, 1995, p. 95) descreve o que chama de mal-estar
docente, como o conjunto de reações dos professores, como grupo profissio-
nal que se desajusta frente à mudança social. Destaca fatores de primeira
ordem, que incidem diretamente sobre a ação do professor na sala de aula
(imposições administrativas, isolamento etc.), provocando emoções negati-
vas, e de segunda ordem, as condições ambientais do contexto onde exerce a
docência (falta de tempo, material adequado, excesso de alunos, condições
salariais precárias), com ação direta sobre a motivação e desempenho na fun-
ção.
O esforço da profissão neste contexto complexo aponta um grupo de
profissionais que começa a demonstrar visíveis sinais de esgotamento. MASLACH
e JACKSON (Apud CODO, Wanderley, 1999, p. 238) apresentam a chamada
síndrome de burnout (síndrome da desistência), que é definida como uma
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 71
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
reação à tensão emocional crônica gerada pelo contato direto e excessivo com
outros seres humanos preocupados e com problemas. Tal processo de exaustão
emocional, despersonalização e desistência da profissão, mesmo em ativida-
de, já está presente em nossas escolas, ameaçando os objetivos da função
docente e da própria educação escolar.
Embora estejamos frente a dados tão preocupantes, sabemos que
há um grande contingente de professores que permanece ativo em sala de
aula, incluindo os que conservam seu ímpeto de luta e ideal, o que reafirma a
urgência de um trabalho de reorganização e suporte à profissão docente. Para
caracterizar os desafios e possibilidades da função no processo complexo
analisado até aqui, procuraremos considerá-la a partir da sua natureza, bus-
cando aquilo que lhe é próprio.
A natureza do trabalho do professor
A educação é um fenômeno próprio dos seres humanos, sendo que a
prática da educação existiu antes que tivéssemos um conhecimento formali-
zado sobre a mesma. Caracterizar a função pedagógica nos leva a voltar o
olhar à função do pedagogo na Grécia antiga, em que significava literalmente
a condução da criança por um escravo ao ensino. O ‘ser pedagogo’ passa a
significar a condução ao saber, à cultura, função transposta posteriormente ao
preceptor, ao educador. Através do tempo, a escola passa a ser o local
institucional do ensino e da prática pedagógica. Cabe à escola a identificação
dos elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos,
concomitantemente à descoberta das formas mais adequadas para atingir este
objetivo (SAVIANI, 1991, p. 19).
Para dimensionar esse processo, evocamos o conceito marxista de tra-
balho, no qual o homem, ao agir e transformar o objeto sobre o qual atua, o
transforma, transformando-se a si mesmo (VASQUEZ, 1977, p. 35). MARX caracte-
riza esse processo como práxis, processo em que o pensamento humano ad-
quire verdade objetiva, a partir não da teoria, mas da prática (Apud SACRISTÁN,
1999, p. 24).
A práxis se expressa no trabalho pedagógico como ação, reflexão e trans-
formação do sujeito que dele participa, considerando a natureza não material
da educação escolar, isto é, a produção de idéias, símbolos, hábitos, atitudes,
72 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
habilidades. Nesse processo humano-social, a aula é momento privilegiado
de transmissão/assimilação, em que algo permanecerá para além do ato de
aprender. A transformação do aluno passa dessa forma pela sua condição não
passiva e humana. Ele tem um papel no processo de produção pedagógico e
dele participa na condição de produtor e co-produtor (PARO, 1993, p. 103).
Essa mesma condição, na troca e interação com o educando, é exercida pelo
professor. O aluno como objeto de trabalho e como reflexo do contexto atual,
é elemento que também norteia o desenvolvimento do seu trabalho e o co-
nhecimento pedagógico que dele decorre, levando-o a recriá-lo na prática coti-
diana. A ação do professor nessa perspectiva deve ser vista como política
cultural, em que o professor é intelectual que se transforma e transforma seus
alunos. (GIROUX, 1997, p. 136).
A natureza da educação formal consiste, assim, na responsabilidade de
ter que transmitir e perpetuar a experiência humana considerada como cultu-
ra, como significado comunicável, que se cristaliza em saberes cumulativos,
em sistemas de símbolos, em instrumentos aperfeiçoáveis, em produções ad-
miráveis (FORQUIN, 1993, p. 16). É pela e na educação, e também por meio do
trabalho paciente e continuamente recomeçado de uma tradição docente, que
a cultura se transmite e se perpetua.
Cabe ressaltar também que o ensino, como ofício, é um conjunto de
tarefas técnico-didáticas, decorrentes do conhecimento científico e de rela-
ções humanas estruturadas de determinada maneira na escola. O planejamen-
to individual e coletivo, o contato com pais, participação de comissões, reuniões,
elaboração de relatórios e informes escritos etc. engendra um mosaico de
atividades que, na vivência de cada profissional, se organiza e ganha signifi-
cado.
Estamos considerando que o professor, ao exercer seu trabalho, vivencia
todos esses aspectos, tanto na sua formação como na sua trajetória profissio-
nal, precisando, por isso, dominar o ato de ensinar e formar, que permanece
como natureza deste trabalho, com todos os envolvimentos aí implicados.
A ordem dita natural da educação formal no entanto, considerada no
seu sentido histórico, em suas configurações na sociedade globalizada, inter-
feriu na natureza da profissão docente engendrando complexas relações. As-
sim, categorias como tempo e espaço podem ser distorcidas pelo “progresso”
tecnológico, interferindo no apriorismo natural da ética e estética humanas,
presentes na função pedagógica, que passam a ser alteráveis, mutáveis, não
tão naturais assim. Podemos pensar então que a natureza da profissão docen-
te expressa uma crise a ser definida em suas causas a partir do próprio proces-
so sociocultural vivido pelos professores.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 73
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
Esclarecer as finalidades assumidas para a escolarização e descobrir como
são vivenciadas na prática docente é penetrar nas razões mais profundas da
ação da educação formal institucional. Nada, nem o pensamento cientificista
e sua especialização fragmentária, é mais importante do que a função para a
qual acreditamos que as escolas existem, já que sua razão de ser tem a ver
com um projeto cultural e político. Os professores são principalmente agen-
tes culturais e suas posições, aquilo que desenvolvem e acreditam que devem
difundir, são determinantes para suas práticas (SACRISTÁN, 1999, p. 148).
Alerta HARGREAVES para dois movimentos que acarretam conseqüências
no trabalho dentro e fora de sala de aula, interferindo nestas conformações
culturais:
- a profissionalização, que ressalta as mudanças no rol de atividades
do docente e suas ampliações de forma mais complexa, circunscri-
tas ao campo da competência técnico-didática e científica: o domí-
nio dos conteúdos e métodos das áreas de atuação, e as vivências de
papéis de liderança, contribuição em trocas de experiências, traba-
lhos compartilhados, colaboração em decisões e outras;
- a intensificação do trabalho docente, que se refere à deterioração e
desprofissionalização da função, que consiste no trabalho cotidiano
como espaço de opções pedagógicas, mas que não tem sido consi-
derado como emissão de juízo sobre o que parece mais adequado
trabalhar pedagogicamente. O descaso para com o trabalho cotidia-
no do professor, passa a ser um equívoco a ser reavaliado pelos
pesquisadores e no âmbito das escolas, em programas de formação
continuada e em serviço, já que os sentidos da mudança estão nele
expressos.
Uma questão prevalece no processo sociocultural da profissão docente:
refletir sobre o que tem representado a idéia de necessidade de mudança para
os professores.
Necessidade de mudança e a tensão entre a modernidade
e pós-modernidade
Os rumores da mudança podem ser detectados em vários países, o que
mostra que esta acontece como um fenômeno global, sendo que as pautas
74 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
contemporâneas de reforma educativa são sistêmicas e estão interconectadas.
Esse fato exige a necessidade de uma análise significativa e realista da mu-
dança, o que requer mais do que um simples balanço de vantagens e inconve-
nientes das reformas e das formas de gestão escolar.
As reformas educacionais surgem num momento de desencanto e ceti-
cismo quando a sociedade deixou de acreditar na educação como a promessa
de futuro melhor. Para SACRISTÁN (1998), as reformas encerram a idéia de
mudança, no sentido de que se deposita na escola a possibilidade de definir
novos rumos para a educação na busca de melhoria de resultados. Não basta
constatar a mudança ou a necessidade dela para justificar as tentativas de
reforma recentes no ensino.
Uma reflexão fundamental à idéia de necessidade de mudança nas dire-
ções do trabalho do professor encontra-se no fato de que as estruturas básicas
da escolarização se estabeleceram em outros tempos, com fins anacrônicos,
enquanto a sociedade muda para uma era pós-industrial, pós-moderna. Para
HARGREAVES, nossas escolas e professorado permanecem apegados a hierar-
quias rígidas, disciplinas isoladas, departamentos separados e estruturas de
carreira antiquadas.
Caracterizando a tensão da necessidade de mudança na função docente,
podemos divisá-la então entre estas duas forças poderosas: a modernidade e
a pós-modernidade, assim caracterizadas por HARGREAVES (1994, p. 36-37):
A modernidade expressa-se como força social impulsionada pela fé no
progresso científico racional, no triunfo da ciência e da tecnologia sobre a
natureza e na capacidade de controlar e melhorar a condição humana por
meio da aplicação desses conhecimentos. Do ponto de vista econômico, a
modernidade começa a separar a família e o trabalho pela concentração raci-
onal da produção no sistema fabril e culmina com os sistemas de produção
em massa, o capitalismo, o monopólio e o socialismo estatal como formas de
incrementar a produtividade. Do ponto de vista político, o controle mantém-
se no centro, na gestão das decisões, no bem-estar social, na educação, na
intervenção e regulamentação econômica. A organização se reflete na buro-
cracia disposta em hierarquias e segmentada por especialidades. Na dimen-
são pessoal, prevalece o sistema, a ordem mas também um certo sentido de
identidade coletiva e de pertença a um grupo. Tal ordem trouxe alienação e
falta de sentido às vidas individuais.
A pós-modernidade, para alguns autores, inicia nos anos 60 e situa-se
filosófica e ideologicamente em princípios muito diferentes. Os avanços nas
telecomunicações, na rápida divulgação de informações, questionam antigas
certezas ideológicas e filosóficas, à medida que as pessoas constatam que
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 75
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
existem outras formas de viver. Os descobrimentos científicos sobre coisas
que afetam o cotidiano (aquecimento global, a proteção contra o câncer, o
ensino eficaz etc.) são superados por outros novos e a uma velocidade cada
vez maior. No declínio do sistema fabril, as economias pós-modernas se
estruturam em torno da produção de mais bens pequenos do que grandes,
serviços, manufaturas, informações e imagens... Verifica-se como princípio
econômico motor a acumulação flexível, uma vez que tudo depende de res-
postas rápidas às demandas locais mutantes do mercado.
Considerando o ponto de vista político e organizacional, a necessidade
de respostas rápidas se reflete na descentralização de decisões e menor de-
marcação de papéis e limites. Do ponto de vista pessoal, o mundo pós-moder-
no dá lugar a uma crescente potenciação pessoal, mas sua falta de estabilida-
de pode provocar crises e isolamento nas relações interpessoais, já que estas
necessitam de tradições que garantam sua segurança e continuidade.
O mundo pós-moderno é rápido, comprimido, complexo e inseguro. A
incerteza ideológica se opõe à tradição judaico-cristã, na qual se baseiam
muitos sistemas escolares, suscitando crise de identidade e de finalidades em
relação a novas missões. A busca de formas de decisão mais cooperativas está
apontando para caminhos mais colaborativos, ainda questionados por líderes
escolares que temem perder seu poder.
No conflito caracterizado em posições tão diferenciadas, está situada a
restruturação educativa, como exercício de prudência e construção, na qual
se ganhará ou se perderá a batalha pela profissionalidade docente.
Investigando os sentidos da mudança no trabalho do professor
Para ampliar essa reflexão e buscar responder questões que viemos até
agora levantando, trazemos alguns resultados da pesquisa que desenvolve-
mos na Universidade Federal do Paraná desde 2001, no curso de Pedagogia,
na matéria de Currículos e Programas, na qual procuramos investigar a práti-
ca dos professores, verificando seu trabalho nas áreas de ensino frente às ques-
tões da atualidade.
Esse trabalho, que teve procedimentos do estudo etnográfico, não signi-
ficou apenas colher depoimentos de sujeitos falando de si mesmos e de suas
práticas cotidianas, buscou, sim, observação participante, momentos de tro-
76 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
cas, conversas informais e posterior análise de documentos curriculares da
escola e discussão dos códigos e opções apresentados pelos professores (ANDRÉ,
1995, p. 27).
Utilizamos uma entrevista com questionário semi-estruturado e obser-
vação nas escolas e em classe pelos grupos de alunas da matéria. Cada grupo
pesquisou uma área de ensino a partir da observação e contato com um pro-
fessor das escolas públicas municipais ou estaduais de Curitiba. As perguntas
versavam sobre a formação do professor e sua experiência profissional, preo-
cupações com a formação dos alunos e alunas hoje, além de questionar a
metodologia de trabalho, avaliação, material utilizado, auxílio que recebem
da supervisão/orientação pedagógica, impressão sobre as Propostas Pedagó-
gicas atuais, problemas encontrados no trabalho curricular e entraves para o
exercício da função.
Em 14 grupos de alunos(as), foram observadas as atividades de 14 pro-
fessores. A pesquisa mostrou que a maioria dos professores entrevistados tem
curso superior, e que 70% são formados na área de ensino que atuam e poucos
possuem especialização; outros não têm formação na área e nem sempre pos-
suem formação didático-pedagógica. Sua formação se dá na prática cotidiana
e no contato com outros professores da área, da escola e ao longo da carreira.
Algumas constatações puderam ser feitas, apontando para atividades/atitu-
des e mudanças nas posturas e métodos adotados no trabalho que desenvolvem:
- os professores observam dados positivos dos anos anteriores na
disciplina que trabalham, para planejar o trabalho curricular atual;
- os professores, em geral, se preocupam com o poder da mídia e utili
zam dados e materiais veiculados nos meios de comunicação para
desenvolver os conteúdos curriculares (vídeo, filmes sobre assun-
tos trabalhados, computador, revistas etc.);
- a questão ambiental (degradação, extinção de animais, descaso do
homem para com os rios e parques, etc.) está definitivamente posta
no trabalho curricular, a ponto de que para 80% dos professores a
mesma deve ser constitutiva e intercessória entre todas as áreas;
- alguns professores não mais conseguem abordar assuntos de forma
estanque, sendo necessário no desenvolvimento dos conteúdos o
uso de vários tipos de informações e conhecimentos (rede) que in-
terferem no desenvolvimento dos assuntos trabalhados;
- há uma preocupação bastante significativa com a ética nas ativida-
des desenvolvidas, em que as fraudes em diversas situações de vida
social fazem com que o professor procure abordar questões que ocor-
rem com o consumidor, direitos do cidadão, etc.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 77
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
- parte dos professores selecionam e confeccionam materiais, quan-
do não têm recursos na escola ou não sentem a colaboração da equi-
pe pedagógica como gostariam;
- Alguns professores se debruçam com mais afinco nas questões da
formação do aluno na atualidade, trazendo reflexões e metodologias,
que tentam com dificuldade compartilhar.
Na segunda fase da pesquisa, em 2001, pelo Prolicen, elegemos três
escolas da rede pública e realizamos uma investigação mais próxima do coti-
diano do professor, sendo que outras conclusões foram acrescidas às anterio-
res:
- parte dos professores está buscando elaborar novos projetos, a par-
tir das brechas abertas pelas propostas das Secretarias de Educação,
em que se inclui um aumento mínimo de salário;
- os professores sentem falta de cursos e espaços de discussão (não
há tempo no calendário escolar) sobre questões relacionadas ao tra-
balho pedagógico em suas áreas de ensino, no contexto atual;
- ficaram evidenciadas as dificuldades de transição da Proposta de
Currículo Básico4 para a Proposta de Parâmetros Curriculares cujos
pressupostos, intenções, metodologias e avaliação não estão claros
aos professores, inclusive no que se refere às Concepções, Temas
Transversais e ao processo de Ciclos de Aprendizagem;
- onde há maior clareza e envolvimento na proposta curricular da
escola e assuntos do processo pedagógico (postura democrática da
Equipe Pedagógica e Direção), a produção do professor é mais evi-
dente, há maior motivação e empenho para o trabalho.
As possibilidades de leitura da realidade cotidiana dos professores e das
inovações presentes em um grupo significativo comprovam claramente seu
potencial criativo e reflexivo. Percebe-se um grupo de professores que catalisa
os processos de mudança, demonstrando ser porta-voz de novas posturas e de
seus pares, independentemente das áreas em que atuem. As novas metodologias
e inovações são, pelos depoimentos colhidos, frutos das necessidades e inte-
resses que emergem na sala de aula a partir da realidade social, ambiental e
humana que professor e aluno vivenciam. Esse grupo sente necessidade de
discutir suas idéias e de compartilhar com os colegas suas reflexões, mas
sente-se pressionado pela falta de tempo. O outro grupo que é significativo,
4
Proposta curricular oficial que vigorou no Estado do Paraná desde 1990.
78 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
mostra-se consciente de novas necessidades do ensino, mas parece inseguro
quanto às novas concepções e direcionamentos prescritivos, recorrendo pou-
co a essas orientações. Um terceiro grupo resiste à idéia de mudança ou novas
propostas, declarando-se “tradicionais”, agindo da forma que consideram cor-
reta, revelando confiança no próprio trabalho. Este é um dado revelador e
positivo por um lado, e por outro, é preocupante na medida em que pode
representar também acomodação e isolamento.
Para WIDEMAN (Apud HARGREAVES, 1994, p. 38) na mudança, a prática
muda, antes de convicções impostas: as mudanças vindas “de cima”, afirma o
autor, não adentram o núcleo de como o aluno aprende, embora tenham força
de lei.
O professor da rede pública de Curitiba tem atuado a partir de Propostas
Político-Pedagógicas consistentes, mas afirma não dominar as concepções e
metodologias nelas impressas, e fala da sua preocupação ao verificar dificul-
dades complexas de aprendizagem nos alunos, procurando em profissionais
das áreas de ensino e através de sua experiência e interpretação o domínio
científico e técnico didático de que necessita (CAMPOS, 1993). Atualmente,
pode-se dizer que as propostas de mudança que emanam do MEC centram-se
nos Parâmetros Curriculares e na Lei de Diretrizes e Bases e suas normatizações
posteriores, com prescrições e instruções em grande medida fundadas na ló-
gica do mercado, descaracterizam o curso de Pedagogia e criam novos espa-
ços institucionais de formação docente. Tais propostas, distantes da prática
real da escola brasileira, não têm mostrado historicamente, e ainda hoje, re-
flexos positivos na resolução dos problemas da educação escolar.5
Na prática das escolas, embora com as dificuldades que pudemos cons-
tatar, pode-se detectar os reflexos dessas prescrições, mas com adaptações
elaboradas por boa parte dos professores, num processo de revisão e moldagem
do currículo que aplicam. Nessa moldagem pode-se visualizar o currículo
real, aquele que realmente está em ação na escola, engendrado pela atuação
do professor (SACRISTÁN, 1998, p. 105-106).
Quando o professor afirma utilizar dados, atividades e procedimentos
dos anos anteriores para o trabalho atual, podemos evocar aqui a noção que
BOURDIEU define como habitus e que se desenvolve como “um sistema de
disposições duradouras e transponíveis, que integram experiências passadas”.
Estas são transferidas a experiências do cotidiano e vão compondo o arsenal
5
Ver os artigos de SHEIBE e RIBEIRO na 3.ª Parte desta publicação.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 79
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
histórico-profissional do professor (Apud PERRENOUD, 1996 p. 39).6 Para
SACRISTÁN (1998), o habitus funciona como uma espécie de ordem impessoal
de autoria coletiva, que dirige e regula ações futuras, de formas a permitir o
alcance de determinados fins, sem que se precise planejar a intenção de cada
ação, as opções a serem tomadas frente a cada dilema do cotidiano escolar.
Essas estruturas funcionam tendendo a assegurar sua própria sobrevi-
vência diante das transformações que lhe forem solicitadas pelas novas cir-
cunstâncias, selecionando, rejeitando ou evitando informações e ações con-
trárias à sua lógica. Os esquemas de ação compartilhados pelos professores
dão estabilidade a práticas coerentes e constantes no tempo, dotando de
congruência as ações individuais entre si, diferenciando estilos e práticas de
ação, garantindo continuidade. É importante constatar também que o efeito
estabilizador do habitus não nega o processo contínuo de novidades frente a
acontecimentos provocativos atuais e que não admitem velhas respostas
(SACRISTÁN, 1999, p. 83-84).
A participação dos professores na mudança educativa é vital e não bas-
ta, portanto, que adquiram novos conhecimentos sobre concepções, métodos
e técnicas didáticas. Os professores, mais que aprendizes técnicos, são apren-
dizes sociais. O conhecimento do desejo do professor parece mostrar com
mais verdade o que se deve mudar ou conservar e este é fundado em uma
trajetória profissional. A experiência dos professores de cooperação informal
e espontânea poderá esvaziar-se, no entanto, ao se sujeitar ao excessivo con-
trole administrativo que escamoteia o verdadeiro curso de sua atuação nas
situações de mudança.
É fundamental reafirmar, ainda, que o saber docente não é formado ape-
nas da prática, mas é nutrido pelas teorias da educação. O professor desenvol-
ve-se como intelectual crítico no próprio processo de profissionalização, nos
cursos de aperfeiçoamento e na prática cotidiana, quando incorpora a análise
do âmbito escolar no contexto mais amplo, buscando respostas para o trato da
desigualdade e diversidade com que trabalha hoje. A possibilidade de refle-
xão que observamos nos reporta à concepção Gramsciana: “o problema da
6
Estamos recorrendo a BOURDIEU como teórico que, ao trazer a visão sobre as instituições
que respondem adaptando-se à ordem da estratificação social, mostrou que saberes têm uma histó-
ria, aprendizagens têm contexto e professores têm ancoragens sociais como função da sociologia
(LAHIRE, 2002). Para BOURDIEU, a transformação (mudança) não é um objeto material, mas a
orquestração do conjunto das práticas (PERRENOUD, 1996, p. 42). Ver também nas Referências:
CATANI, A. M.; CATANI, D. B. e PEREIRA, G. R. de M. , 2001; LAHIRE, B., 2002, p. 45-46 e PERRENOUD,
1997, p 38-43.
80 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
criação de uma nova camada intelectual consiste em elaborar criticamente a
atividade intelectual que existe em cada um em determinado grau de desen-
volvimento” (GRAMSCI, 1985, p. 8). Tal concepção confere à função docente
um posicionamento reflexivo, crítico e político que compõe seu próprio pa-
pel social (GIROUX, 1997) de também criar novos intelectuais.
Reconhecendo que no processo das reformas o poder e o conhecimento
circulam de forma desigual, recorrer às novas visões da antropologia, socio-
logia e etnografia representa uma grande contribuição à pesquisa e análise do
discurso e da prática pedagógica, não mais a partir da cultura dominante.
Assim, pensa-se poder visualizar o professor não mais como dono do saber
formal, mas em um movimento de trocas culturais com os alunos, com seus
pares e com a comunidade. Por outro lado, não é mais possível vê-lo alijado das
reflexões sobre o processo político-pedagógico do contexto em que atua, res-
pondendo passivamente a propostas de mudança impostas e não discutidas.
Aspectos e dimensões conclusivas
As reflexões que fizemos tiveram o objetivo de buscar a idéia de mu-
dança, na perspectiva de considerá-la expressa de alguma forma nas exigên-
cias do contexto atual, nas reformas e prescrições oficiais, que colocam o
professor, no embate cotidiano da função, frente a dilemas e desafios que
demandam novas configurações de trabalho.
Na luta fundamental de quem foi formado e atua a partir dos pressupos-
tos da modernidade, frente ao colapso das certezas morais, da derrubada de
antigas missões e de certezas científicas, o professor apresenta posições entre
a resistência e a produção.
Consideramos que o professor, ao vivenciar os múltiplos saberes peda-
gógicos, desenvolve sua competência científica e técnico-didática para domi-
nar o ato de ensinar e formar, que permanece como natureza deste trabalho,
com todas as suas implicações. Esses campos de ação docente, vividos na sua
formação e trajetória profissional, não podem prescindir, no entanto, do cam-
po humano social sua contribuição pessoal e cultural.
O que o aluno aprende passa para além da sala de aula, o que confere
ao trabalho do professor o peso de sua contribuição aos indivíduos. Pudemos
vê-lo, por isso mesmo, como agente produtor de sua prática e função, a partir
das necessidades do aluno.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 81
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
Constatamos na pesquisa realizada na UFPR indicadores claros de que
um grupo significativo catalisa as tentativas de mudança e outro que se mos-
tra preocupado com as novas propostas, seguindo caminhos que sempre tri-
lhou, sem a preocupação de inovar. Esses grupos encontram-se imobilizados,
não pela ação, mas pela falta de interlocução e principalmente de tempo; o
grupo que se mostra resistente, e se diz “tradicional”, mostra saber os porquês
dessa atitude. Aliás, a resistência a várias situações de imposição administra-
tiva permeia a ação de todos e na maioria das vezes demonstra bom senso e
razões justas. Há diferentes formas e tempos de captação do novo, e este novo
circula entre a totalidade dos grupos de docentes em maior ou menor intensi-
dade e interesse.
Na pesquisa realizada, os professores referem-se às incertezas de for-
mar o homem no contexto atual, no qual precisam responder às questões do
conhecimento e àquelas da formação: éticas e valorativas. Pudemos ver o
professor preocupado ao trabalhar as questões da degradação ambiental, ques-
tões éticas em situações cotidianas de compra e venda, de trabalho etc., os
problemas da sexualidade, e outros, num processo em que os conteúdos
curriculares tomam novas conformações. Sentem que as noções não podem
mais ser trabalhadas de forma fragmentada e utilizam passo a passo a rede de
informações que circunda o conhecimento hoje e não está só nos livros e
programas, mas na mídia, nos acontecimentos mundiais, nas descobertas ci-
entíficas, em todas as formas de expressão. Apontam, portanto, para novas
formas de ver e de passar o conhecimento para o aluno que temos hoje.
Os professores, todavia, não acreditam em suas possibilidades de con-
tribuir cientificamente para construir conhecimento sobre o ensino, e mesmo
não dispõem de caminhos formais, métodos para que seus conhecimentos se
tornem parte da literatura pedagógica (SMITH; LYTLE, apud BUENO, CATANI; SOUZA,
1998, p. 9). A mobilização dessa produção e seus sentidos depende hoje de
mudanças nas políticas de pesquisa e de aperfeiçoamento profissional, que,
reorganizadas sob novos parâmetros, podem se constituir em novas possibili-
dades de formação geral, continuada e em serviço.
Na análise realizada, percebemos que o habitus, como sistema de ações
próprios do professor e da instituição escolar, emerge das trajetórias profissi-
onais, das necessidades do contexto social, do perfil dos alunos, da prática
cotidiana, dos cursos de formação e aperfeiçoamento. Os professores como
agentes culturais, em suas formas de ver, suas crenças sobre o educando e
sobre a ação de educá-lo, apresentam informações substanciais, a partir de
suas interpretações e produções, sobre o que consideram como fins da educa-
ção escolar hoje. Por outro lado, a cultura como significação na sociedade
82 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
aparece também como forma niveladora de opiniões e na positividade das
trajetórias docentes e suas práticas cotidianas. É preciso observar o movi-
mento da acomodação, quando aqueles que são os protagonistas do processo
pedagógico estão, em grande medida, alijados das discussões mais substanti-
vas da educação.
No processo de produção e moldagem curricular, em que os professo-
res desenvolvem um trabalho paralelo ao das propostas oficiais, pudemos
constatar que não é mais possível pensar as propostas pedagógicas atuais sem
a análise do processo da mudança engendrado pelo professor, sob pena de
que se constituam em planos sem respostas à sua prática real.
Há iniciativas que buscam valorizar e respeitar o progresso profissional
do professor, mas a forma como têm sido apresentadas acaba por encaixá-las
em modelos mecanicistas. Para HARGREAVES (1994), o tempo administrativo
não é o tempo da mudança e os instrumentos administrativos podem ameaçar
a vontade de ensinar, eliminando seu motor. A produção inovadora e adequa-
da do professor hoje pode ser impulsionada ou sufocada. Assim, para impul-
sionar os novos movimentos da função docente, há que se gestionar tempo e
espaço nos sistemas educacionais, o que não quer dizer restringir liberdade.
O professor vem travando diariamente uma luta entre o novo e o velho,
o estabelecido e o não-reconhecido, decidindo entre o que deve ou não ser
alterado (ALONSO, 1999, p. 16), mostrando os sentidos e necessidades da mu-
dança. Frente à validação de todas as formas de ser e estar na sociedade pós-
moderna, na qual a própria destruição do homem também está posta, os pro-
fessores sentem-se perplexos. Lembramos aqui, novamente, a retomada da
idéia de natureza do trabalho pedagógico, daquilo que é próprio da função
docente e que tem nas idéias de construção, condução à cultura, positividade
e emancipação do ser humano sem distinção, a sua dimensão fundamental e
própria na redefinição de novas posições frente à mudança.
Ao finalizar, lembramos a preocupação de HARGREAVES de tirar o pro-
fessor do isolamento provocado pela sociedade pós-moderna, trazendo-o para
reflexões e compartilhamento, discussão de novos projetos, em grupos que
poderão ser formados em colaboração, com equipes pedagógicas e pesquisa-
dores, entre escolas próximas e sob o apoio das universidades e secretarias de
educação.
As vozes, experiências e opiniões dos professores são os elementos
vitais da própria mudança. Valorizá-las lhes devolve a função intelectual que
lhe é própria e leva à reinterpretação e desvelamento das novas dimensões da
função e formação docente na atualidade. Essa é também a possibilidade de
ensino qualificado aos alunos que freqüentam a maioria de nossas escolas hoje.
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 83
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
REFERÊNCIAS
ALMEIDA, M. I. O sindicato como instância formadora de professores: novas con-
tribuições ao desenvolvimento profissional. São Paulo, 1999. Tese (Doutorado em
Educação) - Departamento de Metodologia do Ensino, Universidade Estadual de São
Paulo.
ALONSO, M. Formar professores para uma nova escola. In: QUELUZ, A. G. O tra-
balho decente: teoria & prática. São Paulo: Pioneira, 1999.
ALVES, N.; GARCIA, R. (Orgs.). O sentido da escola. Rio de Janeiro: DP&A, 2000.
ANDRÉ, M. E. D. A. Etnografia da prática escolar. São Paulo: Papirus, 1995.
BOURDIEU, P. Razões práticas sobre a teoria da ação. Campinas: Papirus, 1996.
BUENO, B. O.; CATANI, D. B.; SOUZA, C. P. A vida e o ofício dos professores:
formação contínua, autobiografia e pesquisa em colaboração. São Paulo: Escrituras,
1998.
CAMPOS, R. C. As políticas educacionais para o município de Curitiba no período
de 1982-1993 e a qualidade da escola pública: limites, possibilidades e perspectivas.
Curitiba,1993. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná.
CATANI, A. M.; CATANI, D. B.; PEREIRA, G. R. de M. As apropriações da obra de
Pierre Bordieu no campo educacional brasileiro através de periódicos da área. Revista
Brasileira de Educação, Anped, Autores Associados, n. 17, maio/jul. 2001.
CODO, W. (Coord.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999.
COSTA, M. V. Discutindo a escola básica em tempos de neoliberalismo: uma conver-
sa introdutória. In: COSTA, M. V. Escola básica na virada do século: cultura, política
e currículo. São Paulo: Cortez, 1996.
ESTEVE, J. M. Mudanças sociais e função docente. In: NÓVOA, A. (Org.). Profis-
são professor. Portugal: Porto Editora, 1995.
FORQUIN, J. C. Currículo e cultura. In: _____. Escola e cultura. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1993.
GIROUX, H. Os professores como intelectuais. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.
GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. Rio de Janeiro: Civiliza-
ção Brasileira, 1985.
HARGREAVES, A. Professorado, cultura y póstmodernidad. Madrid: Morata, 1994.
LAHIRE, B. Reprodução ou prolongamentos críticos? In: Dossiê “Ensaios sobre Pierre
Bourdieu”, Revista Educação & Sociedade, ano 23, n. 78, abr. 2002.
84 Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR
HAGEMEYER, R. C. de C. Dilemas e desafios da função docente na...
NÓVOA, A.(Org.). Profissão professor. Portugal: Porto Editora, 1995.
PARO, V. H. A natureza do trabalho pedagógico. Revista da Faculdade de Educação
da USP, São Paulo, v. 19, n. 1, jan./jun. 1993.
PERRENOUD, P. A prática pedagógica entre a investigação e o bricolage. In: PI-
MENTA, S. Formação de professores-saberes da docência e identidade do professor.
Revista da Faculdade de Educação da USP, São Paulo, v. 22, n. 2, p. 72-89, jul. 1996.
SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão sobre a prática. 3. ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1998.
_____; GOMES, A. .I. P. Compreender e transformar o ensino. 4. ed. Porto Alegre:
Artes Médicas, 1998.
_____. Poderes instáveis em educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. Polêmicas do nosso
tempo. São Paulo: Cortez, 1991.
VASQUES-MENEZES, I. O que é burnout? In: CODO, Wanderley (Coord.). Educa-
ção: carinho e trabalho. Petrópolis: Vozes, 1999.
VASQUES, A. S. Filosofia da praxis. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
Texto recebido em 26 fev. 2004
Texto aprovado em 29 ago. 2004
Educar, Curitiba, n. 24, p. 67-85, 2004. Editora UFPR 85
Você também pode gostar
- Formação Continuada de professores e práticas pedagógicas: Desafios e possibilidades do século XXINo EverandFormação Continuada de professores e práticas pedagógicas: Desafios e possibilidades do século XXIAinda não há avaliações
- Formação de Professores No Contexto Das Mudanças EducativasDocumento11 páginasFormação de Professores No Contexto Das Mudanças EducativasDaniela DiasAinda não há avaliações
- Para onde vão a orientação e a supervisão educacional?No EverandPara onde vão a orientação e a supervisão educacional?Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Lana CavalcantiDocumento10 páginasLana CavalcantiMyllena VianaAinda não há avaliações
- Desafios da prática pedagógica contemporâneaDocumento14 páginasDesafios da prática pedagógica contemporâneaOlavo BarretoAinda não há avaliações
- Apresentação PDF FinalDocumento15 páginasApresentação PDF Finalrgc2112Ainda não há avaliações
- Ser Professor Na ContemporaneidadeDocumento13 páginasSer Professor Na ContemporaneidadeMariana Dias Girard100% (1)
- O Ensino Com Pesquisa Na Formação Do PedagogoDocumento18 páginasO Ensino Com Pesquisa Na Formação Do PedagogoSuélen Hernandes Moraes100% (1)
- O tempo docente e o desenvolvimento profissionalDocumento16 páginasO tempo docente e o desenvolvimento profissionalleandroafreireAinda não há avaliações
- Formação de professores: entre demandas, projetos e desafiosDocumento24 páginasFormação de professores: entre demandas, projetos e desafioslorrayneAinda não há avaliações
- Todos Profissionais Da Educação São Importantes para A Realização Dos ObjetivosDocumento3 páginasTodos Profissionais Da Educação São Importantes para A Realização Dos Objetivoseney_aAinda não há avaliações
- Formação de professores do ensino superior e práticas educativasDocumento18 páginasFormação de professores do ensino superior e práticas educativasCácia S. S. MirandaAinda não há avaliações
- TCC Da Pós-Graduação de Geografia PDFDocumento7 páginasTCC Da Pós-Graduação de Geografia PDFMaday Souza de AndradeAinda não há avaliações
- O desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolarDocumento20 páginasO desenvolvimento dos conceitos científicos na idade escolarprofesterAinda não há avaliações
- O Perfil Do Pedagogo para Atuação em Espaços Não Escolares - TrabalhoDocumento9 páginasO Perfil Do Pedagogo para Atuação em Espaços Não Escolares - TrabalhoAlice AzevedoAinda não há avaliações
- Artigo MirelleDocumento5 páginasArtigo Mirellemaracir ataidesAinda não há avaliações
- Os objetivos e o papel do trabalho docente segundo professoresDocumento15 páginasOs objetivos e o papel do trabalho docente segundo professoresEvidim MartinhoAinda não há avaliações
- Os Novos Papéis Do Professor Na Educação ContemporâneaDocumento26 páginasOs Novos Papéis Do Professor Na Educação ContemporâneaedivamsantanaAinda não há avaliações
- O PROFESSOR INICIANTE E SEUS DESAFIOS NA PRÁTICA DOCENTE PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO NO ENSINO SUPERIOR - O PROJETO CASa da UFCDocumento12 páginasO PROFESSOR INICIANTE E SEUS DESAFIOS NA PRÁTICA DOCENTE PARA A FORMAÇÃO DO ALUNO NO ENSINO SUPERIOR - O PROJETO CASa da UFChevelineAinda não há avaliações
- Selma Garrido Pimenta PDFDocumento25 páginasSelma Garrido Pimenta PDFElianete Martins VilhasantiAinda não há avaliações
- Coordenacao Pedagogica ImportanciaDocumento14 páginasCoordenacao Pedagogica ImportanciaCássio Magela da Silva100% (24)
- Formação de Pedagogos. Desafios e Perspectivas No Campo de Atuação PDFDocumento11 páginasFormação de Pedagogos. Desafios e Perspectivas No Campo de Atuação PDFAureliano Valentín Medina RodríguezAinda não há avaliações
- Profesores Inovaciones CurricularesDocumento15 páginasProfesores Inovaciones CurricularesUlises SalasAinda não há avaliações
- Formação de professores reflexivosDocumento11 páginasFormação de professores reflexivosRobertdillaAinda não há avaliações
- A Didática Na Formação Do ProfessorDocumento6 páginasA Didática Na Formação Do ProfessorRobertoFlorencioAinda não há avaliações
- Escola, Currículo e Formação Docente Desafios NaDocumento11 páginasEscola, Currículo e Formação Docente Desafios NaRoseny FonsecaAinda não há avaliações
- Sobre o Pedagogo EmpresarialDocumento14 páginasSobre o Pedagogo EmpresarialKriska BarretAinda não há avaliações
- Formacao de Professores e Metodologias Ativas - Beth Rev Fronteiras Da Educacao Recife 2012.-With-Cover-Page-V2Documento28 páginasFormacao de Professores e Metodologias Ativas - Beth Rev Fronteiras Da Educacao Recife 2012.-With-Cover-Page-V2GRASIANY SOUSA DE ALMEIDAAinda não há avaliações
- 946 3844 1 PBDocumento19 páginas946 3844 1 PBMarcos Dos SantosAinda não há avaliações
- ARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE EVENTO INTERNACIONAL - BARROS, R. FISS, D.M.L. Escola, Juventude e Curriculo 2015Documento12 páginasARTIGO PUBLICADO EM ANAIS DE EVENTO INTERNACIONAL - BARROS, R. FISS, D.M.L. Escola, Juventude e Curriculo 2015Dóris Maria FissAinda não há avaliações
- Mzul 7. o Perfil Do Gestor Escolar ContemporneoDocumento17 páginasMzul 7. o Perfil Do Gestor Escolar ContemporneoLuiz Fabiano DomingosAinda não há avaliações
- Formação docente: desafios e caminhosDocumento14 páginasFormação docente: desafios e caminhosMiriam GuthAinda não há avaliações
- Artigo Revisado 20-06Documento13 páginasArtigo Revisado 20-06Priscylla Djene PimentaAinda não há avaliações
- 1962-1-11122-1-10-20160321 - Paradigmas Educacionais e Sua Influência Na PráticaDocumento11 páginas1962-1-11122-1-10-20160321 - Paradigmas Educacionais e Sua Influência Na PráticaNordito MarcelinoAinda não há avaliações
- Ambiguidade Do Saber DocenteDocumento15 páginasAmbiguidade Do Saber Docenteaylaalves_dcfAinda não há avaliações
- 2° e 3° PedagogiaDocumento11 páginas2° e 3° PedagogiaTrabalhos AcadêmicosAinda não há avaliações
- Ciclo de Palestras sobre o papel do coordenador pedagógicoDocumento150 páginasCiclo de Palestras sobre o papel do coordenador pedagógicoJuliana Pereira SilvaAinda não há avaliações
- Práticas reflexivas docentesDocumento17 páginasPráticas reflexivas docentesJosé VasconcelosAinda não há avaliações
- Akarwoski,+1731 8577 1 CEDocumento13 páginasAkarwoski,+1731 8577 1 CEerickjcaAinda não há avaliações
- Formação docente: desafios antigos e novosDocumento11 páginasFormação docente: desafios antigos e novosSimone VieiraAinda não há avaliações
- TCC Eliana Aparecida FinalDocumento38 páginasTCC Eliana Aparecida FinalRenato IzidoroAinda não há avaliações
- JaneRangelAlvesBarbosa GT2 IntegralDocumento13 páginasJaneRangelAlvesBarbosa GT2 IntegralElizandraLimaAinda não há avaliações
- 2141-Texto Do Artigo-7681-1-10-20200728Documento19 páginas2141-Texto Do Artigo-7681-1-10-20200728Helio AlvesAinda não há avaliações
- Formação de professores e profissionalização docenteDocumento15 páginasFormação de professores e profissionalização docenteelizAinda não há avaliações
- Saberes docentes e estágioDocumento5 páginasSaberes docentes e estágioAndré MagelaAinda não há avaliações
- Formação de Professores: Importância da Formação AcadêmicaDocumento3 páginasFormação de Professores: Importância da Formação AcadêmicaClara AlmeidaAinda não há avaliações
- Alexandre,+1411 5309 2 CE+Documento17 páginasAlexandre,+1411 5309 2 CE+Mauricio OliveiraAinda não há avaliações
- 5 GrupoDocumento3 páginas5 GrupoBernardino LimasAinda não há avaliações
- Docência no Ensino Superior: Identidade, Prática e Profissão DocenteDocumento13 páginasDocência no Ensino Superior: Identidade, Prática e Profissão DocenteRianRosalAinda não há avaliações
- 5vieira LO FP121Documento25 páginas5vieira LO FP121alcidieineAinda não há avaliações
- UMA REFLEXÃO ACERCA DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - Márcio Carvalho C. FerreiraDocumento6 páginasUMA REFLEXÃO ACERCA DA DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR - Márcio Carvalho C. Ferreiravictor limaAinda não há avaliações
- Adaptacao e Contextualizacao - Texto AnaisDocumento11 páginasAdaptacao e Contextualizacao - Texto AnaisPaulo ConstantinoAinda não há avaliações
- O Coordenador Pedagógico e A Formação Contínua Do DocenteDocumento10 páginasO Coordenador Pedagógico e A Formação Contínua Do Docentegabriel.camargo.henriqueAinda não há avaliações
- Metodologias Ativas No Ensino SuperiorDocumento30 páginasMetodologias Ativas No Ensino SuperiorEugénio Freitas Quintas FreitasAinda não há avaliações
- Formação de professores CTSDocumento17 páginasFormação de professores CTSlipbioAinda não há avaliações
- A importância da formação docente na prática pedagógicaDocumento7 páginasA importância da formação docente na prática pedagógicaJose ManhicaAinda não há avaliações
- Formação de professores críticos a partir da teoria curricular críticaDocumento15 páginasFormação de professores críticos a partir da teoria curricular críticaLilando JúniorAinda não há avaliações
- InspeçãoDocumento9 páginasInspeçãoDulcinéia Regina CâmaraAinda não há avaliações
- Relatório-Avaliação - Módulo 02Documento6 páginasRelatório-Avaliação - Módulo 02Elias de PaulaAinda não há avaliações
- Abordagens do processo de ensino e aprendizagemDocumento14 páginasAbordagens do processo de ensino e aprendizagemrenato_nobrega935100% (1)
- Legislação educação básica e políticas educacionaisDocumento1 páginaLegislação educação básica e políticas educacionaisTalita RubimAinda não há avaliações
- SNE:Organização e EstruturasDocumento22 páginasSNE:Organização e EstruturasAllan Carelli AragãoAinda não há avaliações
- Mapa Mental - Unidade 1 PDFDocumento1 páginaMapa Mental - Unidade 1 PDFTalita Rubim100% (1)
- Blog Da Psicologia Da Educaà à O-O Trabalho Por Equipes Na Escola - Jean Piaget PDFDocumento4 páginasBlog Da Psicologia Da Educaà à O-O Trabalho Por Equipes Na Escola - Jean Piaget PDFMarcelo EnricoAinda não há avaliações
- Manual de Aulas Práticas de Biologia PDFDocumento150 páginasManual de Aulas Práticas de Biologia PDFDanilo BarbosaAinda não há avaliações
- Ensino de Ciências com Atividades PráticasDocumento56 páginasEnsino de Ciências com Atividades PráticasTalita RubimAinda não há avaliações
- Unidade 1Documento2 páginasUnidade 1Talita RubimAinda não há avaliações
- Acesso Ao Patrimônio GenéticoDocumento1 páginaAcesso Ao Patrimônio GenéticoTalita RubimAinda não há avaliações
- Miíases causadas por dípterosDocumento60 páginasMiíases causadas por dípterosTalita RubimAinda não há avaliações
- Política Nacional Da BiodiversidadeDocumento35 páginasPolítica Nacional Da BiodiversidadeTalita RubimAinda não há avaliações
- O Ocaso de Um Predador Out 2012 UnespDocumento4 páginasO Ocaso de Um Predador Out 2012 UnespIgor TrigueiroAinda não há avaliações
- Sobre Visto EuropeuDocumento14 páginasSobre Visto EuropeuTalita RubimAinda não há avaliações
- Verbos Modais Lição 3Documento3 páginasVerbos Modais Lição 3thiagoiath67% (3)
- Giárdia em GatosDocumento8 páginasGiárdia em GatosTalita RubimAinda não há avaliações
- Norma ABNT 10520 - Citações em Documentos PDFDocumento7 páginasNorma ABNT 10520 - Citações em Documentos PDFHood171Ainda não há avaliações
- FEL9AERGX3M81K6Documento6 páginasFEL9AERGX3M81K6Adoniran RibeiroAinda não há avaliações
- VenenoDocumento14 páginasVenenoTalita RubimAinda não há avaliações
- Doenças de Veiculação HídricaDocumento14 páginasDoenças de Veiculação Hídricaju_agrícolaAinda não há avaliações
- Chico Science (A Rapsódia Afrociberdélica) - Moisés NetoDocumento154 páginasChico Science (A Rapsódia Afrociberdélica) - Moisés NetoIlo GuAinda não há avaliações
- Planejamento educacional em três níveisDocumento8 páginasPlanejamento educacional em três níveisFernanda Noronha RosadoAinda não há avaliações
- TCC BimDocumento77 páginasTCC BimCesarrizzofiuzaAinda não há avaliações
- Produção Científica sobre Gênero no Direito BrasileiroDocumento14 páginasProdução Científica sobre Gênero no Direito BrasileiroMiaAinda não há avaliações
- Artigo Luz Ativa PesquisaDocumento14 páginasArtigo Luz Ativa PesquisaJunioroliveira_39Ainda não há avaliações
- Sobre A Educação Estética Do HomemDocumento12 páginasSobre A Educação Estética Do HomemLeandro NascimentoAinda não há avaliações
- Produtos Educacionais de Um Curso de Mestrado Profissional em Ensino de CiênciasDocumento2 páginasProdutos Educacionais de Um Curso de Mestrado Profissional em Ensino de CiênciasMurilo LacerdaAinda não há avaliações
- Eja 4FDocumento321 páginasEja 4FAuliam Silva100% (1)
- DIAS, Figueiredo. para Um Sistema Renovado de Facto PunívelDocumento12 páginasDIAS, Figueiredo. para Um Sistema Renovado de Facto PunívelVictor CostaAinda não há avaliações
- Religião MáquinasDocumento12 páginasReligião MáquinasGilmar Caetano TomázAinda não há avaliações
- Martin: BuberDocumento125 páginasMartin: BuberDizendo da HenryAinda não há avaliações
- Internet influencia pensamento superficialmenteDocumento16 páginasInternet influencia pensamento superficialmenteDavi MendesAinda não há avaliações
- Relações Étnico-Raciais e Direitos HumanosDocumento87 páginasRelações Étnico-Raciais e Direitos HumanosCarlo FuentesAinda não há avaliações
- Apresentação Do PCG 2018-2019Documento45 páginasApresentação Do PCG 2018-2019kapabytes260992% (51)
- O Mundo Interior de Machado de AssisDocumento10 páginasO Mundo Interior de Machado de AssisViniciusmangaAinda não há avaliações
- Buda - Biografia - Sophie Royer PDFDocumento168 páginasBuda - Biografia - Sophie Royer PDFSilvio BrandaoAinda não há avaliações
- Resenha Temple GrandinDocumento1 páginaResenha Temple GrandinTiago GregórioAinda não há avaliações
- Didáctica de Geografia II TrabalhoDocumento19 páginasDidáctica de Geografia II Trabalhogimo apesoAinda não há avaliações
- Teorias e técnicas psicoterápicasDocumento10 páginasTeorias e técnicas psicoterápicasAmanda Farias de OliveiraAinda não há avaliações
- A Psicologia Tomista: origem, natureza e definição da alma humanaDocumento34 páginasA Psicologia Tomista: origem, natureza e definição da alma humanaalmeidaebezerra100% (1)
- Anexo-4 Programa Disciplinas PSV-1-2024Documento10 páginasAnexo-4 Programa Disciplinas PSV-1-2024Paula LaryssaAinda não há avaliações
- Guia para professores sobre avaliaçõesDocumento88 páginasGuia para professores sobre avaliaçõesLARISSA NATIELE DE LIMAAinda não há avaliações
- Classe gramatical em texto sobre meninos na ruaDocumento5 páginasClasse gramatical em texto sobre meninos na ruaDenis RomagnoliAinda não há avaliações
- Edital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaDocumento5 páginasEdital 2 2014 Prova Colegiada Servico Social UnaCristianoCostadeCarvalhoAinda não há avaliações
- Clima Escolar em Escolas de Alto e Baixo PrestigioDocumento20 páginasClima Escolar em Escolas de Alto e Baixo PrestigioEric SantosAinda não há avaliações
- Banco urbano sustentável com madeira reaproveitadaDocumento4 páginasBanco urbano sustentável com madeira reaproveitadaMelissa TeixeiraAinda não há avaliações
- Caracterização geomorfológica da bacia do Rio São Nicolau-PIDocumento15 páginasCaracterização geomorfológica da bacia do Rio São Nicolau-PICleber Dos SantosAinda não há avaliações
- A Teoria da Dependência: um balanço e perspectivasDocumento193 páginasA Teoria da Dependência: um balanço e perspectivasluiz_sanches_2Ainda não há avaliações
- AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMADocumento11 páginasAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMALuana SilveiraAinda não há avaliações
- Gestão Do Tempo - ContemporaneidadeDocumento16 páginasGestão Do Tempo - ContemporaneidadePriscilla Stéfany Burmann WeberlingAinda não há avaliações