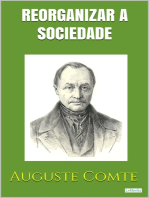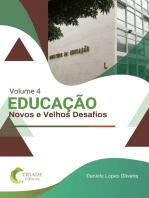Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Positivismo e Ed Breves Analises PDF
Positivismo e Ed Breves Analises PDF
Enviado por
Sara Flavio FelipeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Positivismo e Ed Breves Analises PDF
Positivismo e Ed Breves Analises PDF
Enviado por
Sara Flavio FelipeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
POSITIVISMO E EDUCAÇÃO: Breves análises sobre a influência do
positivismo na educação.
Autor: FERNANDES, Marcel Sena
Mestrando do Programa da Pós-Graduação em
Educação da Universidade Nove de Julho. São
Paulo. Brasil.
Orientador: LORIERI, Marcos Antonio.
RESUMO
O desafio ao qual nos propomos é compreender melhor o Positivismo Filosófico e suas
influências históricas no pensamento ocidental. O presente trabalho visa recuperar as
discussões críticas sobre o efeito do Positivismo Filosófico nas construções teóricas dos
princípios da educação no século XX. Enfrentamos este desafio, trilhando o caminho de
reexaminar o que foi o positivismo como fenômeno histórico do século XIX, e como
todas as ciências o recepcionaram. Neste artigo de breves considerações, acreditamos
ser possível apontar a repercussão específica do positivismo na educação. Para tanto,
nos deteremos na conceituação desta corrente do pensamento ocidental, assim como na
observação de como seus principais autores, Augusto Comte e Emile Durkheim,
desenvolveram a concretização das idéias postivistas no curso da história. Pontuando
biografias e conceitos positivistas, pretendemos fornecer uma visão geral, sucinta e ao
mesmo tempo esclarecedora sobre se há influência do pensamento positivista na prática
educacional de nosso século. Não discutiremos aqui a a ciência da educação, mas a
influência do Positivismo no pensamento do educador e na escola.
Palavras-chave: Positivismo; História do pensamento ocidental; Educação;
Crítica à aplicabilidade Positivista;
1
Introdução
Já se tornou lugar comum falar da educação como solução para todos os
problemas sociais que enfrentamos em nossos dias. Também na educação se
discute a inovação como caminho de superação e reforma que possibilitem a
difusão do conceito de cidadania. Não podemos negar, entretanto, que muito
do que se tem proposto, para transformação da educação, ainda carrega a
forte herança do pensamento positivista inaugurado por Augusto Comte. O
positivismo filosófico se encontra, hoje, em uma ambivalência curiosa. Se por
um lado existe uma forte rejeição ao positivismo como método, no campo
acadêmico, por outro vivemos uma realidade prática inundada de conceitos
herdados do positivismo.
Diversas críticas são tecidas, de modo contumaz, ao pensamento positivista. O
que temos observado é que muitos dos críticos terminam por manejar
conceitos positivistas em suas práticas acadêmicas. Em parte, isso se deve ao
fato de que a ciência do século XX – que tão duramente aponta limitações ao
pensamento positivista – se encontra ainda submersa nos princípios da ciência
do século XIX – predominantemente positivista. Podemos entender esta
submersão por meio do conceito de paradigma científico de Thomas Kuhn. A
ciência se fundamenta em paradigmas que são, vez ou outra, substituídos e
readequados por revoluções científicas. De fato, ainda nos encontramos ,
apesar de muitos esforços apontarem para um novo paradigma, ligados ao
momento positivista que revolucionou a ciência no século XIX. As mudanças de
paradigmas precisam de tempo para que se plenifiquem, e é natural que um
paradigma anterior surta efeitos nos conceitos situados em um momento de
transição que acredito se tratar da era em que vivemos.
Um outro problema na abordagem crítica do positivismo decorre de um
consenso tácito no sentido de se superarem os modelos do século XIX. Assim
muitos pesquisadores se opõem ao positivismo com paixão e auxiliados pelas
descobertas da ciência no século XX confrontam, muitas vezes sem a
propriedade necessária, os dogmas postulados por Augusto Comte.
É preciso dominar os conceitos principais do pensamento comteano e ainda
reconhecer que , apesar das críticas pertinentes que este modelo de ciência
2
recebe, não podemos negligenciar o fato de que sua manifestação acadêmica
cumpria uma função útil e necessária no tempo e espaço em que fora
postulada. Conhecer Comte é a maneira mais adequada para se tecerem
críticas ao positivismo filosófico e suas implicações na educação.
Não pretendemos, neste trabalho, esgotar o tema proposto, mas sim, levantar
uma discussão sobre os principais conceitos do positivismo e sua influência na
educação.
O positivismo em Augusto Comte
A idéia de leis naturais da vida social não é pensamento originário de Augusto
Comte. Uma idealização da ciência social, segundo os modelos das ciências
naturais, pode ser encontrada no pensamento utópico de Condorcet e Saint
Simon em uma dimensão de ideologia utópico-revolucionária no século XVIII.
Próximo dos pensamentos dos fisiocratas, Condorcet concebe a economia
política como precisa ao cálculo e ao método das ciências naturais.Saint Simon
, por sua vez, idealiza a definição de “corpo social” compreendendo a ciência
social como “constituída pelos fatos naturais que derivam da observação direta
da sociedade”. Cabe, entretanto lembrar que a noção de organicismo ainda
não se apresentava neste autor.
O verdadeiro fundador do pensamento positivista nasceu na França, na cidade
de Montpelier, em 1798. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte desde
cedo revelou grande capacidade intelectual e prodigiosa memória. De família
monarquista e católica, suas influências tendiam para a tradição do Antigo
Regime francês. Nascido nove anos após a revolução francesa, recebeu na
escola uma formação nos moldes da tradição revolucionária burguesa.
Alimentando-se da filosofia iluminista, aproximou-se dos estudos da ciência
newtoniana. A partir daí inicia-se seu período de idealização dos princípios
positivistas. Sua primeira obra, “Plano dos trabalhos científicos necessários
para reorganizar a sociedade” seguido dois anos mais tarde por “Sistema de
política positiva” marcam o início de seu pensamento positivista no meio
acadêmico.
3
Mas foi durante o período em que Comte lecionara na escola politécnica que
sua obra mais importante fora escrita, “O curso de filosofia Positiva”. Graças a
esta publicação , Comte foi demitido de seu cargo na escola politécnica e
passou a viver de colaborações de alguns admiradores.
Durante dez anos Comte demonstrou origens místicas para seu pensamento
positivista. A idéia de uma religião positiva se espalhou pela França ( Ainda
hoje encontramos tentativas de criação de cultos metafísicos com fundamentos
científicos, o caso da contemporânea Cientologia ), popularizando alguns
príncipios do positivismo, o que fora amplamente refutado por seus seguidores
cientificistas, para, em seguida, Comte retomar o caráter científico de seu
pensamento, dedicando-se ao método positivista.
Comte afirmava que o momento pós revolução francesa se igualaria a uma
anarquia de idéias e que tomando por base a ciência positiva seria possível
reorganizar a sociedade.Passemos então a entender que tipo de positivismo
Comte estava propondo.
Para Comte o positivismo se estrutura basicamente em uma filosofia e em uma
política inseparáveis, sendo que uma constitue a base enquanto a segunda
constitui a meta de um mesmo sistema universal, no qual a inteligência e a
sociabilidade se encontra.
Nosso objetivo aqui não é delimitar a filosofia positiva mas sim as concepções
positivas nas ciências sociais, que mais tarde influenciariam a ciência da
educação. Tais concepções são fundadas em três premissas segundo Michael
Löwy:
1. É a sociedade regida por leis naturais, invariaveis e independentes da
vontade humana.
2. A sociedade pode ser epistemológicamente assimilada pela natureza e
estudada pelos mesmos métodos e processos das ciências naturais.
3. As ciências sociais devem se limitar a observar e explicar as causas dos
fenômenos de forma objetiva, neutra , livre de valores e ideologgias.
4
Não podemos , diante destas premissas deixar de comentar que a pretendida
neutralidade científica acaba por negar o caráter histórico-social do
conhecimento.
Ao analisarmos a polissemia do termo “positivo” nos deparamos com as balisas
do positivismo conceitual. Por positivismo podemos comprender o “real” em
oposição ao “fantasioso”, numa alusão de que o homem deve buscar
conhecimentos acessíveis a sua inteligência, não se buscando as causas finais
ou fundadoras das coisas.
Em outra possível acepção de positivismo encontramos o contraste entre o útil
e o ocioso. Apenas as coisas úteis para o aprimoramento humano devem ser
consideradas por uma ciência positiva.
Há ainda a noção de aproximação da certeza e do afastamento da imprecisão.
Mas a acepção mais esclarecedora do termo positivo é a de oposição a
“negativo”. O objetivo do positivismo é organizar e manter ao contrário de
desconstruir. Assim Comte propõe a manutenção da sociedade em tempos
pós-revolucionários, ao mesmo tempo em que balisa os conceitos fundantes de
sua doutrina.
Na filosofia positivista a idéia central consiste na proposta de que a sociedade
quando em desordem deve ser reorganizada pelas noções positivistas. Neste
sentido , Comte elaborou sua “Lei dos três Estados”. Influenciado pelo
evolucionismo, Comte acredita que sucessivos estados de organização
político-social se dão por superação. São eles o estado teológico, onde Deus é
o fundamento da convivencia social, o estado Metafísico, onde a especulação
filosófica estrutura as idéias, e por fim o estado positivo, no qual a razão
científica serve de fundamento para a compreensão dos fenômenos naturais e
humanos.
Comte, em seu conceito de estado positivo, afirma que a sociedade como um
corpo harmônico, com rítmo evolutivo norteado pela ordem e pelo progresso
são a última evolução dos estados da humanidade. Neste momento o conceito
de positivo se confunde com a própria noção de ciência natural do século XIX.
5
Assim, Comte, fundador do positivismo, inaugura a transmutação da visão de
mundo positivista em ideologia, ou seja, em sistema conceitual e axiológico que
tende a defesa da ordem estabelecida, uma ordem industrial.
O método positivo visa afastar a ameaça que representam as idéias negativas,
críticas, anárquicas, dissolventes e subversivas da filosofia do iluminismo e do
pensamento do socialismo utópico. Ironicamente Comte usa o mesmo sistema
intelectual que serviu a Condorcet e Saint Simon no sentido oposto: o princípio
metodológico de uma ciência natural da sociedade. A ciência da sociedade é
declarada então como pertencente ao ramo das ciências naturais.
O discurso positivista pretende economizar todo tipo de posicionamento ético
ou político sobre o estado de existência das coisas. Evitando qualquer tipo de
valoração o positivismo se limita a constatar que o mencionado estado é
natural, necessário, inevitável e é produto de leis invariaveis.
É importante destacar a relação entre o pensamento positivista e a
transformação do papel da burguesia na Europa. Se compararmos a evolução
paralela do direito, da economia política e do positivismo, no final do século
XVIII a meados do século XIX, percebemos que pela transformação do
conceito de lei natural a burguesia deixa de figurar como uma classe
revolucionária para assumir sua vocação de manutenção da ordem e do poder.
O mesmo conceito que havia sido instrumento revolucionário no século XVIII,
que esteve no centro da doutrina política dos insurretos de 1789, converte seu
significado no século XIX, para se tornar, com o positivismo, uma justificação
científica da nova ordem social estabelecida.
Como Comte, Durkheim foi um pensador do positivismo, consciente do caráter
profundamente contra-revolucionário de seu método positivista e de seu
naturalismo sociológico.
As contribuições de Emile Durkheim para o positivismo
Durkheim observou que a primeira regra fundamental do positivismo nas
ciências sociais era a consideração dos fatos sociais como coisas. Assim
6
Durkheim endossa a afirmação de Comte de que os fatos sociais são fatos
naturais submetidos a leis naturais. É um reconhecimento de que não há senão
coisas na natureza.
Há , no entanto, alguns posicionamentos estritamente originais no pensamento
Durkheimiano. Para Durkheim, a sociedade é estruturada de forma similar ao
corpo de um ser vivo, tendo um sistema de órgãos diferentes no qual cada um
possui um papel delimitado. Deste raciocínio, Durkheim conclui que certos
“orgãos sociais” possuem uma situação especial e, portanto, privilegiada. Este
privilégio é tido como natural, funcional e inevitável, justificando-se assim
diferenças sociais.
Estas formulações podem aparentar ingenuidade mas são fundamentos de um
funcionalismo em geral e da moderna teoria funcionalista das classes sociais
de Davis e Moore.
O paradigma organicista de Durkheim possui muitas semelhanças , por vezes,
se confundindo com o modelo de Darwinismo Social, no qual a sobrevivência é
a recompensa dos mais aptos. Para Durkheim nada favorecia injustamente os
concorrentes que disputam entre si as tarefas sociais, prevalecendo os mais
aptos a cada gênero de atividade.
O pensamento organicista fundamenta-se numa pressuposição essencial, que
pode ser entendida como “uma homogeneidade epistemológica dos diferentes
domínios e, por consequência, das ciências que os tomam como objeto” (Löwy,
2007 , p.30 )
Este ideal propõe que o cientista social ou o educador se coloque no mesmo
estado de espírito do físico, químico, matemático, fisiólogo, quando estes se
encontram com o estudo de uma área ainda não explorada. Pressupostos de
neutralidade e distanciamento entre observador e objeto. Em outros termos, o
cientista deve ignorar os conflitos ideológicos , silenciar os preconceitos e
distanciar todas as prenoções que lhe possam surgir. Assim seria possível a
constatação estritamente objetiva de algumas verdades elementares.
Nos escritos de Durkheim, observamos a descrição de patologias e
normalidades intrínsecas ao organismo social. Para Durkheim, um fenômeno é
7
normal quando pode ser encontrado, com certa freqüência, numa sociedade, em
determinada fase.
Na problemática positivista há um núclero racional, tanto em Comte quanto em
Durkheim, que conduz a uma cientificidade do saber: a busca pela verdade e a
vontade de conhecimento. Se uma investigação é sujeita a outros fins tratados
como mais importantes do que a verdade, tal investigação está condenada de
antemão do ponto de vista de sua validade cognitiva e de seu conteúdo de
conhecimento.
Assim, sintetizamos as visões de ciência positivista em Emile Durkheim e
Auguste Comte. Mas de que forma estas noções interagem e influenciam a
ciência da educação?
Educação e positivismo
Vivemos em uma era onde os conceitos e as práticas na política, na gestão e
no desenvolvimento social são determinadas por um contexto intelectual que
se iniciou no século XVII com as descobertas da física clássica e encontra seu
auge na era da revolução industrial. É nesta era de industrialização que
emerge a idéia de um universo uniforme, mecânico e previsível o que moldou o
desenvolvimento da ciência – e também da tecnologia – tornando-se ainda
um paradigma nos diversos campos do saber inclusive na educação.
Tendo como um de seus referenciais a “engenharia industrial”, o positivismo
apresenta um modelo que visa aumentar a eficiência por meio das categorias
de precisão e previsibilidade. Especificamente na educação encontramos
perspectivas economicistas, derivadas do cientificismo, onde se visa obter
taxas de retorno ( produtividade ) o que interfere , por vezes, de forma nefasta
no planejamento pedagógico. Os indicadores quantitativos imperam na
apreciação do rendimento escolar, revelando aspectos pragmáticos e
positivistas na delimitação dos planos de ensino.
A propagação do positivismo na educação se deve, em muito, à disseminação
do sucesso na aplicação prática de princípios científicos que visam a produção
8
de novas tecnologias. A industrialização , amparada pelas conquistas da
ciência positiva, favoreceu o fortalecimento político e militar das nações,
exportando assim um modelo de sucesso prático para todos os campos do
saber, inclusive na educação.
O positivismo está presente também no discurso das políticas públicas para a
educação, quando afirmamos, por exemplo, que a educação é a solução para
os problemas nacionais, bem como quando se propõe reformas, tanto na
sociedade quanto na educação.
O modelo escolar que vivenciamos em nossos dias é uma cópia fidedigna do
projeto de educação padronizada (universal ) elaborada na seara da ciência do
século XIX. Hierarquia, ordem, utilitarismo e perspectiva de progresso,
compõem a estante do positivismo educacional.
A herança da ideologia burguesa fora assimilada pelos militares republicanos
do século XIX no Brasil. A educação torna-se, neste cenário, um instrumental
da difusão dos conceitos de ordem e progresso.Disciplinas progressivamente
organizadas, segmentadas de modo instrumental, são as evidências mais
marcantes do positivismo na educação.
Por mais que saibamos que o método positivista seja produtivo, nos
perguntamos se a “produtividade” merece ser o critério de dosimetria da
qualidade do ensino. Neste sentido devemos observar criticamente o
positivismo educacional sem perder de vista que se trata de um movimento que
se pretende neutro ao mesmo tempo em que esconde uma grande carga
ideológica.
Muito dos efeitos nefastos desta doutrina pretendeu-se amenizar pelo círculo
de Viena e pelo movimento do neo positivismo lógico.
Mas ainda existe um forte cientificismo, perigoso, no seio da formação
educacional brasileira. Devemos nos atentar para esta realidade , dentro do
possível, buscar caminhos mais críticos e reflexivos para a construção de um
projeto de formação que não apenas alfabetize ou eduque, mas que fomente o
exercício pleno de cidadania.
9
BIBLIOGRAFIA
BERGO, Antonio Carlos. O positivismo: caracteres e influência no Brasil.
Reflexão,Campinas. 1983.
COMTE, Augusto. Curso de filosofia positiva; Discurso preliminar sobre o
conjunto do positivismo; Catecismo positivista. Col. Os Pensadores. São
Paulo: Nova Cultural, 1988.
______. Curso de filosofia positiva; Discurso preliminar sobre o conjunto do
positivismo; Catecismo positivista. Col. Os Pensadores. São Paulo: Abril
Cultural, 1983.
DURKHEIM, E.. As Regras do Método Sociológico. In: Durkheim. (Coleção Os
pensadores). São Paulo: Abril Cultural ,1983
GIDDENS, A. O Positivismo e seus Críticos. In: T. Bottomore e R. Nisbet (org.).
História da Análise Sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora. 1978
LÖWY, Michael. As aventuras de Karl Marx contra o barão de Münchausen:
marxismo e positivisto na sociologia do conhecimento. 9.ed. São Paulo. Cortez.
2007.
SAVIANI, D. Escola e Democracia. 36.ed., Revista. Campinas; Autores
Associados, 2003.
Você também pode gostar
- Sapienciais e Salmos - Atividade 1.1Documento2 páginasSapienciais e Salmos - Atividade 1.1Karina Moreti100% (3)
- Auguste Comte-TrabalhoDocumento11 páginasAuguste Comte-TrabalhoGilvane SilvaAinda não há avaliações
- EpistemologiaDocumento6 páginasEpistemologiaMarcelo SerigattiAinda não há avaliações
- Positivismo X MarxismoDocumento7 páginasPositivismo X MarxismoJorge CristianoAinda não há avaliações
- O Que É PositivismoDocumento10 páginasO Que É PositivismoMarcelo Santos0% (1)
- LÖWY, Michael. As Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de Münchhausen (15-33)Documento19 páginasLÖWY, Michael. As Aventuras de Karl Marx Contra o Barão de Münchhausen (15-33)Ajaxtu TamAinda não há avaliações
- POSITIVISMO E MARXISMO Uma Indicação de AnáliseDocumento11 páginasPOSITIVISMO E MARXISMO Uma Indicação de AnáliseJorgeLuisAinda não há avaliações
- REVISÃO - Apostila e Resumo 01 - N1 Bases Biológicas Do ComportamentoDocumento35 páginasREVISÃO - Apostila e Resumo 01 - N1 Bases Biológicas Do ComportamentoDaiana VieiraAinda não há avaliações
- ALONSO, Angela - Do Positivismo e de PositivistasDocumento26 páginasALONSO, Angela - Do Positivismo e de PositivistasFernando LopesAinda não há avaliações
- TDE I - Positivismo e Anaílise PessoalDocumento8 páginasTDE I - Positivismo e Anaílise PessoalthiagoAinda não há avaliações
- 1 O Positivismo Lógico e o Racionalismo CríticoDocumento19 páginas1 O Positivismo Lógico e o Racionalismo CríticoPriscila Adelino100% (2)
- Augusto Comte e o PositivismoDocumento21 páginasAugusto Comte e o PositivismoCecilia MaryellemAinda não há avaliações
- SDFDocumento5 páginasSDFVinicius VozniekAinda não há avaliações
- Positivismo e Educação PDFDocumento6 páginasPositivismo e Educação PDFCamila MeloAinda não há avaliações
- COMTE ResenhaDocumento5 páginasCOMTE ResenhaHector MolinaAinda não há avaliações
- Ideologias, LowyDocumento23 páginasIdeologias, LowyEstéfani Dutra RamosAinda não há avaliações
- Aula 2 e 3 - Surgimento Das Ciencias SociaisDocumento25 páginasAula 2 e 3 - Surgimento Das Ciencias SociaisBruno Felipe Firmino de SouzaAinda não há avaliações
- POSITIVISMODocumento4 páginasPOSITIVISMOThiago CostaAinda não há avaliações
- Livro 2Documento23 páginasLivro 2Giulianna AlvesAinda não há avaliações
- Positivismo e MarxismoDocumento6 páginasPositivismo e MarxismoJulinyAinda não há avaliações
- Unipampa Teoria Sociologica Trabalho Auguste Conte Frederico Fitaroni Batista Lengruber 05.08.2020Documento8 páginasUnipampa Teoria Sociologica Trabalho Auguste Conte Frederico Fitaroni Batista Lengruber 05.08.2020Manuela BrasilAinda não há avaliações
- Comte e o PositivismoDocumento2 páginasComte e o PositivismoLETICIA MENDES SOARESAinda não há avaliações
- Cap 21 Positivismo - Auguste Comte (Para Compreender A Ciência)Documento20 páginasCap 21 Positivismo - Auguste Comte (Para Compreender A Ciência)Kamile RabeloAinda não há avaliações
- Auguste ComteDocumento5 páginasAuguste ComteCarolina ÁvilaAinda não há avaliações
- Auguste ComteDocumento2 páginasAuguste Comtefvqgdw5rqqAinda não há avaliações
- Características Do PositivismoDocumento4 páginasCaracterísticas Do PositivismoJessé Alves de AraujoAinda não há avaliações
- Trabalho Do 5º Grupo de Direito 1 º Ano Turma BDocumento11 páginasTrabalho Do 5º Grupo de Direito 1 º Ano Turma BHilario JoseAinda não há avaliações
- Documento Sem TítuloDocumento5 páginasDocumento Sem Títulogabrielacamargo1007Ainda não há avaliações
- 4 Aula 1° Ano 1Documento4 páginas4 Aula 1° Ano 1Celio AlmeidaAinda não há avaliações
- O PositivismoDocumento9 páginasO Positivismoapi-3698926100% (1)
- FILOSOFIADocumento10 páginasFILOSOFIACarol AlmeidaAinda não há avaliações
- Curso de Graduação em Antropologi1Documento4 páginasCurso de Graduação em Antropologi1Jimmy MeloAinda não há avaliações
- O Positivismo Clássico - Versão UfmaDocumento28 páginasO Positivismo Clássico - Versão UfmaPsychoAinda não há avaliações
- Principais Correntes Teóricas Da SociologiaDocumento17 páginasPrincipais Correntes Teóricas Da SociologiaSrt. ChaeyoungAinda não há avaliações
- Texto - Positivismo, Ciência e ConhecimentoDocumento20 páginasTexto - Positivismo, Ciência e ConhecimentoREDAÇÃO POTTERAinda não há avaliações
- Resumo - PositivismoDocumento6 páginasResumo - PositivismoNayara Silva MartinsAinda não há avaliações
- O Positivismo de Auguste ComteDocumento4 páginasO Positivismo de Auguste ComtePhelicciano HamorimAinda não há avaliações
- PositivismoDocumento10 páginasPositivismoEdmilson SimbineAinda não há avaliações
- Auguste Comte e o PositivismoDocumento6 páginasAuguste Comte e o PositivismoMarcos Roberto RosaAinda não há avaliações
- Sociologia AdelaideDocumento11 páginasSociologia AdelaideEmílio SitoeAinda não há avaliações
- O Positivismo de Auguste Comte: A Lei Dos TrêsDocumento22 páginasO Positivismo de Auguste Comte: A Lei Dos TrêsVitor Rosa100% (2)
- Auguste Comte e o PositivismoDocumento10 páginasAuguste Comte e o PositivismoLuna LaswickAinda não há avaliações
- SOCIOLOGIADocumento5 páginasSOCIOLOGIAanasouza.felixcarolinaAinda não há avaliações
- Introdução EssDocumento10 páginasIntrodução EssHoracio TembeAinda não há avaliações
- O Positivismo: Auguste - Comte#/media/ Ficheiro:Auguste - Comte - JPGDocumento2 páginasO Positivismo: Auguste - Comte#/media/ Ficheiro:Auguste - Comte - JPGfellip.blessedAinda não há avaliações
- Positivismo - 1º ANOS - SocDocumento15 páginasPositivismo - 1º ANOS - Socmarialeticiasantospereira2008Ainda não há avaliações
- PMERJ Sociologia ComteDocumento3 páginasPMERJ Sociologia ComteAlex FonteAinda não há avaliações
- H 8 Beys J8 e RDSJ N0 Z892 o KDMN IQgiw Yos Bgs EUEUHDocumento27 páginasH 8 Beys J8 e RDSJ N0 Z892 o KDMN IQgiw Yos Bgs EUEUHEsther SerpaAinda não há avaliações
- Ordem e Progresso - Reportagem - Revista Historia-Viva PDFDocumento4 páginasOrdem e Progresso - Reportagem - Revista Historia-Viva PDFlogion78839Ainda não há avaliações
- Ordem e Progresso - História VivaDocumento4 páginasOrdem e Progresso - História VivaRodrigo Miguel de SouzaAinda não há avaliações
- Introdução À SociologiaDocumento65 páginasIntrodução À SociologiaAline MonteiroAinda não há avaliações
- Aula 1 - Introdução À SociologiaDocumento9 páginasAula 1 - Introdução À SociologiaelisangelaAinda não há avaliações
- Lista 02 Comte e o PositivismoDocumento9 páginasLista 02 Comte e o PositivismoAlessandra IngridAinda não há avaliações
- Esquema PositivismoDocumento8 páginasEsquema PositivismoEsther Marielle OliveiraAinda não há avaliações
- Origem Da SociologiaDocumento4 páginasOrigem Da SociologiaFelipe GoldmanAinda não há avaliações
- Positivismo Na EducaçãoDocumento4 páginasPositivismo Na Educaçãojosecavalcante88019Ainda não há avaliações
- O PositivismoDocumento8 páginasO PositivismoJhonatas DantasAinda não há avaliações
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNo EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoAinda não há avaliações
- Princípios de Agroecologia LivroDocumento91 páginasPrincípios de Agroecologia LivroCharles Alves100% (1)
- 10 - Prticas Pedaggicas em Salas Multisseriadas - HenriqueDocumento16 páginas10 - Prticas Pedaggicas em Salas Multisseriadas - HenriqueCharles AlvesAinda não há avaliações
- Estatística Aplicada À Educação (Definitivo) PDFDocumento58 páginasEstatística Aplicada À Educação (Definitivo) PDFCharles AlvesAinda não há avaliações
- Estudo Sobre A Parábola Do SamaritanoDocumento11 páginasEstudo Sobre A Parábola Do SamaritanoCharles AlvesAinda não há avaliações
- Jogo de RunasDocumento6 páginasJogo de RunasPsicologia Portalegre100% (1)
- Módulo 22 - Santo AgostinhoDocumento19 páginasMódulo 22 - Santo AgostinhoLucas PradoAinda não há avaliações
- O Caminho PerfeitoDocumento21 páginasO Caminho PerfeitoMarcos PaganiAinda não há avaliações
- Resumo - Flávia PiovesanDocumento65 páginasResumo - Flávia PiovesanEnila ConcurseiraAinda não há avaliações
- Araújo Filosofia Da Ciencia e Da Tecnologia Por Regis MoraisDocumento7 páginasAraújo Filosofia Da Ciencia e Da Tecnologia Por Regis Moraisprofbondarik7483Ainda não há avaliações
- Nodos TransitosDocumento5 páginasNodos TransitosCláudia RodriguesAinda não há avaliações
- Cosmologia e MúsicaDocumento101 páginasCosmologia e MúsicaSamuel Canto MattioliAinda não há avaliações
- Políticas e Diretrizes Operacionais para A Educação No CampoDocumento116 páginasPolíticas e Diretrizes Operacionais para A Educação No CampoPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Arco HermenêuticoDocumento48 páginasArco HermenêuticoEduardo Sales de LimaAinda não há avaliações
- Trab. de FilosofiaDocumento8 páginasTrab. de Filosofiavictor garroteAinda não há avaliações
- Prova - Patristica PDFDocumento2 páginasProva - Patristica PDFJovani Araújo100% (1)
- A Importancia Da Comunicação Interna Nas OrganizaçõesDocumento11 páginasA Importancia Da Comunicação Interna Nas OrganizaçõesAnderson RibeiroAinda não há avaliações
- Filosofia-Crista VC Sabe o Que É?Documento17 páginasFilosofia-Crista VC Sabe o Que É?Programa Hora da EvangelizaçãoAinda não há avaliações
- Tesis Doctoral de Diana BogadoDocumento391 páginasTesis Doctoral de Diana BogadoJônatas JúniorAinda não há avaliações
- Elite Resolve ENEM 2015 Linguagens-MatematicaDocumento36 páginasElite Resolve ENEM 2015 Linguagens-MatematicaLeonardo FagundesAinda não há avaliações
- Organizacoes AprendentesDocumento9 páginasOrganizacoes AprendentesPaito ManhicaAinda não há avaliações
- ConfiancaDocumento4 páginasConfiancapapintoAinda não há avaliações
- Introdução À Crítica Da Razão PuraDocumento5 páginasIntrodução À Crítica Da Razão PuraGabriela SqrAinda não há avaliações
- Questões de Existência e o Argumento Cosmológico ModalDocumento15 páginasQuestões de Existência e o Argumento Cosmológico ModalGilmar Pereira Dos SantosAinda não há avaliações
- Proverbios em Lingua BantuDocumento17 páginasProverbios em Lingua BantuRafael Hélder MartinhoAinda não há avaliações
- Dos Fundamentos e Das Origens Do DireitoDocumento15 páginasDos Fundamentos e Das Origens Do DireitoJáder N. Cachoeira100% (1)
- Segunda Pratica Tara VermelhaDocumento7 páginasSegunda Pratica Tara VermelhaLima Juacir100% (1)
- Martin Heidegger e Existencialismo JurídicoDocumento4 páginasMartin Heidegger e Existencialismo JurídicoNicolli Mendes TheodoroviczAinda não há avaliações
- Ementas Teorias de CinemaDocumento4 páginasEmentas Teorias de CinemaZelloffAinda não há avaliações
- Antropologia e DireitoDocumento3 páginasAntropologia e DireitoOtavio NetoAinda não há avaliações
- ORTEGA, Francisco - Da Ascese A BioasceseDocumento30 páginasORTEGA, Francisco - Da Ascese A BioasceseAngelo PeixotoAinda não há avaliações
- AD1 Teoria Da Literatura 2Documento3 páginasAD1 Teoria Da Literatura 2Alberto MatheAinda não há avaliações
- Apostila Teoria UrbanismoDocumento98 páginasApostila Teoria UrbanismoAzul AraújoAinda não há avaliações
- Aspectos Gerais Sobre o Sistema Árabe de Proteção Aos Direitos Humanos - Direitos Humanos - Âmbito Jurídico PDFDocumento7 páginasAspectos Gerais Sobre o Sistema Árabe de Proteção Aos Direitos Humanos - Direitos Humanos - Âmbito Jurídico PDFclarissaceciliaAinda não há avaliações