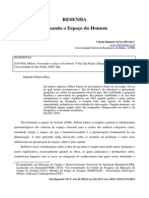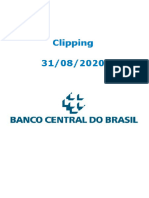Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A (Re) Construção Do Indivíduo: A Sociedade de Consumo Como "Contexto Social" de Produção de Subjetividades PDF
A (Re) Construção Do Indivíduo: A Sociedade de Consumo Como "Contexto Social" de Produção de Subjetividades PDF
Enviado por
JhieniferTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A (Re) Construção Do Indivíduo: A Sociedade de Consumo Como "Contexto Social" de Produção de Subjetividades PDF
A (Re) Construção Do Indivíduo: A Sociedade de Consumo Como "Contexto Social" de Produção de Subjetividades PDF
Enviado por
JhieniferDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A (re)construção do indivíduo:
a sociedade de consumo como “contexto social”
de produção de subjetividades
Anderson Moebus Retondar*
Resumo: O presente trabalho tem como objeto privilegiado de
análise a configuração contemporânea da sociedade de consumo e
as novas relações e processos sociais que esta engendra. A despeito
das teses que reforçam o espraiamento do consumo como forma
de massificação/homogeneização social, responsável por destituir a
própria possibilidade de realização do indivíduo enquanto sujeito do
processo social, caras ao pensamento frankfurtiano, especialmente
através das obras de Adorno e Horkheimer, pretende-se aqui discutir
em que medida, a partir da centralidade que o processo de consumo
adquire no contexto das atuais sociedades, ocorreria um movimento
inverso, marcado pelo fortalecimento de processos de individuação
por intermédio de novas formas de construção de identidades e
subjetividades mediadas pela atividade consumista. Trata-se, neste
caso, de trabalho que procura discutir, a partir da perspectiva teórica
do sociólogo americano John B. Thompson, em que medida a esfera
do consumo se qualificaria enquanto um “contexto estruturado”, a
partir do qual dar-se-ia a produção de novas “formas simbólicas”
que se transfigurariam em elementos de expressão de subjetividades
sociais.
Palavras-chave: sociedade de consumo, cultura contemporânea,
identidades, individualidade, subjetividades.
*
Professor do programa de pós-graduação e do curso de graduação em Ciência Sociais, e
coordenador da área de Sociologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade
Federal de Campina Grande (UFCG). E-mail: anderson.retondar@bol.com.br
Artigo recebido em 7 ago. 2007 e aprovado em 30 abr. 2007.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
138 Anderson Moebus Retondar
A sociedade de consumo caracteriza-se, antes de tudo, pelo
desejo socialmente expandido da aquisição “do supérfluo”, do
excedente, do luxo. Do mesmo modo, se estrutura pela marca da
insaciabilidade, da constante insatisfação, onde uma necessidade
preliminarmente satisfeita gera quase automaticamente outra
necessidade, num ciclo que não se esgota, num continuum onde o
final do ato consumista é o próprio desejo de consumo.1
O espraiamento dessa lógica – que se dá a partir das mudanças
estruturais desenvolvidas no século XVIII na Europa ocidental,
especialmente com a Revolução Industrial – acelera-se a partir da
segunda metade do século XX, quando o universo do consumo
passou a ganhar centralidade tanto como motor do desenvolvimento
econômico quanto através da expansão do consumismo como
elemento de mediação de novas relações e processos que se
estabelecem no plano cultural das sociedades modernas.
Dentro dessa perspectiva, o consumo deixa de ser uma
variável dependente de estruturas e processos a ele externos e passa
a se constituir enquanto campo autônomo, caracterizando-se como
importante objeto do conhecimento no âmbito das ciências sociais
contemporâneas, especialmente no campo dos estudos sobre a
cultura.2
Esta questão nos informa, por si própria, sobre algo novo. Ou
seja, quando o pensamento social começa a eleger as práticas de
consumo enquanto objeto da análise científica, não apenas confere
legitimidade a este campo, mas, fundamentalmente, revela algum tipo
de mudança que se estabelece nas estruturas e processos constitutivos
da ordem social global. A partir daí entram em cena duas questões
que passam a orientar os estudos sobre consumo e suas relações
com a atividade social: a primeira refere-se à centralidade que a
produção de significados e processos simbólicos em geral passam
a desempenhar no contexto da atividade social contemporânea; e
a segunda preocupa-se com os significados sociais e os processos
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 139
simbólicos que, agora, se encontram transpassados pelo universo do
consumo.
Numa palavra, o campo da atividade consumista deixa de
ser espaço da atividade econômica para se constituir
enquanto campo de produção de significados e formas simbólicas.
Consumir passa, neste caso, a ser percebido como processo de
mediação de relações sociais, transfigurando através desta atividade
conflitos políticos, de gênero, distinções étnico-raciais, reprodução
de valores entre um conjunto de outros elementos que são sustentados
ou negados simbolicamente no interior deste campo.
Se as origens da sociedade de consumo estão localizadas no
período de consolidação da própria modernidade na Europa ocidental
dos séculos XVIII e XIX, é patente sua radicalização no contexto das
sociedades contemporâneas, servindo agora como referência para
construções intelectuais fortes como, por exemplo, a idéia de uma
cultura de consumo que, segundo algumas abordagens,3 constituir-
se-ia como uma das chaves explicativas da própria dinâmica cultural
na modernidade tardia.
Exageros à parte, parece fato corrente na atual teoria social que
a lógica da produção, responsável pela manutenção e fortalecimento
da noção de sociedade industrial na primeira metade do século
XX, se encontra, a partir das mudanças estruturais do capitalismo
contemporâneo, perdendo crescentemente centralidade diante da
lógica do consumo, a qual passaria a constituir a base de um tipo de
organização social novo, autodenominado pós-industrial.
As mudanças no mundo da produção e do trabalho seriam,
sob este viés de abordagem, os movimentos fundamentais a partir
dos quais aconteceria essa passagem, de um lado, em decorrência da
perda da centralidade da própria atividade produtiva como epicentro
do novo capitalismo (Offe, 1989) e/ou, de outro, pela mudança
no próprio modelo de acumulação, que passa a ser marcado pela
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
140 Anderson Moebus Retondar
flexibilidade tanto da produção quanto do consumo (Harvey,
1992).
Sob o primeiro aspecto da questão, Clauss Offe (1989)
irá chamar a atenção para o que ele denomina “capitalismo
desorganizado”, marcado pela sobreposição do setor de serviços
sobre o setor produtivo, associado ao declínio de uma ética do
trabalho e, de modo decisivo, à perda da centralidade da atividade
ocupacional como elemento constitutivo das identidades sociais
nesta fase do capitalismo avançado.
Nessa perspectiva, este processo de descentralização do
trabalho e da própria esfera da produção como lócus de constituição
das identidades e, por extensão, da própria subjetividade social,
cederia lugar a outros espaços onde essas identidades e subjetividades
seriam produzidas.
Mesmo sem afirmar com precisão quais seriam esses novos
espaços, Offe coloca um problema que nos parece ser pertinente
e que passa a ser gradativamente contemplado por parte do
pensamento sociológico que começa a compreender a esfera da
demanda como lócus privilegiado a partir do qual se constituiriam,
agora, identidades e manifestações de subjetividade social.
Evidentemente que, se se modificam os espaços da produção
de significados, modifica-se, do mesmo modo, a lógica da produção
tanto sob o aspecto dos meios quanto dos próprios agentes produtores.
Se, no âmbito da sociedade industrial, os agentes se estruturam a
partir de uma lógica essencialmente homogeneizante, no contexto
do capitalismo avançado essa lógica parece se orientar em direção
à fragmentação.
A própria noção de classe como elemento constituinte de
identidades torna-se problemática na medida em que, com a perda
da centralidade da atividade produtiva em relação à atividade de
serviços, os critérios objetivos na demarcação das posições de
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 141
classe se diluiriam. No interior desse contexto poderíamos falar de
um deslocamento, onde as identidades passariam a ser constituídas
a partir de um conjunto de esferas localizadas fora do espaço do
trabalho, em grande medida entrelaçadas à dinâmica do consumo.
Na outra ponta da questão se coloca o problema do modelo
da acumulação flexível e como ele passa a alterar as relações entre
consumo, cultura e sociedade.
O modelo de acumulação flexível pressupõe, antes de tudo,
uma ruptura com os princípios do modelo fordista de gerenciamento
da produção, no que tange tanto à dinâmica do trabalho quanto à
dinâmica do capital. Tanto num caso quanto no outro, flexibilizar
a produção significa, em termos objetivos, capacitar a estrutura
de produção para, num curto espaço de tempo, produzir produtos
altamente diversificados, o que, por seu lado, somente é possível
através da substituição crescente do trabalho manual especializado
pelo trabalho intelectual e altamente volátil.
Sob esse aspecto, a ordem da produção passa a ser, ao contrário
do princípio de padronização e homogeneização, organizada pelo
princípio da fragmentação e efemeridade da produção, causando
impacto direto sobre a esfera do consumo. Nesse caso, o modelo
da acumulação flexível, aliado às novas tecnologias de produção,
propiciaria a base para um mercado de bens altamente diversificado,
visando cada vez mais uma maior aproximação entre o produtor e
o consumidor, tentando adequar o máximo possível a produção às
exigências mais particulares deste último.
Em termos propriamente sociológicos, essa mudança não é
apenas uma mudança quantitativa que se dá no campo do consumo
por intermédio da maior disponibilidade e variedade de bens. Ao
contrário, reflete uma mudança na própria lógica social do consumo,
que passa de uma relação de massificação do consumidor para uma
hipertrofia de sua individualidade.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
142 Anderson Moebus Retondar
A especialização do consumo através da fragmentação dos
mais variados segmentos consumidores – processo que, segundo
alguns,4 foi impulsionado pelo modelo da acumulação flexível a
partir da segunda metade do século XX – seria, neste caso, o principal
elemento a partir do qual poderíamos então falar de uma passagem
do sentido coletivo do consumo, precisamente sob o aspecto da
homogeneização social, para um outro, marcado pelo princípio da
individualização.
Por outro lado, se atribuirmos às práticas consumistas
status de práticas significativas – e isto parece ser um elemento
essencial que envolve o ato de consumo nas sociedades modernas–,
a flexibilização da produção, responsável por gerar um consumo
altamente diversificado, produzirá uma experiência cultural nova,
marcada pela alta fragmentação dos significados sociais, responsável,
assim, por um movimento constante de individualização orientado
pelas práticas consumistas.5
Vista sob uma perspectiva puramente fenomenológica, a
experiência contemporânea do consumo refletiria, de maneira
objetiva, esta forma de individualização por intermédio do ato
consumista.
A própria categoria “consumidor”, em seu sentido abstrato
e universal, parece estar sendo colocada em xeque em favor de
variações que pressupõem uma multiplicidade de características
sociais e culturais como sexualidade, etnia, identidades, gostos,
etc., que são distintamente atribuídas pelos mais diversos segmentos
consumidores, tanto pela publicidade quanto pela organização dos
departamentos de marketing, que se tornaram decisivos nas empresas
no sentido de orientar a própria atividade produtiva.6
Gostaríamos aqui de propor uma inversão do problema.
Se tudo indica que o movimento de especialização do consumo
resultaria de um conjunto de mudanças técnico-estruturais que o
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 143
viabilizariam, a questão de fundo que o orienta não parece residir
apenas nesta perspectiva mais visível de todo o processo.
Sob este aspecto, mais do que as mudanças ocorridas
na estrutura do modelo capitalista de acumulação, acredito
que o responsável por caracterizar uma das principais bases de
reorganização do consumismo nas sociedades contemporâneas
tenha sido a retomada do princípio da individualidade enquanto
valor fundamental da modernidade.
Antes de tudo, a idéia de indivíduo deve ser percebida como
uma construção social do mundo moderno, que se fundamenta nas
transformações políticas, sociais e filosóficas dos séculos XVII e
XVIII desde a reforma protestante até o advento do Ilumismo, e
que pressupõe, essencialmente, uma dimensão de reflexividade
que se contrapõe às determinações normativas da tradição e de
ordenamentos metafísicos sobre a realidade, estruturando-se como
o princípio a partir do qual o sujeito se expressa nas sociedades
modernas.
No entanto, ao longo do desenvolvimento dos séculos
XIX e XX, o “ indivíduo” – enquanto efetivo sujeito do processo
social – foi sendo minimizado em relação a um conjunto de forças
macrossociais. Isto pode ser percebido deste o desenvolvimento da
indústria cultural até o fortalecimento do Estado como estrutura
crescente de controle.
No interior da própria teoria social esse processo foi
retratado tanto direta quanto indiretamente através das análises
que privilegiavam os aspectos estruturais do desenvolvimento da
modernidade, seja no âmbito do marxismo seja no plano da análise
funcional.7
No próprio pensamento de Foucault, o Sujeito também se
descentra, estando entremeado pelos processos histórico e social;
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
144 Anderson Moebus Retondar
neste caso, não seria um atributo do indivíduo, mas o resultado do
próprio movimento imanente da história. Giddens (1999, p. 307),
chama a atenção para o fato de que esse movimento levaria, no caso
extremo, à possibilidade de pensarmos a história completamente
ausente de sujeitos ativos: “o problema é que a história para
Foucault parece não ter sujeito ativo nenhum. É história sem ação.
Os indivíduos que aparecem nas análises de Foucault mostram-se
como que impotentes para determinar seus próprios destinos” .
De um modo ou de outro, a partir da segunda metade do século
XX, principalmente em suas últimas décadas, podemos perceber um
movimento contrário a este processo, aonde o tema da subjetividade
retorna com força tanto na atividade social concreta quanto no
interior do pensamento social contemporâneo.8
O declínio do “Estado social” na Europa associado aos
movimentos da contra-cultura e, por fim, o próprio advento da
pós-modernidade – esta última marcada pela flexibilização dos
significados no interior das práticas sociais e pela fragmentação
da atividade social e suas respectivas representações, processo que
inequivocamente, acaba por relançar o indivíduo para dentro da
arena social –, contribuíram decisivamente para a retomada do tema
da subjetividade no contexto da atividade social contemporânea.
Neste sentido, nos parece que a hipertrofia do individualismo
no atual estágio de desenvolvimento das sociedades se deve, muito
mais do que a mudanças estruturais no plano econômico, tal qual
apontado por Harvey (1992), à recuperação de um dos valores
centrais da modernidade, no qual o homem torna-se sujeito da
atividade social e que, ao longo do século XX, foi soterrado por
forças macro-estruturais, irrompendo agora com toda força e a esfera
do consumo parece ser o meio privilegiado para tal irrupção.
Se pensarmos a esfera contemporânea do consumo como um
sistema de comunicação social,9 aonde os diversos produtos e bens
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 145
são constantemente associados a distintos universos significativos e,
ainda, que tal associação se dá de maneira cada vez mais flexível, o ato
de consumo transforma-se, neste caso, num ato de adesão simbólica
em que a escolha do objeto se torna uma escolha estratégica, por meio
da qual o consumidor vai continuamente definindo e redefinindo sua
identidade.
Nesta perspectiva, a própria constituição de identidades resvala
nesse processo de escolhas, mediado pela atividade de consumo, o
que pressupõe, efetivamente, uma dimensão de reflexividade.
É exatamente sob este aspecto que a dinâmica do consumo
passa a se constituir como um processo de produção de subjetividades,
recuperando a dimensão do indivíduo enquanto valor central da
modernidade através do ato de consumo enquanto ato de escolha
reflexivamente orientado.
Poderíamos assim afirmar que o ato de consumo se caracteriza
como uma forma contemporânea de “ação social” que se desdobra
– tal qual nos termos desenvolvidos pelo próprio Weber –, em um
tipo específico de relação social, definida a partir de um conjunto de
significados que a envolvem e que se encontram partilhados por um
grupo definido de consumidores.
O ato de consumo, definido então como substrato de uma
relação social, não poderia, sob este aspecto, ser completamente
destituído de subjetividade. Neste caso, a relação estabelecida entre
o conjunto dos consumidores pressupõe uma relação intersubjetiva,
na qual interesses, gostos e preferências, juntamente com as marcas
e significados sociais que a acompanham, acabam se entrelaçando
por intermédio da prática consumista.
Esta subjetividade vai sendo definida, então, no interior
do próprio processo de consumo, não se reduzindo assim a uma
subjetividade “psicológica”, mas, sim, produzida no interior de um
processo social. Poderia a isto se objetar que tal experiência seria
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
146 Anderson Moebus Retondar
uma forma dissimulada da individualidade, ou mesmo uma pseudo-
expressão desta, tal como formulado, por exemplo, no pensamento
de Adorno.
Para Adorno, ao se criar um sistema massificado da cultura
pela mercadificação dos bens culturais, a indústria cultural
produziria, simultaneamente, a padronização e homogeneização
do gosto e das escolhas, retirando desse processo qualquer forma
de expressão subjetiva do indivíduo. Tal processo, no entanto, não
se apresentaria de forma visível aos homens. Ao contrário, sua
realização real pressupõe, dialeticamente, sua negação simbólica. E
é aí exatamente que a menção ao indivíduo se tornaria a condição de
sobrevivência do sistema enquanto mecanismo de ocultamento de
sua real dinâmica de padronização e massificação.10
A questão de fundo, no entanto, e que nos parece central
na compreensão de todo o processo, estaria ligada a uma outra
perspectiva, que remete ao processo de vivenciação simbólica da
individualidade.
Parece-nos imprescindível ter em conta que, antes de tudo,
o “indivíduo” é uma construção social da modernidade. E, como
tal, não se refere, de modo ingênuo e trivial, a um sujeito de carne
e osso dotado de uma liberdade total, monádica, gerada por sua
racionalidade. Antes, o indivíduo se caracteriza como um ideal
moderno. Sua vivenciação simbólica, nos parece, é um ato de
sua realização, talvez mesmo a sua possibilidade mais efetiva de
existência.
Deste modo, a crítica deflagrada à perda da individualidade
ou, ao menos, sua supressão no decorrer do desenvolvimento da
modernidade e de suas macro-estruturas parte de um pressuposto:
a existência de um indivíduo real, de uma subjetividade purificada
e constituída a priori, no limite, uma subjetividade constituída ex-
ante, num plano quase transcendente.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 147
Mas, de fato, onde se encontraria esse “indivíduo” perdido
da modernidade? Quando, de fato, ele existiu, ao menos nestes
moldes? Estaria esta perda associada ao próprio sentido do declínio
da racionalidade iluminista?
Quando Horkheimer (1976) produz a metáfora sobre o
indivíduo na modernidade, apontando esta última como “a máquina
que expeliu o maquinista”, a pergunta que cabe é exatamente a
seguinte: quem é este indivíduo que estaria no comando do mundo
moderno e que foi destituído ao longo do desenvolvimento da
própria modernidade?
Se a crítica ao desenvolvimento dos sistemas e processos de
massificação e estandardização social produzida por parte da teoria
social contemporânea em relação à dissolução da individualidade faz
sentido, ela, no entanto, equivoca-se ao pressupor a existência de um
ente singular, real, que estaria sendo ultrapassado por esses sistemas
e processos. Ao fazer isso, ela reifica a própria noção de indivíduo
como algo absoluto, como um dado da realidade social. Parece-nos,
ao contrário, que o que está realmente em jogo seriam, antes de tudo,
forças sociais em combate, valores em combate. Exatamente por isso
é plausível pensarmos que, mesmo no interior da esfera do consumo,
atreladas diretamente ao mercado, possam submergir expressões de
subjetividade, mediadas pela atividade consumista.
Neste caso, se podemos pensar a esfera do consumo
como espaço para a produção de subjetividades e constituição
de identidades, é imprescindível, no entanto, reconhecer a
característica de flexibilidade dessas expressões. No interior desta
perspectiva seria possível falarmos de “identidades flexíveis”, que
se organizam a partir de experiências subjetivas mediadas pelos
significados presentes e atribuídos aos produtos e bens de consumo.
Portanto, o desenvolvimento e a expansão da sociedade de consumo
recolocam, tanto quanto ampliam, este valor caro à modernidade,
ou seja, o indivíduo, enquanto efetivo sujeito do processo social,
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
148 Anderson Moebus Retondar
transformando-se, em uma espécie de “estrutura civilizatória” da
própria modernidade.
Se, num primeiro momento, a sociedade de consumo se
organizou pelo viés da padronização, onde a diferenciação mar-
cava-se pela proximidade com o estilo de vida e padrão de consumo
de algum grupo bem estabelecido e legitimado na sociedade, que
se tornava um grupo de referência – procedimento que, aliás, foi
determinante no crescimento das indústrias de imitação já a partir
de meados do século XVIII na Inglaterra –, no contexto atual de
organização da sociedade de consumo, o elemento marcante parece
ser a diferenciação pela identificação.
Dito de outro modo, seria plausível afirmar que, no plano da
sociedade de consumo contemporânea, marcada por uma cultura
ao mesmo tempo altamente fragmentada e objetiva, a questão do
“indivíduo” enquanto agente do processo social torna-se imperativa
por um motivo especial: ele passa a ser a principal referência para
a constituição de identidades, isto é, passa a constituir uma das
principais referências a partir da qual grupos e segmentos sociais
se formam, de acordo com a absorção de marcos de identificação
como símbolos, signos, imagens e representações que se encontram
dispostos em um sistema de consumo que compreende desde o
mercado até as estruturas de comunicação social, como a indústria
cultural e a publicidade.
A questão do “indivíduo” – enquanto elemento estrutural
deste processo – torna-se, então, patente, tendo em vista que a “ele”
se reporta a consolidação de marcas identitárias, que somente se
fixam através de sua “adesão” ou não a tais marcas, encontrando-se
estas associadas aos objetos dispostos hierarquicamente no interior
do sistema de consumo.
A publicidade desempenha aí um papel fundamental à medida
que, através de seu discurso, reafirma a noção de indivíduo enquanto
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 149
efetivo agente do processo social, transfigurado na imagem do
indivíduo-consumidor.
Em outras palavras, se identidades são produzidas e definidas
dentro do processo de consumo, elas não mais se impõe totalmente
de “fora” sobre indivíduos e grupos, formando suas identidades
deliberadamente, mas ao contrário, são demarcadas por intermédio
de “atos de escolha”, através do ato de consumo, juntamente com
um conjunto de marcas identitárias que se encontram dispostas no
interior do sistema de consumo. Neste caso, o indivíduo, enquanto
consumidor, passa a ser também agente no interior desse processo
de identificação social.
A seguir, gostaríamos de propor uma aproximação com as
idéias desenvolvidas pelo sociólogo norte-americano radicado
na Inglaterra, John Thompson, especificamente sobre o aspecto
da dinâmica cultural no contexto das sociedades contemporâneas
expressa na relação, por ele proposta, entre “formas simbólicas” e
“contextos sociais estruturados”.
Consumo e expressão de subjetividades em contextos
sociais estruturados
Partindo, de um lado, da idéia desenvolvida por Geertz
(1978) da cultura como estruturas simbólicas de significados que
são socialmente partilhadas e que se organizam enquanto “textos”
passíveis de interpretação tanto pelos agentes envolvidos na
interação quanto por aqueles que estabelecem a análise cultural e,
de outro, pela noção de campos de interação proposta por Bourdieu
(1983), na qual tanto as posições dos agentes quanto os recursos de
que dispõem encontram-se estruturados no interior desses campos,
John Thompson (1995) irá forjar seu esquema teórico tentando
compreender a dinâmica das relações da produção, comunicação
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
150 Anderson Moebus Retondar
e recepção dos fenômenos culturais no contexto das sociedades
contemporâneas.
Segundo o esquema de Thompson, os fenômenos culturais
são denominados “formas simbólicas”, as quais se constituem como
expressões de significados produzidos nos processos de interação
em conexão com os contextos socialmente estruturados nos quais
elas se encontram inseridas.
Nessa perspectiva, as formas simbólicas seriam tanto
produzidas como textos – compreendendo um conjunto de
significados socialmente partilhados e passíveis de interpretação
pelos agentes e pela análise cultural –, quanto a partir dos contextos
no interior dos quais essas produção e interpretação se dariam.
A proposta de Thompson, neste caso, pressupõe uma tentativa
inicial de junção teórica entre elementos propostos por Geertz,
especialmente no que tange à dimensão simbólica dos fenômenos
culturais e sua constituição enquanto textos carregados de significado,
aliada à proposta de Bourdieu que privilegia a dimensão estrutural
(enquanto estrutura estruturada) dos campos e as disposições da
ação que se encontram encerradas na sua idéia de habitus.
Thompson irá chamar a atenção para o fato de que se as
formas simbólicas pressupõem a existência de significados que
emergem da interação simbólica entre os agentes, estes significados
apenas ganham validade quando inseridos em contextos socialmente
estruturados. Nesse caso, nem os significados produzidos na
interação são totalmente autônomos, nem os contextos sociais são
completamente normativos em relação à ação.
Deste modo, podemos dizer que esses contextos seriam
estruturados não na perspectiva clássica do estruturalismo, isto é,
como uma ordem determinante que pressupõe o descentramento
dos agentes como sujeitos dos processos sociais, mas, ao contrário,
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 151
são estruturados no sentido preciso de um conjunto de posições
que se encontram previamente definidas nos campos de interação.
A proporcional distribuição de recursos (econômicos, culturais
e simbólicos) associados a esses campos, juntamente com as
instituições que conjugam em seu interior normas e convenções,
e, pelas assimetrias estáveis de relações de poder que norteiam as
relações de dominação nesses contextos é que constituiriam, segundo
Thompson, sua estrutura, passando, tudo isso conjugado – e mesmo
sob distintos níveis de relevância –, a servir de pano de fundo a
partir do qual as formas simbólicas são produzidas e gerenciadas.
Como aponta em sua análise, essas dimensões
referem-se a diferentes aspectos dos contextos sociais e definem
diferentes níveis de análise. (...) Estas características não são
simplesmente elementos de um ambiente dentro do qual a ação tem
lugar, mas são constitutivos da ação e interação, no sentido de que os
indivíduos rotineira e necessariamente, baseiam-se, implementam e
empregam os vários aspectos dos contextos sociais no curso de sua
ação e interação uns com os outros. As características contextuais
não são apenas restritivas e limitadoras: são, também, produtivas
e capacitadoras. Elas realmente limitam a variedade de ações
possíveis, definindo alguns caminhos como mais apropriados ou com
mais possibilidade de serem executados que outros e garantindo que
os recursos e oportunidades sejam distribuídos desigualmente. Mas
elas também tornam possíveis as ações e interações que ocorrem
na vida cotidiana, constituindo-se nas condições sociais das quais
dependem, necessariamente, essas ações e interações. (Thompson,
1995, p. 198-199).
Transfigurando o esquema de Thompson para o universo
do consumo contemporâneo, poderíamos pensá-lo enquanto: 1)
contexto social estruturado, que compreenderia um recorte espaço-
temporal específico, a modernidade tardia, e seu novo modelo de
acumulação flexível, suas instituições, desde o mercado em sentido
convencional até as lojas de departamentos, a publicidade, os
shopping centers e o mercado eletrônico, os quais produziriam uma
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
152 Anderson Moebus Retondar
dinâmica normativa diferenciada, desde a relação de preços fixos até
a objetivação das relações de compra e venda; 2) estrutura social,
marcada pelas assimetrias estáveis quanto à distribuição e aquisição
dos bens; 3) campos de interação privilegiados e suas posições e
recursos disponíveis, que poderíamos identificar, de um lado, pela
valorização econômica dos bens e dos recursos para obtê-los e, de
outro, pela valorização simbólica desses bens, aqui marcados pelos
princípios da distinção e identificação social.
No interior do universo do consumo, agora pensado enquanto
um contexto estruturado, os atos de consumo – compreendidos
como atos de escolha simbolicamente carregados de significados
– marcariam expressões de subjetividade à medida que os agentes
os realizassem a partir da valorização dos significados atribuídos
a determinados bens em detrimento de outros, e, nesse caso, essa
subjetividade poderia estar associada tanto a um princípio de
identificação quanto a um princípio de distinção social, bem como
a uma forma simbólica de reprodução dos contextos nos quais tais
escolhas se localizam.
Nos dois casos estamos falando em subjetividades que são
socialmente constituídas, seja na interação direta entre agentes, seja
por intermédio de apropriações de significados e sentidos previamente
estabelecidos e legitimados que se encontram associados ao consumo
de determinado bem e que são inferidos por agentes externos à
interação direta, como, por exemplo, o discurso publicitário.
Parece plausível pensarmos essas expressões de subjetividade
tanto através dos mecanismos de valorização intersubjetivos entre
agentes, mediados pela aquisição de bens de consumo, quanto
como forma de associação desses mesmos agentes com elementos
que se encontram previamente estruturados no interior do universo
do consumo e que se associam aos bens, atuando como forma de
identificação social.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 153
Nesta perspectiva, enquanto um contexto social estruturado,
o universo do consumo estaria servindo, simultaneamente, como
espaço de produção e, ao mesmo tempo, como anteparo de mediação
através da qual se expressariam subjetividades e identidades.
Parece-nos que esse esquema é bom para pensarmos o
universo contemporâneo do consumo por tocar diretamente numa
questão que tem sido cara aos estudos sobre a sua própria dinâmica,
isto é, o tema da reprodução. Sob um ponto de vista clássico, o tema
da reprodução social por intermédio da atividade consumista se
encontra demarcada pelo princípio da distinção social.
Desde a tese original de Veblen (1985) que trata o consumo
conspícuo como forma de emulação social até a análise desenvolvida
por Bourdieu (1979) sobre a legitimidade do gosto, o universo
do consumo tem sido pensado predominantemente, embora não
exclusivamente,11 como uma forma de reprodução de um sistema
de relações assimétricas de poder e dominação que se consolida sob
uma forma essencialmente simbólica.
Partindo do esquema proposto por Thompson, ao contrário,
os processos de valorização das formas simbólicas são passíveis
de serem diferenciados de acordo com os contextos sociais em que
essas “formas” foram produzidas e onde são recebidas. Como aponta
Thompson (1992, p. 201) a esse respeito,
se as características dos contextos sociais são constitutivas da
produção das formas simbólicas, são, também, constitutivas dos
modos pelos quais essas formas são recebidas e entendidas. Tais
formas são recebidas por indivíduos que estão situados em contextos
sócio-históricos específicos, e as características sociais desses
contextos moldam as maneiras pelas quais as formas simbólicas são
por eles recebidas, entendidas e valorizadas. O processo de recepção
não é um processo passivo de assimilação; ao contrário, é um
processo criativo de interpretação e avaliação no qual o significado
das formas simbólicas é ativamente constituído e reconstituído. Os
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
154 Anderson Moebus Retondar
indivíduos não absorvem passivamente formas simbólicas mas,
ativa e criativamente, dão-lhes um sentido e por isso, produzem um
significado no processo de recepção.
Desse ponto de vista, os processos de reprodução da estrutura
social podem ser efetivamente redefinidos em favor de mecanismos
de valorização simbólica de segmentos e grupos sociais posicionados
em “desvantagem” no próprio interior dessa estrutura. Sendo
assim, mais do que apenas a reprodução de relações ou posições
assimétricas de poder, a dinâmica do consumo pode, através de
processos transversais de poder, o que significa a legitimação e
espraiamento de padrões de gosto intermediários e populares para
o conjunto da sociedade, redefinir a própria dinâmica simbólica das
estruturas sociais.
A difusão da telenovela entre os mais variados segmentos
sociais seria um bom exemplo deste processo. Originalmente
tido como produto de consumo de massa de segmentos sociais
intermediários e populares, passa gradativamente a se tornar
“objeto” de consumo cultural também de elites, como aponta o
interessante estudo de Forjaz (1988) sobre lazer e consumo cultural
dos segmentos sociais abastados no Brasil.
Neste sentido, se o processo de consumo pode ser percebido
não apenas como campo de reprodução mas, fundamentalmente,
como espaço de produção de significados, passa então a constituir
um dos contextos mais privilegiados, no interior das sociedades
contemporâneas, onde indivíduos e grupos produzem, reproduzem,
transformam e expressam suas subjetividades e identidades.
No interior desta perspectiva nos parece ser indispensável,
como forma de percepção mais exaustiva da dinâmica contemporânea
da relação entre cultura e consumo, sua compreensão menos como
uma relação de determinação normativa, determinante e alienante
das ações e interações, em favor de uma percepção que a compreende
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 155
como um contexto estruturado a partir do qual, agora, as identidades
e subjetividades são construídas e mediatizadas pelo consumo dos
bens.
Notas
1 Uma importante reflexão pautada nesta linha de análise é aquela
desenvolvida por C. Campbell (2001).
2 Sob este aspecto, podemos destacar os trabalhos de Jean Baudrillard
(1991), Mary Douglas (2006), Pierre Bourdieu (1983), McKendrick,
Brewer e Plumb (1982), e, mais recentemente, Feathersthone (1995),
Bauman (2005) e Campbell (2001), entre diversos outros.
3 Um exemplo disto é a concepção de Baudrillard (1971) expressa em
seu clássico trabalho A sociedade de consumo.
4 Vide por exemplo os trabalhos de Harvey (1992) e Bauman (2001).
5 Como aponta Harvey (1992, p. 161) a este respeito, “[...] o movimento
mais flexível do capital acentua o novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz
e o contingente da vida moderna, em vez dos valores mais sólidos
implantados na vigência do fordismo. Na medida em que a ação coletiva
se tornou, em conseqüência disso, mais difícil – tendo essa dificuldade
constituído, com efeito, a meta central do impulso de incremento do
controle do trabalho –, o individualismo exacerbado se encaixa no
quadro geral como condição necessária, embora não suficiente, da
transição do fordismo para a acumulação flexível”.
6 Sobre este movimento de departamentalização nas empresas com vistas
a uma maior racionalidade sobre o mercado, consultar Levitt (1991).
7 Bom exemplo disto são as obras, no campo do marxismo, de Louis
Althusser e N. Poulantzas e, no âmbito da análise funcionalista, os
projetos teóricos de Talcot Parsons e Robert Merton.
8 Entre as mais diversas abordagens, podemos citar os trabalhos de F.
Guatarri (1986), Alain Touraine (1994), Stuart Hall (1998), Gilles
Lipovetsky (1983), entre outros.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
156 Anderson Moebus Retondar
9 Esta é, por exemplo, uma idéia presente no trabalho de Douglas e
Iserwood (2006) que, apesar de ser uma importante contribuição
aos estudos sobre o universo da demanda, peca pela sua proposta de
produzir uma teoria universal e ahistórica do consumo.
10 A seguinte passagem é paradigmática a respeito deste processo: “tanto
no adorador fetichista dos bens de consumo como no de ‘caráter
sadomasoquista’ e no cliente da arte de massas de nosso tempo,
verifica-se o mesmo fenômeno, sob aspectos diversos. A masoquista
cultura de massas constitui a manifestação necessária da própria
produção onipotente. A ocupação efetiva do valor de troca não constitui
nenhuma transubstanciação mística. Corresponde ao comportamento
do prisioneiro que ama a sua cela porque não lhe é permitido amar
outra coisa. A renúncia à individualidade, que se amolda à regularidade
rotineira daquilo que tem sucesso bem como fazer o que todos fazem,
segue-se do fato básico de que a produção padronizada dos bens de
consumo oferece praticamente todos os mesmos produtos a todo
cidadão. Por outra parte, a necessidade, imposta pelas leis do mercado,
de ocultar tal equação conduz à manipulação do gosto e à aparência
individual da cultura oficial, a qual forçosamente aumenta na proporção
em que se agiganta o processo de liquidação do indivíduo. Tanto que,
no âmbito da superestrutura, a aparência não é apenas o ocultamento
da essência, mas resulta imperiosamente da própria essência. A
igualdade dos produtos oferecidos, que todos devem aceitar, mascara-
se no rigor de um estilo que se proclama universalmente obrigatório; a
ficção da relação de oferta e procura perpetua-se nas nuanças pseudo-
individuais.”
11 Sobre este aspecto vide, por exemplo, as tentativa de distanciamento
desta perspectiva desenvolvida por Douglas e Isherwood (2006), Michel
de Certeau (1998) e, mais recentemente, Campbell (2001).
The (re)construction of the individual: the consumer society as a
“social context” of the production of subjectivities
Abstract: The present work makes an analysis on the contemporary
consumer society and on the new relationships as well as new social
processes that have been produced in its context. Despite some
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 157
classical thesis that comprehend consumer society’s expansion as a
massification/homogenization process and that oust the individual as
a subject of the social process, for example, some approaches of the
Frankfurt School, especially in Adorno’s and Hokheimer’s works,
we intended to discuss how we could comprehend the movement
of consumption expansions as an inverse movement, essentially
marked for an individuation process that takes place in new forms
of construction of identities and subjectivities in the contemporary
society. The theoretical scheme produced by the American sociologist
John Thompson (1995) was used to comprehend consumer society
as a “structured social context” from where “symbolical forms” are
constructed as expressions of social subjectivity.
Keywords: consumer society, contemporary culture, identities,
individuality, subjectivities.
Referências bibliográficas
ADORNO, T.; HORKHEIMER, M. O iluminismo como mistificação das
massas. In: LIMA, Luiz C. (Org.). Teoria da cultura de massa. 4 ed.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.
ADORNO, T. O fetichismo na música e a regressão da audição. In: BEN-
JAMIN, W.; HABERMAS, J.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T.
W. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção os
pensadores). p.165-191.
BAUDRILLARD, Jean. A sociedade de consumo. Lisboa: Ed. 70, 1991.
_______. À sombra das maiorias silenciosas. 3. ed. São Paulo: Brasiliense,
1993.
BAUMAN, Z. A modernidade liquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
_______. Globalização. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.
BELL, Daniel. O advento da sociedade pós-industrial. São Paulo: Cultrix,
1973.
BENJAMIM, Walter. A obra de arte na época de suas técnicas de repro-
dução. In: BENJAMIN, W.; HABERMAS, J.; HORKHEIMER,
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
158 Anderson Moebus Retondar
M.; ADORNO, T. W. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural,
1983. (Coleção os pensadores).
BOURDIEU, Pierre. La distinction. Paris: Les Éditions de Minuit, 1979.
_______. Sociologia. Org. por Renato Ortiz. São Paulo: Ática, 1983.
(Grandes Cientistas Sociais, v. 39).
CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moder-
no. Rio de Janeiro: Rocco, 2001.
CERTEAU, M. A invenção do cotidiano: artes do fazer. Petrópolis: Vozes,
1998.
CORRIGAN, Peter. Objects, commodities e non-commodities. In:_______.
The sociology of consumption. London: Sage, 1979.
DOUGLAS, Mary; ISHERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma
antropologia do consumo. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 2006.
ELIAS, Norbert. O processo civilizador: uma história dos costumes. Rio
de Janeiro: Zahar, 1990.
EWEN, Stuart. Capitains of consciousness: advertising and the social roots
of the consumer culture. New York: McGraw-Hill, 1977.
FAETHERSTONE, M. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo:
Studio Nobel, 1995.
FRASER, W.H. The coming of the mass market: 1850-1914. London: The
Macmillan Press, 1981.
FORJAZ, M. C. S. Lazer e consumo cultural das elites. Revista Brasileira
de Ciências Sociais, São Paulo, n. 6. v. 3, 1988.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Zahar,
1973.
GATARRI, Félix. Micropolítica: cartografias do desejo. Petrópolis: Vo-
zes, 1986.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo... 159
GUIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. São Paulo:
UNESP, 1991.
GUIDDENS, Anthony. Estruturalismo, pós-estruturalismo e a produção da
cultura. In: GUIDDENS, A.; TURNER, J. Teoria social hoje. São
Paulo: UNESP, 1999.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 2. ed. Rio de
Janeiro: DP&A, 1998.
HARVEY, David. Condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 1992.
HABERMAS, Jürgen. Comunicação, opinião pública e poder. In: CONH,
G. (Org.). Comunicação, opinião pública e poder. São Paulo: Ática,
1986.
HORKHEIMER, Max. O conceito de iluminismo. In: BENJAMIN, W.;
HABERMAS, J.; HORKHEIMER, M.; ADORNO, T. W. Tex-
tos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção os
pensadores).
HORKHEIMER, Max. Eclipse da razão. Rio de Janeiro: Ed. Labor do
Brasil, 1976.
LEVITT, T. A imaginação do marketing. São Paulo: Atlas, 1991.
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero. São Paulo: Cia das Letras,
1991.
_______. A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo.
Lisboa: Relógio D’Água, 1983.
McKENDRICK, N.; BREWER, J.; PLUMB, J. H. The birth of a consumer
society: the commercialization of eighteenth-century England. In-
diana: Indiana University Press, 1982.
OFFE, Clauss. Capitalismo desorganizado. São Paulo: Brasiliense, 1989.
ORTIZ, Renato. Cultura e modernidade. São Paulo: Brasiliense, 1991.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
160 Anderson Moebus Retondar
ORTIZ, Renato. A escola de Frankfurt e a questão da cultura. Revista Bra-
sileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 1, n. 1, 1986.
RETONDAR, Anderson. Sociedade de consumo, modernidade e globali-
zação. São Paulo: Annablume; Campina Grande: EDUFCG, 2007.
_______. As galerias da modernidade-mundo. Revista de Ciências Huma-
nas, Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro, 2001.
SENNETT, Richard. O declínio do homem público. São Paulo: Cia. das
Letras, 1993.
THOMPSON, John. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na
era dos meios de comunicação de massa. Petrópolis, RJ: Vozes,
1995.
_______. The new visibility. Theory, Culture and Society, v. 22, n. 6,
2005.
_______. Tradition and self in a mediated world. In: HEELAS, P.; LASH,
S.; MORRIS, P. (Eds.). Detraditionalization. Oxford: Blackwell,
1996.
TOURAINE, Alan. Crítica da modernidade. Petrópolis: Vozes, 1994.
VEBLEN, T. Teoria da classe ociosa. In: _______. A Alemanha imperial e
a Revolução Industrial; A teoria da classe ociosa. São Paulo: Victor
Civita, 1985. (Coleção os pensadores).
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo:
Pioneira, 1987.
_______. Economia e sociedade. Brasília, DF: Ed. UnB, 1991. v. 1.
WILLIAMS, Raymond. Cultura. São Paulo: Paz e Terra, 1992.
Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, p. 137-160, jan./abr 2008
Você também pode gostar
- Resumo MEH 2Documento4 páginasResumo MEH 2Michelle LealAinda não há avaliações
- FICHAMENTO MEDIEVAL II - SCHMITT, Jean-Claude. Práticas Espirituais Na Idade Média Os Limites de Uma Religião PopularDocumento16 páginasFICHAMENTO MEDIEVAL II - SCHMITT, Jean-Claude. Práticas Espirituais Na Idade Média Os Limites de Uma Religião PopularThiago Pereira Camargo ComelliAinda não há avaliações
- SINTESE-movimentos SociaisDocumento2 páginasSINTESE-movimentos Sociaismaria raniele de sousa silvaAinda não há avaliações
- TCC Completo - A Igreja de Nova Vida e o Neopentecostalismo - Luiz José Palhares de Souza Freitas - 12092016Documento61 páginasTCC Completo - A Igreja de Nova Vida e o Neopentecostalismo - Luiz José Palhares de Souza Freitas - 12092016Luiz Palhares FreitasAinda não há avaliações
- Fichamento - História Das Teorias Da ComunicaçãoDocumento3 páginasFichamento - História Das Teorias Da ComunicaçãoAndréaNunes100% (1)
- 123-134 (Somente Até o Item 6)Documento1 página123-134 (Somente Até o Item 6)Welinton Pedrosa RodriguesAinda não há avaliações
- Georg Simmel - A Filosofia Do Dinheiro PREFACIODocumento3 páginasGeorg Simmel - A Filosofia Do Dinheiro PREFACIOThaíssa Bispo100% (1)
- Por Uma Etnografia Do LuxoDocumento27 páginasPor Uma Etnografia Do LuxoValeria BrandiniAinda não há avaliações
- Fichamento de Mccracken Cultura e ConsumoDocumento6 páginasFichamento de Mccracken Cultura e ConsumoEveraldo PereiraAinda não há avaliações
- Eros e Civilização - Uma Interpretação Filosófica Do Pensamento de Freud - Passa PalavraDocumento10 páginasEros e Civilização - Uma Interpretação Filosófica Do Pensamento de Freud - Passa PalavraJoxAinda não há avaliações
- CANCLINI - Culturas Híbridas - FichamentoDocumento2 páginasCANCLINI - Culturas Híbridas - Fichamentom.platiniAinda não há avaliações
- Resenha As Três Ecologias de Félix GuatariDocumento2 páginasResenha As Três Ecologias de Félix GuatariPhilippe ReisAinda não há avaliações
- HEILBRONER, Robert. A Natureza e A Lógica Do CapitalismoDocumento2 páginasHEILBRONER, Robert. A Natureza e A Lógica Do CapitalismoProfessores Egina Carli e Eduardo CarneiroAinda não há avaliações
- Resumo - Contribuição À Crítica Da Economia Política - Karl MarxDocumento5 páginasResumo - Contribuição À Crítica Da Economia Política - Karl MarxKleydson SilvaAinda não há avaliações
- RESENHA Alegoria e PatrimonioDocumento5 páginasRESENHA Alegoria e PatrimonioDayane Caputo100% (1)
- Resenha Tempo CompradoDocumento12 páginasResenha Tempo CompradomlAinda não há avaliações
- GAIGER, L. I. G. A Economia Solidária Diante Do Modo de Produção Capitalista PDFDocumento31 páginasGAIGER, L. I. G. A Economia Solidária Diante Do Modo de Produção Capitalista PDFLidia MeloAinda não há avaliações
- Cultura e Sociedade - GiddensDocumento28 páginasCultura e Sociedade - Giddensjessica sodreAinda não há avaliações
- Larry Shiner Traduao Aula 2 PDFDocumento14 páginasLarry Shiner Traduao Aula 2 PDFMateus Raynner André100% (1)
- Dirce Koga Território IMPORTANTE PDFDocumento18 páginasDirce Koga Território IMPORTANTE PDFThyago AugustoAinda não há avaliações
- Argan - Capítulo UmDocumento37 páginasArgan - Capítulo UmRenata Gomes50% (2)
- Resenha - Pensando e Espao Do Homem - Cssio R. A. OliveiraDocumento4 páginasResenha - Pensando e Espao Do Homem - Cssio R. A. OliveiraLastenia SantanaAinda não há avaliações
- CLIFFORD, James. Sobre A Autoridade Etnográfica - RelatórioDocumento3 páginasCLIFFORD, James. Sobre A Autoridade Etnográfica - RelatórioSabrina Sales AraujoAinda não há avaliações
- Um Itinerário Do Olhar em Aloysio Raulino PDFDocumento11 páginasUm Itinerário Do Olhar em Aloysio Raulino PDFVictor GuimaraesAinda não há avaliações
- Processos de Formação de Estados e Construção de NaçõesDocumento13 páginasProcessos de Formação de Estados e Construção de NaçõesAndressa Nunes SoiloAinda não há avaliações
- Socio MozartDocumento8 páginasSocio MozartJu DinizAinda não há avaliações
- Sociologia Do Consumo - Questão Da Marca, ANTÓNIO. FDocumento3 páginasSociologia Do Consumo - Questão Da Marca, ANTÓNIO. FFrancisco Domingos AntónioAinda não há avaliações
- Fichamento CancliniDocumento5 páginasFichamento CancliniLuana Teixeira Barros LuaAinda não há avaliações
- Patrimonio Integral I PDFDocumento15 páginasPatrimonio Integral I PDFidahamoy1465Ainda não há avaliações
- Autonomia Da ArteDocumento18 páginasAutonomia Da Arterodrigosa1832Ainda não há avaliações
- Manifesto Dos Pioneiros Da Educação NovaDocumento4 páginasManifesto Dos Pioneiros Da Educação NovaSergio santanaAinda não há avaliações
- Fichamento: THOMPSON, Edward P. A História Vista de Baixo. As PeculiaridadesDocumento3 páginasFichamento: THOMPSON, Edward P. A História Vista de Baixo. As PeculiaridadesjacAinda não há avaliações
- A Questão MulticulturalDocumento15 páginasA Questão MulticulturalFábio Leonardo Brito100% (1)
- Resenha - Harvey - Cap 7 e 8Documento2 páginasResenha - Harvey - Cap 7 e 8InacioiiAinda não há avaliações
- Resenha Documentário Fragmentos Do AntropocenoDocumento2 páginasResenha Documentário Fragmentos Do AntropocenoMarcilio SantosAinda não há avaliações
- Dimensoes Do Consumo Na Vida Social PDFDocumento261 páginasDimensoes Do Consumo Na Vida Social PDFJulia Do CarmoAinda não há avaliações
- RESENHA - CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA MARX, Karl.Documento2 páginasRESENHA - CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA MARX, Karl.solguimaAinda não há avaliações
- Karl Marx - A Mercadoria - ResumoDocumento4 páginasKarl Marx - A Mercadoria - ResumoSamuel ZaratimAinda não há avaliações
- Arte Contemporânea e Indústria Cultural: o Capitalismo Como Determinante EstéticoDocumento8 páginasArte Contemporânea e Indústria Cultural: o Capitalismo Como Determinante EstéticoZé Luiz CavalcantiAinda não há avaliações
- Adeus Ao Proletariado de André GorzDocumento12 páginasAdeus Ao Proletariado de André GorzBreno AugustoAinda não há avaliações
- J. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoDocumento16 páginasJ. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoLeandro Velasques LimaAinda não há avaliações
- A Asfixia Globalizante em A Caverna de José SaramagoDocumento13 páginasA Asfixia Globalizante em A Caverna de José SaramagoAna Isabel Gouveia Rodrigues100% (1)
- A Ética Protestante e o Espírito Do CapitalismoDocumento5 páginasA Ética Protestante e o Espírito Do CapitalismoJoão Protti NetoAinda não há avaliações
- Resenha Enciclopédia Caiçara Cap.1Documento4 páginasResenha Enciclopédia Caiçara Cap.1Pedro CustodioAinda não há avaliações
- 112508140145reflexões Sobre o Manifesto Aceleracionista - Toni NegriDocumento9 páginas112508140145reflexões Sobre o Manifesto Aceleracionista - Toni NegriEvandroCruzAinda não há avaliações
- Georg Lukacs e A ReificaçãoDocumento15 páginasGeorg Lukacs e A ReificaçãoDimas NuvolariAinda não há avaliações
- 138601-Texto Do Artigo-342474-1-10-20190406Documento20 páginas138601-Texto Do Artigo-342474-1-10-20190406webertAinda não há avaliações
- Relatório de Leitura Os Desencantos Da ModernidadeDocumento7 páginasRelatório de Leitura Os Desencantos Da ModernidadeLuiz Henrique SiqueiraAinda não há avaliações
- Karl Polanyi - Nossa.obsoleta - Mentalidade.mercantilDocumento9 páginasKarl Polanyi - Nossa.obsoleta - Mentalidade.mercantilrenatoAinda não há avaliações
- A Modernidade Líquida em Black MirrorDocumento9 páginasA Modernidade Líquida em Black MirrorThaís CorrêaAinda não há avaliações
- Conteúdos, Formação de Competências Cognitivas e Ensino Com Pesquisa: Unindo Ensino e Modos de Investigação.Documento28 páginasConteúdos, Formação de Competências Cognitivas e Ensino Com Pesquisa: Unindo Ensino e Modos de Investigação.Felipe CordeiroAinda não há avaliações
- Concepção Marxista Da História PDFDocumento13 páginasConcepção Marxista Da História PDFJanair MachadoAinda não há avaliações
- Ecossistema ComunicativoDocumento7 páginasEcossistema ComunicativoSalete SoaresAinda não há avaliações
- O Verdejar Do SerDocumento2 páginasO Verdejar Do ServerabzzzAinda não há avaliações
- Anderson Estado Absolutista No OcidenteDocumento28 páginasAnderson Estado Absolutista No OcidenteHenrique Kuba KubinskiAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- Origem do rápido crescimento populacional de Imperatriz - MA: uma abordagem científica dessa realidadeNo EverandOrigem do rápido crescimento populacional de Imperatriz - MA: uma abordagem científica dessa realidadeAinda não há avaliações
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesAinda não há avaliações
- "Lógica Do Mercado" e "Lógica Do Desejo": Reflexões Críticas Sobre A Sociedade de Consumo Contemporânea A Partir Da Escola de FrankfurtDocumento25 páginas"Lógica Do Mercado" e "Lógica Do Desejo": Reflexões Críticas Sobre A Sociedade de Consumo Contemporânea A Partir Da Escola de FrankfurtEduardo SanchesAinda não há avaliações
- Sociedade de Consumo Ou Ideologia Do ConsumoDocumento19 páginasSociedade de Consumo Ou Ideologia Do ConsumoDanielle MaibyAinda não há avaliações
- A Ideia de Justica em MarxDocumento10 páginasA Ideia de Justica em MarxSthephanie SchulzAinda não há avaliações
- Espaço Genero e Poder - Joseli e Augusto CezarDocumento245 páginasEspaço Genero e Poder - Joseli e Augusto CezarCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- A Globalização Da ComplexidadeDocumento20 páginasA Globalização Da ComplexidadeCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Ana Fani - Metamorfoses UrbanasDocumento14 páginasAna Fani - Metamorfoses UrbanasPaulo SoaresAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto 1930-2000Documento23 páginasO Desenvolvimento Econômico de Ribeirão Preto 1930-2000Cláudio SmalleyAinda não há avaliações
- A Jaula de Aco Prefacio Corrigido Michael LowyDocumento9 páginasA Jaula de Aco Prefacio Corrigido Michael LowyCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- ELDEN, Stuart. Terra, Terreno, TerritórioDocumento19 páginasELDEN, Stuart. Terra, Terreno, TerritórioCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- A PRIVATIZAÇÃO Da Democracia.Documento144 páginasA PRIVATIZAÇÃO Da Democracia.Cláudio Smalley100% (1)
- Contel, Fábio Betioli. Redes Urbanas e Mundialização Financeira - Atores, Normas e FinanceirizaçãoDocumento20 páginasContel, Fábio Betioli. Redes Urbanas e Mundialização Financeira - Atores, Normas e FinanceirizaçãoCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Arroyo, Monica. A Economia Dos InvisíveisDocumento4 páginasArroyo, Monica. A Economia Dos InvisíveisCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- BRANDÃO, Carlos. Estratégias Hegemônicas e Estruturas Territoriais - o Prisma Analítico Das Escalas Espaciais - BrandãoDocumento11 páginasBRANDÃO, Carlos. Estratégias Hegemônicas e Estruturas Territoriais - o Prisma Analítico Das Escalas Espaciais - BrandãoCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Os Artigos Da Pérola - Chaves GenéticasDocumento19 páginasOs Artigos Da Pérola - Chaves GenéticasAnyele LiannAinda não há avaliações
- Edgar Allan Poe Obra CompletaDocumento10 páginasEdgar Allan Poe Obra CompletaNicolas FerreiraAinda não há avaliações
- Cdu ResumidaDocumento14 páginasCdu Resumidaparaoaltoeavante100% (1)
- Clipping Banco Central 31.08.20Documento254 páginasClipping Banco Central 31.08.20Bruno CamposAinda não há avaliações
- O Museu de TudoDocumento23 páginasO Museu de TudoSarah Aguiar MarçalAinda não há avaliações
- NaturaDocumento27 páginasNaturaDebora Latuf AguiarAinda não há avaliações
- Manutenção Mecânica 2017-1 Mecânica Alunos NP1Documento207 páginasManutenção Mecânica 2017-1 Mecânica Alunos NP1Vitor BatistaAinda não há avaliações
- RFP Calcário Nobres-MTDocumento71 páginasRFP Calcário Nobres-MTFelipeAinda não há avaliações
- Yazbek - Os Fundamentos Do Serviço Social e o Enfrentamento Ao ConservadorismoDocumento14 páginasYazbek - Os Fundamentos Do Serviço Social e o Enfrentamento Ao ConservadorismoDorian BlackWhiteAinda não há avaliações
- Personal I Dade SitDocumento68 páginasPersonal I Dade SitHenrique Zarco CotaAinda não há avaliações
- Anexo 1.1. - Mcont - Ana Bessa - A Taxa Efetiva de Imposto e A Reforma Do IRC de 2013Documento59 páginasAnexo 1.1. - Mcont - Ana Bessa - A Taxa Efetiva de Imposto e A Reforma Do IRC de 2013Gabriel AltinoAinda não há avaliações
- Consumo e InvestimentoDocumento23 páginasConsumo e InvestimentoAntonio MonteiroAinda não há avaliações
- Somente Douglas Contabilidades - OdsDocumento6 páginasSomente Douglas Contabilidades - OdsDouglas RodriguesAinda não há avaliações
- Eja - Aspectos Históricos e SociaisDocumento17 páginasEja - Aspectos Históricos e SociaisMirian Carvalho100% (1)
- Exercícios 05Documento4 páginasExercícios 05Player Hot 999Ainda não há avaliações
- 1a Conferência Internacional VirtualDocumento263 páginas1a Conferência Internacional VirtualCarol BritoAinda não há avaliações
- Jepp 4 Ano Ebook AlunoDocumento140 páginasJepp 4 Ano Ebook AlunojulianaortizaraujoAinda não há avaliações
- Estudos Críticos em Administração PDFDocumento14 páginasEstudos Críticos em Administração PDFJonas MagalhãesAinda não há avaliações
- O Organismo SocialDocumento1 páginaO Organismo SocialLuan MatheusAinda não há avaliações
- Parecer Contratacao Direta Correios para EncomendasDocumento5 páginasParecer Contratacao Direta Correios para EncomendasIgor FerreiraAinda não há avaliações
- O Conservadorismo Classico e Moderno Expressao e Novos Contornos No BrasilDocumento16 páginasO Conservadorismo Classico e Moderno Expressao e Novos Contornos No Brasileliasmiguelalbuquerque1Ainda não há avaliações
- Pos e Neo FordismoDocumento12 páginasPos e Neo FordismoMichelle Suzanne Dos AnjosAinda não há avaliações
- Exercicios WordDocumento28 páginasExercicios WordGladir Millon100% (1)
- Flexor EDocumento7 páginasFlexor ERuanita Veiga100% (2)
- Projeto Engenharia Eletrica - 31 997320837Documento3 páginasProjeto Engenharia Eletrica - 31 997320837Descomplica ConsultoriaAinda não há avaliações
- Habilidades Ciencias Da Humanas e Suas Tecnologias 1 PDFDocumento73 páginasHabilidades Ciencias Da Humanas e Suas Tecnologias 1 PDFValber OliveiraAinda não há avaliações
- Alex Ferreira Magalhães - Políticas Fundiárias - O Desmonte Proposto Pelo Governo TemerDocumento34 páginasAlex Ferreira Magalhães - Políticas Fundiárias - O Desmonte Proposto Pelo Governo TemerRogerio SantosAinda não há avaliações
- 2015 Chevrolet Onix Manual PDFDocumento281 páginas2015 Chevrolet Onix Manual PDFAmalia PrassAinda não há avaliações
- O Fenomeno Urbano - George SimmelDocumento8 páginasO Fenomeno Urbano - George SimmelWoji GaironAinda não há avaliações
- NCRF 8Documento4 páginasNCRF 8Paulino De JesusAinda não há avaliações