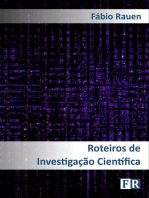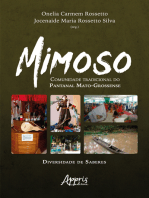Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Teoria Do Conhecimento e Arte PDF
Teoria Do Conhecimento e Arte PDF
Enviado por
Fabio Pimenta0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações14 páginasTítulo original
Teoria do conhecimento e arte.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
18 visualizações14 páginasTeoria Do Conhecimento e Arte PDF
Teoria Do Conhecimento e Arte PDF
Enviado por
Fabio PimentaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 14
Teoria do Conhecimento e Arte
Theory of Knowledge and Art
Jorge Albuquerque Vieira - UFRJ/PUC-SP
jorgeavi@bol.com.br
Transcrição por Sonia Ray - UFG
soniaraybrasil@gmail.com
Nota de Introdução à conferência: O XIX Congresso da Associação Nacio-
nal de Pesquisa e Pós-Graduação em Música - ANPPOM, ocorrido em agos-
to de 2009 na cidade de Curitiba, sediado pelo DEARTES - UFPR, recebeu
pela primeira vez o Prof. Dr. Jorge Albuquerque Vieira como conferencista
convidado. Receber um profissional de outra área, que não música, e que
também não é músico, vem ao encontro da proposta do congresso de refle-
tir sobre a importância e contexto da pesquisa em arte, sobretudo em músi-
ca, no cenário mundial atual. Foi solicitado ao professor Vieira que troxesse
para o Congresso sua experiência como docente e pesquisador de filosofia,
astrofísica, matemática e metafísica. Sobretudo que apresentasse sua visão
da arte à lus de seus estudos sobre teoria do conhecimento. O resultado
está no texto instigante que segue transcrito literalmente da gravação da
conferência proferida em 26/08/2009. [N.T.]
Conferência
Bom dia a vocês. Eu fico imensamente grato pela oportunidade de
estar falando de novo pro pessoal da música, pros artistas. Eu tava comen-
tando com alguns que eu tenho uma afinidade muito grande com as artes
porque eu posso me considerar um artista frustrado. Eu era pra ser pintor,
alguma coisa assim, retratista na verdade, mas eu fui seduzido a meio ca-
minho pela ciência, pela filosofia e acabei abandonando a arte e me dedi-
cando a outras coisas. Mas eu tenho que reconhecer algo: tudo que eu fiz
depois foi motivado simplesmente pela questão da estética. Ou seja, eu con-
tinuo tendo um olhar direcionado pela arte, pro resto do conhecimento.
Eu queria exatamente falar pra vocês, eu creio que esta é aproposta
da professora [Sonia] sobre questões envolvendo a teoria do conhecimento e
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 11
arte. Este é um ponto em que eu tenho meditado muito. Eu tenho tentando
entender o conceito de complexidade e um dos enfoques que a gente pode
dar pra questão passa pela teoria do conhecimento e pela chamada ontolo-
gia, que são áreas da filosofia que lidam com o problema da realidade, entre
outros. Ou seja, eu tenho algumas proposições a fazer e a primeira delas,
acho que todo mundo aqui concorda: A arte é um tipo de conhecimento.
Este é um ponto importante. Às vezes as pessoas olham a artes como se fos-
se algo meio estranho ou distante... mas que a principio seria uma espécie
de luxo intelectual. Eu não concordo com isto. Eu acho que a arte é um tipo
de conhecimento e todas as formas de conhecimento têm como direção a
sobrevivência da expécie humana. Ou seja, nós precisamos conhecer para
sobreviver. Ninguém conhece por luxo, esporte ou por distração. As pes-
soas conhecem porque necessitam. Neste sentido, a arte é necessária e não
pode ser encarada como luxo ou algo supérfluo. Agora, é preciso entender
exatamente em que consiste este conhecimento mais artístico.
O primeiro cuidado que eu tenho que ter com vocês aqui é distin-
guir entre o que eu chamo de tipo de conhecimento e forma de conheci-
mento. Tipo de conhecimento geralmente está relacionado ao objeto de es-
tudo, as características do objeto de estudo. Quando eu falar em forma de
conhecimento eu estou me referindo a processos que parecem ocorrer na
cabeça do sistema cognitivo quando ele tenta conhecer. Então, por exemplo,
se eu falar pra vocês em conhecimento discursivo, conhecimento intuiti-
vo, conhecimento tácito, isto é forma de conhecimento. Mas se seu falar em
arte, ciência, filosofia, senso comum, religião, isso aí já é tipo de conheci-
mento. Eu estou admitindo, portanto, que o ser humano em sua tentativa,
no seu esforço de entender-se, de permanecer no tempo, que ele faça uso de
um conjunto, de um grande número de tipos e formas de conhecimento. E
neste sentido a arte está bem enquadrada, muito bem encaixada. Como é
que a gente pode discutir esta questão, principalmente demarcar mais ou
menos o domínio da arte? Existe uma série de propostas quanto à natureza
da arte. Eu vou defender um ponto de vista aqui que é mais evolutivo.
Eu acredito que a arte, como todos os tipos de conhecimento e for-
mas de conhecimento, a arte é uma estratégia evolutiva e adaptativa da
espécie humana e de toda a espécie viva também, não só nós. Todas as
coisas vivas recorrem a algum critério artístico pra poder sobreviver. Eu
vou tentar argumentar a favor disto.
12 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
Pra poder chegar a este contexto eu tenho que apresentar pra vocês
alguns conceitos. Não sei se vocês chegaram a ler sobre teoria do conheci-
mento, mas classicamente, na teoria do conhecimento, nós temos a intera-
ção entre dois sistemas. Um sistema, que é o cognitivo, é aquele que quer
ou precisa conhecer. E o outro sistema, que é chamado classicamente de
objeto, é aquele a ser conhecido. Nesse contexto, o conhecimento é defini-
do como uma relação que se estabelece entre o sujeito e objeto, entre o sis-
tema cognitivo e o objeto. Uma relação. Seria prudente, portanto, também
definir o que é uma relação.
Relação, matematicamente falando, é uma espécie de emparelha-
mento condicional. Ou seja, é quando eu emparelho coisas satisfazendo
algum critério de seleção, de restrição, de lei. Só pra tentar recordar isto,
vocês me perdoem a ‘chatura’ porque isto é matemática básica, mas a idéia
é esta: vocês devem se lembrar de teoria de conjuntos. Imaginem dois con-
juntos, vocês se lembram de uma operação que a gente pode fazer entre os
dois conjuntos que chama-se produto cartesiano. Produto cartesiano con-
siste em a partir de dois conjuntos, criar um terceiro conjunto cujos ele-
mentos são pares formados pelos elementos dos dois conjuntos de base. Eu
vou num conjunto e tiro um elemento, vou num outro e tiro um elemento e
monto um básico. Quando eu esgotar todas as possibilidades desses arran-
jos eu vou ter um produto cartesiano, ou seja, um conjunto completo de to-
dos os pares possíveis. Agora imaginem que eu imponha restrições a isto.
Por exemplo, que eu diga ‘só me interessam pares onde o primeiro termo
é maior que o segundo’, ou então ‘só me interessam pares onde um é par e
o outro é ímpar’, e assim por diante. Isto no mundo dos números, toda vez
que eu pegar um produto cartesiano e reduzir de maneira seletiva pela im-
posição de uma lei, de uma norma, de uma regra, de uma restrição, eu es-
tou criando uma relação. Neste sentido, relação é emparelhamento condi-
cional. Se você aplicar isto a vida e ao mundo, você vai ver que isto aparece
inclusive na nossa vida pessoal, que nossas relaçoes são definidas assim.
São emparelhamentos que nós criamos ou admitimos satisfazendo a certas
restrições, certos cuidados, certas normas. Você vai ver que, em termos de
teoria do conhecimento, quando eu quero conhecer algo, eu me emparelho
com este algo dentro de certas circunstâncias, de certas condições. Neste
sentido, o ato de conhecer é efetivamente uma relação. É chamada rela-
ção gnosiológica.
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 13
Gnosiologia é o coração da filosofia, é a teoria clássica do conheci-
mento. Nesta teoria clássica do conhecimento nós encontramos cinco gran-
des problemas que alimentaram a filosofia ao longo de séculos. O problema
da essência do conhecimento, que permite exatamente qual é a natureza
desta relação; o problema da origem do conhecimento, que admitindo que
o conhecimento tem também caráter de processo, pergunta pra onde o pro-
cesso é orientado, se do sujeito pro objeto ou do objeto pro sujeito; o pro-
blema da possibilidade do conhecimento, que pergunta se é possível co-
nhecer e em que medida seria possível conhecer; o problema já citado das
formas de conhecimento (o problema dos tipos é estudado a parte, o pro-
blema das formas faz parte dos cinco grandes problemas) e finalmente o
problema, que dizem ser o pior, que é o problema da verdade. A teoria clás-
sica do conhecimento é constituida em cima disto.
O conceito que eu quero apresentar pra vocês se insere no primei-
ro problema e vai interferir, é claro, nos outros, mas é um conceito relati-
vamente recente em termos de história da filosofia e que apareceu já no
âmbito da ciência. Esse conceito aparece na biologia. Ele aparece primeiro
nos trabalhos de um biólogo estoniano chamado Jakob von Uexküll [1864-
1944]. Uexküll é um dos iniciadores das pesquisas em etologia e ecologia.
Ele abriu isto no século XX. Nesta ocasião ele estava preocupado com certas
questões metodológicas. Por exemplo, você vai estudar um animal e o ani-
mal apresenta um certo comportamento e você acaba interpretando o com-
portamento do animal como se ele fosse você. Pra ser exato, você interpreta
o comportamento do animal pelo seu comportamento. Você se coloca no lu-
gar dele e diz “ah... ele tá com raiva” porque você sente que se estivesse na-
quela situação você ficaria com raiva. E o Uexküll mostrou que às vezes, o
comportamento do animal não tem nada a ver com o nosso. O animal está
lidando com o mundo, está percebendo o mundo de uma maneira comple-
tamente diferente da nossa e o estudo em teoria da evolução mostra isto.
Todo sistema vivo quando evolui, na realidade, enquanto sistema
aberto, ele interage com esta realidade e desta história evolutiva nasce ca-
racterísticas do sistema que funcionam como interface de relação à realida-
de. Quando eu digo isto, obviamente, eu tô partindo de um pressuposto da
teoria do conhecimento que é um pressuposto objetivista: a realidade exis-
te. Alguns idealistas extremados podiam achar que não, mas eu estou me
referindo aqui como um objetivista, ou seja, eu acredito numa certa impor-
14 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
tância do objeto de estudo. Realista, eu admito objetos reais além dos ideais,
mas crítico, ou seja, não sou ingênuo o suficiente de achar que a realidade
me é dada. Pelo contrário, ela é extremamente difícil de ser atingida. Então
isto é uma forma de realismo crítico. Então, quando eu digo a vocês que se
desenvolve uma interface, um projeto evolutivo entre o sistema vivo cogni-
tivo e a realidade, eu estou admitindo, a priori, esta hipótese cognitiva.
Bem, então, o nosso Uexküll chegou a esta conclusão: cada espécie
de vida é como que envolvida por uma interface, por uma esfera que faz o
contato entre ela, enquanto sistema cognitivo, e o resto da humanidade. Se
você olhar isto como uma bolha ou como uma bola, você vai ver que a pe-
riferia da bola é extremamente objetiva. E a parte interna da bola, que fica
mais próxima do sujeito, já é bastante subjetiva. Ou seja, esta interface está
aí, é a ponte, a intersecção entre objetivivdade e subjetividade. Funciona
como se cada espécie tivesse um mundo particular, tivesse um universo
particular. Então o Uexküll chamou esta coisa de “unwelt”. É uma palavra
em alemão que significa ‘o mundo em volta’, ‘o mundo em torno’. Ou seja,
repetindo isto: cada espécie viva vive num mundo particular dela dimen-
sionado pela sua história contida e, portanto, elabora a realidade de uma
certa maneira que pode ser bastante diferente da maneira como outras
espécies elaboram.
É só observar a natureza que você percebe exatamente o que o Ue-
xküll queria dizer. Basta citar coisas como: nós vemos a chamada janela
do visível, nosso olho eterno a cada luz do sol e nos satisfazemos com isso.
Nosso unwelt visual é bastante restrito do ponto de vista eletromagnético.
Já uma serpente vê mais ou menos o que a gente vê, e vê radiação infra-ver-
melha no calor. Então ela vê o infra-vermelho que nós já não vemos. Morce-
gos constroem imagens por meio de ultrassom, num processo de radar, di-
gamos assim. Eles “veem” o som. Peixes conseguem criar imagens por meio
de gradientes de pressão da água dentro do rio, do mar. Eles veem imagens
de pressão. Tubarões conseguem ver diretamente o campo eletromagnéti-
co da presa. O tubarão martelo desenvolve uma espécie de scanner. Com a
ponta da cabeça ele faz varredura eletromagnética de presas ocultas sob na
areia. Em resumo, cade espécie viva vê o mundo diferente. Nós não vemos
o mundo como estes animais vêem e eles, obviamente, também não vêem o
mundo como nós vemos. Mas o que importa pra gente neste conceito é que
nós, enquanto humanos, tenhamos um unwelt.
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 15
O nosso unwelt deixou de ser biológico há muito tempo. Esta foi
uma aquisição que nós ganhamos nos últimos três milhões de anos. Nestes
três milhões de anos que se passaram nosso unwelt deixou de ser meramen-
te biológico e tornou-se psicológico, psicossocial, social e cultural. Outros
problemas evolutivos surgiram com o nosso crescimento e complexidade.
A indução do modelo simples, que agora já está mais sofisticado, mas ain-
da na sua versão mais simples, o cérebro humano, ao que tudo indica, se
desenvolveu por três crises evolutivas: a primeira bastante lenta, a segunda
razoavelmente lenta e a terceira muita rápida. Já não-linear, três cérebros
vivendo uma triunidade na nossa cabeça. Primeiro o cérebro é o complexo
reptílico, ou seja, ele é o vírus que fez sucesso entre os répteis e garantiu a
permanência dos répteis; o segundo complexo é o límbico, que já caracteri-
za os mamíferos; e o terceiro complexo, que apareceu há uns três milhões
de anos atrás de maneira desenvolvida, é o neocórtex. A fonte da racionali-
dade, do discurso, da linguagem articulada, logo da linguagem da filosofia,
da ciência, etc. Ou seja, é nesse domínio da racionalidade, onde aparece um
tipo de conhecimento, como filosofia ou como ciência. Mas o interessante
é que já é possível um tipo de conhecimento antes deste neocórtex ser de-
senvolvido, principalmente associado ao límbico, que é o conhecimento ba-
seado em sensações, em sensibilidade, em percepções, em sentimentos, em
emoções. Este conhecimento já abarca a arte. O que eu estou argumentan-
do com vocês é que, em função da evolução cerebral, a arte como tipo de
conhecimento é anterior a própria filosofia e a própria ciência. Do ponto
de vista evolutivo isto é de tremenda importância, me parece.
Então, esta evolução cerebral se desenvolveu até uns três milhões
de anos e depois disto houve a necessidade de uma quarto sub-cérebro,
mas não dá tempo pro tecido orgânico crescer, se adaptar, etc. Já surgem
limitações físicas, químicas e biológicas que impedem este avanço, ao que
tudo indica. A solução que a espécie encontrou, em termos de estudos de
complexidade, foi extrassomatizar o cérebro. Então nós colocamos no mun-
do cultura, sociedade, coisas fora da cabeça do sujeito, e que funcionam
como uma espécie de cérebro externo.
Então nós estamos agora nesta fase da evolução. A presença de um
quarto sub-cérebro está graçando o planeta. A ênfase que tem sido dada, vo-
cês sabem, é muito neocortical. Todo mundo está vendo o desenvolvimento
da informática, das redes de computadores e tal, que são sempre num enfo-
16 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
que, numa visão extremamente racional. Enquanto, na verdade, o que está
faltando pra nós ainda, com bastante dificuldade diga-se de passagem,
é gente extrassomatizar os sentimentos e as emoções. Isto leva a gente ao
problema das formas de conhecimento e os tipos de conhecimento.
No caso das formas de conhecimento, esta parte neocortical é mui-
to dominada pela processo discursivo. O discurso é uma sucessão de sig-
nos que se efetua ao longo do tempo. A principal característica do discurso
é a temporalidade. Mas existe um outro tipo de conhecimento que parece
escapar disto. Ele não pode ser reduzido, pelo menos não integralmente ao
discurso. É o chamado conhecimento tácito.
Conhecimento tácito é aquele que você detém, mas não consegue
comunicar por meio disursivo, como discurso lido, escrito, falado, ouvi-
do. Você detém o conhecimento. Isso, sob certo ponto de vista, você conse-
gue comunicar parte dele, mas não por estes métodos ortodoxos. Por exem-
plo: linguagens corporais são ricas em conhecimento tácito; entonação de
voz é conhecimento tácito; arte é conhecimento tácito [sic]. Ou seja, a arte
volta de novo, enquanto forma de conhecimento e como a principal porta-
dora comunicacional do conhecimento tácito, que não pode ser trabalhado
por meio do discursivo ortodoxo. A única coisa de melhorzinho, em termos
de [conhecimento] tácito que nós conseguimos fazer no domínio do discur-
so, é a poesia. A peosia sim tem uma pretensão discursiva e consegue car-
rear bastante componentes tácitos. Agora, saindo daí, o grande predomí-
nio do conhecimento tácito se encontra na arte. Eu insisto neste ponto. Se
conhecimento é uma necessidade de sobrevivência, o conhecimento tá-
cito também é e muito pra nossa espécie. Nosso grande problema é levar
adiante a propagação do conhecimento tácito. Nós já estamos saturados
de discurso.
Em resumo, eu estou falando pra vocês que nós devemos elaborar
melhor nossos sentimento e emoções e colocar no devido lugar a função
que a racionalidade tem. Eu tô falando isto porque, quando eu era novo, eu
comecei a ler filosofia e tal... e tinha um dito naquele tempo, que eu acho
que ainda é empregado hoje em dia, que dizia “o ser humano é um ani-
mal racional”. Isto era encarado como uma grande característica humana:
a racionalidade. Isto orientou os racionalistas, os idealistas, todos aqueles
grandes filósofos que apostavam na razão, na lógica, no pensamento dis-
cursivo, etc. Mas um dia eu tava lendo um filósofo chamado Bertrand Rus-
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 17
sell, e num dos livros dele, o primeiro ensaio dele era algo assim: “dizem
que o ser humano é um animal racional. Pelo menos, foi isso que me dis-
seram, mas até hoje eu não vi nenhuma evidência forte a favor disso”.
Se você observar o comportamento do ser humano hoje em dia
você vai perceber que é por aí. Nós não somos tão racionais o quanto disse-
ram. Nós somos muito mais emoção e sentimento, e infelizmente, bastan-
te répteis. Muito répteis somos. E o nosso grande problema é como é que a
gente vai liberar nossa sensibilidade, nosso sentimento, nosso conhecimen-
to tácito pra equilibrar e pra acorrentar um pouquinho este dinossauro que
vai acabar destruindo a própria espécie. Nós já somos capazes da auto-des-
truição. Então, este é um dos papéis que a arte tem.
Mas voltando ao conceito de unwelt. A arte se manifesta também
no unwelt humano, é claro. Como é que a coisa funciona? O grande tipo de
conhecimento que tem sido exaltado ultimamente é a ciência. Vocês sabem
disso. Ela sofreu um certo abalo em meados do século XX com a questão
da Segunda Guerra Mundial, com a feitura e com o lançamento da bomba
atômica, as pessoas ficaram um pouco preocupadas com o crescimento da
ciência e deram um certo “freio” nela. Voltamos, hoje em dia, ao estudo das
subjetividades, tentando recuperar algo do sujeito e não do objeto. Mas a
ciência ainda é olhada como uma forma, pelo menos, eficiente de conheci-
mento e inegavelmente é. O problema da ciência não é nada associado à
destruição, isso ou aquilo. O que está associado a destruição é a nature-
za humana, é a qualidade humana. A ciência é somente um produto que
pode ser mais ou menos bem utilizado. Mas então, como é que a ciência
funciona? O que caracteriza a ciência?
A principal hipótese que norteia a ciência é a crença na realida-
de. Cientistas são objetivistas natos, em grande maioria. Alguns são idea-
listas mas não negam as coisas reais. Se você pegar um matemático puro,
por mais idealista que ele seja, ele admite que o computador dele é real. Ele
não vai tratar o computador dele como se fosse uma ilusão subjetiva, nem
como se fosse um objeto ideal. Aquilo ali, pra ele, é um objeto concreto, que
ele tecla direitinho. Então, a grande maioria do pessoal que faz ciência são
objetivistas, críticos. Eu sempre enfatizo isto. Mas, em que consiste isto “eu
admito a realidade”, “eu quero conhecer a realidade”? Entre eu sujeito e o
objeto real existe a interface do meu unwelt cuja camada externa é objetiva
mas cuja camada interna é subjetiva. Não sei se vocês percebem o que isto
18 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
significa. Eu estou vendo esto aqui [aponta para uma garrafa de água mi-
neral sobre a mesa]. Mas eu só vejo isto aqui porque tem luz sendo refleti-
da disto aqui pro meu olho. Até a luz bater no meu olho isto é objetividade,
é física. Aí a luz entra no meu olho e vai estimular cones e bastonetes no
fundo do olho. Cones e bastonetes possuem uma substância chamada rodo-
picina. A rodopicina muda de concentração com o bombardeio do fótons.
Então, nesta hora, a luz que vem “disso aqui” é codificada na flutuação da
concentração da rodopicina. É um código bioquímico. Acabou-se a física,
começou a bioquímica. Aí, por conta desta flutuação da rodopicina no fun-
do dos cones e bastonetes, eu consigo construir um impulso nervoso, que
já é de natureza mais elétrica, que atravessa meu cérebro ao centro visual.
E quando chega no centro visual este sinal é codificado adequadamente,
algo ainda meio misterioso, talvez um arranjo neuronal que me dá a sensa-
ção de que eu estou vendo uma garrafinha d’água. Ou seja, até eu conseguir
propor a vocês que isto aqui é uma garrafa d’água, eu tive que sair da física
objetiva, entrar numa química e bioquímica objetivas ainda, e progressiva-
mente construir uma ponte pra minha subjetividade onde aparece a idéia,
o conceito de “garrafa d’água” com tudo o que isto aqui acarreta pra mim.
Não só a percepção objetiva de que isto aqui é algo real, mas também fala
da minha necessidade de beber água, da minha sede, do prazer que a água
pode me dar, etc. Ou seja, quando bate no fundo do meu cérebro já está im-
pregnado de subjetividade.
Então, quando um cientista olha pro mundo este proceso aconte-
ce com ele. O que ele quer está lá fora, é a realidade. Ele tem que atravessar
esta interface pra poder chegar a subjetividade dele e julgar o mundo de
maneira subjetiva e de forma coerente com a realidade lá fora. Isto é muito
difícil. A única garantia que se tem, eficaz, deste tipo de processo, é o fa-
moso “método científico”. O método científico visa otimizar esta tentati-
va de apreensão do real, apesar da subjetividade do cientista. Tanto que
os cientistas trabalham primeiro de maneira individual. Escrevem seus ar-
tigos, seus papers, publicam e esperam que outros cientistas leiam e con-
cordem ou não com eles. O que é que eles pretendem com isto? Fazer uma
espécie de confronto entre os vários unwelten humanos e científicos. Se
todo mundo chegar a um consenso, chegar a um acordo, a gente pode des-
confiar que a gente tá falando de algo que não depende em particular da
subjetividade de alguém. Sendo algo comum a todo mundo, é candidato a
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 19
ser um reflexo da objetividade. Então, ciência, neste sentido, tem que ser
um conhecimento público, um conhecimento partilhado, social, pra po-
der ter garantias de objetividade. Mesmo assim não se consegue ser plena-
mente objetivo porque você, mesmo sendo cientista, detém aquele conheci-
mento tácito que não pode ser comunicado, logo não vai passar pro artigo
que você escreveu, logo não vai passar pra palestra que você vai proferir
e vai ficar na sua cabeça. Então, a objetividade rondando a ciência parece
ser como Michael Polanyi dizia: “uma perigosa ilusão”. Michael Polanyi
foi um filósofo da ciência, físico e químico de origem, e que levantou esta
questão de subjetividade em ciência e, na época, muita gente não gostou da
idéia, é claro. A ciência realmente acredita que pode ser objetiva.
Bem, então este é o problema da ciência, que está baseado numa
hipótese filosófica, a teoria do conhecimento: a existência da realidade
objetiva. O negócio é perfurar o unwelt humano e chegar nesta realidade.
Artistas trabalham de maneira diferente. Eles não estão muito preocupa-
dos em saber o que tem fora da bolha do unwelt. O que o artista faz é ex-
plorar as possiblidades contidas no seu unwelt. Ou seja, enquanto o cien-
tista busca a realidade, o artista trabalha com as possibilidades do real.
É claro que este unwelt que ele vai explorar foi construido num confronto
entre ele, sistema cognitivo, e a realidade do processo de evolução, é claro
que este unwelt contém traços do real. E é claro que, de vez em quando, este
estudo que o artista faz tropeça em algo que é real. Ele também tem acesso
a realidade, mas não de maneira planejada, metódica ou intencional. Ele
simplesmente faz isto porque ele é aquele que faz isto. Então, arte é o estu-
do, a exploração das possibilidades da realidade. É diferente da ciência
que quer conhecer a realidade.
Bem, aí vocês poderiam argumentar: – ah! Mas então a ciência,
conhecendo a realidade, ela é perfeitamente adaptativa, ela vai ter sucesso
evolutivo, por isso que ela é tão eficiente e arte fica só no domínio das pos-
sibilidades”. Engano. A arte talvez seja mais importante ainda neste senti-
do, porque é fundamental pra um sistema vivo permanecer no tempo se ele
souber avaliar as possibilidades do real sim. Não só avaliar como a reali-
dade parece ser, mas como ela pode vir a ser. Qualquer coisa viva faz isto,
não precisa ser gente não. Imaginem o gavião que quer pegar o pardal. O
pardal está voando e o gavião está voando. Ele tem que mergulhar pra pe-
gar o pardal. Vocês acham que ele vai mergulhar aonde o pardal está? Se
20 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
ele fizer isto, quando ele chegar naquele lugar o pardal não vai estar mais
ali. Ele tem que extrapolar a trajetória do pardal, prever qual a probabili-
dade, qual a possibilidade mais eficaz e mergulhar aonde o pardal deverá
estar. Se o pardal for esperto vai se desviar a meio caminho. Mas, em prin-
cípio, é isto que o gavião faz, ele extrapola possibilidades. Isto faz parte do
processo de evolução e de sobrevivência de uma espécie. Nós artistas, ex-
ploramos as possibilidades no real como estratégias de sobrevivência da
nossa espécie. É o que nos cabe.
Bem, então, exploração das possibilidades. Isto é uma coisa forte na
arte e está associado a questão do unwelt humano. Existem alguns exem-
plos curiosos sobre isto em arte que vocês devem conhecer melhor do que
eu. Um exemplo que aconteceu a relativamente pouco tempo e fdoi muito
forte e interessante foi a pintura de Pollock. Pollock vocês sabem, botava
aquelas telas enormes no chão e jogava tinta e tal. Qualquer leigo, de fora,
que olhe aquilo diria “esse cara é maluco! Tá jogando tinta na tela, olha só
como ele pinta, isto não é pintar... Eu também faço isso!”. Primeiro detalhe:
não faz. Como ele fazia não faz mesmo. E se você olha um quadro de Pollock
você fica fascinado por uma estranha coerência que o quadro tem, apesar
de ser tinta jogada de “qualquer maneira”. Não sei se vocês sabem, mas, há
alguns anos atrás, um matemático estudou a pintura de Pollock e descobriu
que a pintura dele é fractal. Ou seja, é um objeto de dimensão fracionária.
Fractais eram coisas, eram criações de matemáticos puros. Mandelbrot, que
foi um grande matemático, foi quem tentou demonstrar que fractais faziam
parte da realidade, da própria constituição do nosso mundo presente. De-
pois descobriu-se que fractais estão na natureza como um todo. Por exem-
plo, os anéis de Saturno são fractais, têm dimensões fracionárias. Ou seja, a
própria dimensão do universo usa fractais, mas isto não era conhecido por
nós, nós não conhecíamos isto até bem pouco tempo. A matemática fractal
começa com os estudos em arte de [Maurits Cornelis] Escher e de outros, e
só no século XX que ela foi colocada de maneira mais precisa por Mandel-
brot. Mas então, o que é que isto significa? Isto significa que o artista, ex-
plorando o unwelt dele, no caso o Pollock, tropeçou num traço da realidade
sim, que era o fractal. Num traço de realidade que não era nem conhecido
direito pelo pessoal da ciência. Ele, como artista, sentiu isto e viu isto. De-
talhes quanto a percepção humana sofisticados você encontra nas pinturas
de Van Gogh também. A gente pode dar uma série de exemplos aqui mas o
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 21
que eu quero frizar é isto: o artista, por mais que ele trabalhe possibilida-
des do seu unwelt, ele, de vez em quando, tangencia a realidade e percebe
coisas que muitas vezes nem um cientista percebe. Neste sentido, a arte,
do ponto de vista evolutivo, talvez seja mais eficiente, e ela – eu acredi-
to nisso – antecede o conhecimento científico. A única coisa que interessa
com ela, ao que tudo indica, é uma tecnologia. Ou seja, nós começamos a
nossa vida como artistas e tecnólogos e depois se evoluiu pro conhecimen-
to mais racional que é o conhecimento científico, mais otimizado, mais ob-
jetivado, e no grande cenário da filosofia, que é um pensamento mais livre
mas também bastante organizado. Então, esta é uma das propostas que eu
queria apresentar pra vocês. A arte está justificada como um tipo de conhe-
cimento e também envolvendo várias formas de conhecimento a partir de
um conceito de unwelt que é um conceito biológico, mas que pra espécie hu-
mana já deixou de ser biológico há bastante tempo.
Existe outra questão final também, que esta é mais difícil de ser
analisada: Porque a arte?
Porque este tipo de conhecimento se desenvolveu? A gente pode
dizer simplesmente que ela teve uma função adaptativa e evolutiva mas,
porque e como? Existe um detalhe interessante nisso aí: se você olhar a eto-
logia, o comportamento dos animais, você vai ver que a sobrevivência de
muitas espécies, da grande maioria, depende de critérios que nós chama-
ríamos de estéticos. Nós estamos perpetuados a tratar a estética com valo-
res bastante subjetivos e humanos. Eu estou falando de alguma coisa bem
mais avançada, de uma espécie de característica objetiva, estética do mun-
do. Vocês já viram como é que os animais resolvem suas questões de pro-
criação, de acasalamento? Existem alguns métodos como estratégias que
eles utilizam. Um deles é a lei do mais forte: os machos entram em cho-
que, aquele que é mais forte apresenta, portanto, sinais, índices de maior
saúde, e as fêmeas escolhem os mais saudáveis. A lei é simples: machos se
exibem, fêmeas escolhem. Isto é válido pra nós também. Entre os animais
isto acontece muito, mas em certas espécies – bastante, não são poucas não
– o critério, o índice de saúde não é dado bem pela força. É dado pela per-
formance ou é dado pela beleza. Entre os pássaros, por exemplo, é mais co-
mum os machos serem mais bonitos do que as fêmeas. Eles exibem esta be-
leza e as fêmeas escolhem os mais bonitos, porque a beleza dele é sinal de
saúde. Existe um pássaro – eu esqueço o nome dele – ele é preto e feinho,
22 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
coitado, ele não tem nenhum atrativo. A fêmea é mais feia ainda, coitada.
Daí, pra ele seduzir a fêmea, pra ele ser seduzido por ela, ele constrói ni-
nhos belíssimos e ela escolhe o ninho mais bonito. Existem pássaros que
dançam, fazem verdadeiros rituais. Existem tipos de garças que executam
minuetos perfeitos, e outras coisas... Vocês já viram o famoso voo do con-
dor? O condor tem um voo belíssimo. Todo mundo diz isso. Se você vir um
condor entre as montanhas dos Andes flutuando no ar. Aquilo ali, ele não
está voando pra se exibir, nem pra nós e nem pras fêmeas (talvez ele esteja
se exibindo pras fêmeas), mas em princípio a única coisa que ele quer ali
é aproveitar, de maneira eficiente, a camada de conexão ascendente de ar
quente entre as montanhas pra poder gastar um mínimo de energia e pla-
nar o máximo de tempo. É um processo de eficiência em termodinâmica,
mas pra nós soa como estético. O que eu quero argumentar com vocês é que
nós temos um senso subjetivo disto que chamamos de estética e disto que
nós chamamos de belo, mas isto está na natureza, isto não é subjetivo nos-
so. Isto é outro critério evolutivo e adaptativo que todas as espécies vivas
pelo menos utilizam. Não estou querendo dizer que a estética seja comple-
tamente objetiva. O que eu estou querendo dizer é que tem algo de objeti-
vo no mundo que se manifesta pra nós como estético. Ou seja, o senso de
estética que nós temos tem uma raíz objetiva no mundo. Do ponto de vista
da teoria de sistemas, de uma ontologia sistêmica, parecer que isto está as-
sociado a uma forma eficaz ou eficiente de organização. A raíz da estética
esta associada a um critério de organização e de coerência, e isso não de-
pende só de nós, isto é da natureza do mundo.
Bem, então, resumidamente que o tempo já está acabando. Primei-
ra proposição: a arte é um tipo de conhecimento; segunda proposição: este
tipo de conhecimento utiliza com sucesso, com eficácia, algumas formas
de conhecimento como o processo discursivo, como o processo intuiti-
vo, como o processo tácito. No caso da música, que é mais afim com vo-
cês, existe uma mescla notável entre o tácito e o discursivo. A música se
extende no tempo por todo o discurso. A música é um sistema em si de
alta temporalidade e consegue transportar bastante fortemente sentimen-
tos, emoções... Ela pode ser extremamente imagética, icônica, vocês sabem
isto melhor do que eu. Terceira proposição: a arte como forma de conhe-
cimento, como natureza está associada ao nosso unwelt, e consiste nas
condições, nas possibilidades permitidas por este unwelt; e finalmente a
Vol. 9 - Nº 2 - 2009 MÚSICA HODIE 23
quarta proposição: não só o nosso unwelt, mas o unwelt de qualquer coisa
viva que usa algo associado a arte ou a raíz daquilo que gera a arte, pra
poder garantir a permanência, a sobrevivência da espécie viva.
O que eu quero dizer pra vocês é que a arte tem muito mais im-
portância do que parecer ter. Quando nos envolvemos com arte, dizemos
que fazemos isto porque amamos a arte. Nós realmente amamos a arte,
mas este ato de amor é um ato de sobrevivência, e isto nunca pode ser
esquecido. A mesma coisa acontece com os outros tipos de conhecimento.
Ou vocês acham que aquele cientista que passa o final de semana tranca-
do no laboratório pesquisando biofísica ou matemática, vocês acham que
ele não está profundamente apaixonado pelo que ele faz? Se ele não tiver
paixão ele não vai produzir nada. Porque não vale a pena fazer uma coisa
sem paixão. Este é um detalhe importante da gente trabalhar em termos
de conhecimento. Conhecimento bom ou eficaz é o conhecimento ama-
do. Este é mais um detalhe a gente tem que explorar inclusive com nos-
sos alunos. Mostrar pra eles que quando a gente estuda, quando a gente se
dedica a criar alguma coisa, a gente está tentando resolver uma dimensão
afetiva que é a única coisa que justifica a vida. Qualquer atividade pro-
fissional apresenta três dimensões: uma racional e duas afetivas. A di-
mensão racional diz que você deve ser competente no que você faz, na
medida do possível. As duas afetivas dizem que você deve amar o que
você faz. E muitas vezes a terceira diz você deve amar gente pra o que
faz fazer algum sentido. Obrigado. [aplausos]
Recebido em 25 set 2009
Aprovado em 25 out 2009
Jorge de Albuquerque Vieira - Possui graduação em Engenharia de Telecomunicações pela Uni-
versidade Federal Fluminense (1969), mestrado em Engenharia Nuclear pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro (1975) e doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (1994). Atualmente é Professor da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo e Professor Assistente Doutor da Faculdade de Dança Angel Viana. Tem experiência na área
de Filosofia com ênfase em Metafísica. Atuando principalmente nos seguintes temas: Semiótica e
Sistema de Sinais.
Sonia Ray - Contrabaixista, professora e pesquisadora na Escola de Música e Artes Cênicas da Uni-
versidade Federal de Goiás. Apresenta-se regularmente em recitais no Brasil e exterior privilegian-
do os repertórios contemporâneo e brasileiro para contrabaixo. Sonia é sócia-fundadora da ABC
- Associação Nacional de Contrabaixistas. Integra o corpo docente do PPG em Música do Instituto
de Artes da UNESP, é Presidente do Conselho Editorial de Música Hodie e Presidente da ANPPOM
- Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (gestão 2009-2011).
24 MÚSICA HODIE J. A. VIEIRA; S. RAY (p. 11-24)
Você também pode gostar
- Jazz+Dance +a+History+of+the+Roots+and+Branches (001 050) .En - PT MescladoDocumento331 páginasJazz+Dance +a+History+of+the+Roots+and+Branches (001 050) .En - PT Mescladorafael reis100% (1)
- O Que É EstéticaDocumento22 páginasO Que É EstéticaAna Fernanda Brandão PereiraAinda não há avaliações
- APOSTILA DE TEORIA MUSICAL - Violao e Guitarra - PDFDocumento99 páginasAPOSTILA DE TEORIA MUSICAL - Violao e Guitarra - PDFVitor Ferreira Valente100% (7)
- Escritos de Artistas - Anos 60 - 70 - Gloria Ferreira PDFDocumento445 páginasEscritos de Artistas - Anos 60 - 70 - Gloria Ferreira PDFpedro gpAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Discussão Sobre Centro e Periferia (CHICO BUARQUE)Documento7 páginasPlano de Aula - Discussão Sobre Centro e Periferia (CHICO BUARQUE)Pedro Henrique Ferreira CostaAinda não há avaliações
- O Cine-Pensamento Deleuze PDFDocumento7 páginasO Cine-Pensamento Deleuze PDFSuz Figs100% (1)
- Livro Tecnologia e o Mundo Da Vida Don IhdeDocumento307 páginasLivro Tecnologia e o Mundo Da Vida Don IhdeVERONICA MACHADOAinda não há avaliações
- DELEUZE, Gilles. Empirismo e SubjetividadeDocumento129 páginasDELEUZE, Gilles. Empirismo e Subjetividadenorman batesAinda não há avaliações
- Perspectivas Práticas e Teóricas Da Musicoterapia No Brasil by Gustavo Schulz Gattino (Org) p2Documento482 páginasPerspectivas Práticas e Teóricas Da Musicoterapia No Brasil by Gustavo Schulz Gattino (Org) p2Enderson MedeirosAinda não há avaliações
- PELBART, P. Por Uma Arte de Instaurar Modos de Existência Que Não Existem PDFDocumento16 páginasPELBART, P. Por Uma Arte de Instaurar Modos de Existência Que Não Existem PDFIsabella GiordanoAinda não há avaliações
- Mimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesNo EverandMimoso: Comunidade tradicional do Pantanal Mato-Grossense - Diversidade de SaberesAinda não há avaliações
- Heterotopias, Dos Espaços OutrosDocumento7 páginasHeterotopias, Dos Espaços OutrosNoéliRammeAinda não há avaliações
- Caminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Documento208 páginasCaminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Bruna Sabrina100% (1)
- Harald Szeemann - EntrevistaDocumento8 páginasHarald Szeemann - EntrevistaMaykson CardosoAinda não há avaliações
- Arquivo e Memória - Pedro Dolabela ChagasDocumento13 páginasArquivo e Memória - Pedro Dolabela ChagasIgor Fernandes de OliveiraAinda não há avaliações
- Filosofia, História e Sociologia Das Ciências I Abordagens ContemporãneasDocumento259 páginasFilosofia, História e Sociologia Das Ciências I Abordagens ContemporãneasJéssica Souza100% (1)
- Resenha A Invenção Das RaçasDocumento3 páginasResenha A Invenção Das RaçasEmerson Freire dos SantosAinda não há avaliações
- AGAMBEN, Giorgio - Arqueologia Da Obra de Arte PDFDocumento14 páginasAGAMBEN, Giorgio - Arqueologia Da Obra de Arte PDFCleberAraújoCabral100% (1)
- Visualidades Hoje - Livro Compos 2013Documento333 páginasVisualidades Hoje - Livro Compos 2013Rodrigo CarreiroAinda não há avaliações
- Desaba - Jorque de Albuquerque VieiraDocumento18 páginasDesaba - Jorque de Albuquerque VieiraKezo NogueiraAinda não há avaliações
- MACHADO, Arlindo - Arte e MídiaDocumento15 páginasMACHADO, Arlindo - Arte e MídiaGabriela AlmeidaAinda não há avaliações
- Imagens Urbanas: Mangue, Tabuleiro, CidadesNo EverandImagens Urbanas: Mangue, Tabuleiro, CidadesAinda não há avaliações
- A Estética Da MorteDocumento3 páginasA Estética Da MorteWiesengrundLudwigAinda não há avaliações
- O Que É MultimídiaDocumento24 páginasO Que É Multimídiasandra.rodriguesAinda não há avaliações
- Meneses, Ulpiano - Rumo História VisualDocumento9 páginasMeneses, Ulpiano - Rumo História VisualGrausuarioAinda não há avaliações
- POP UP LisbonDocumento85 páginasPOP UP LisbonPop Up CityAinda não há avaliações
- Seis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDocumento19 páginasSeis Propostas para Os Corpos Deste Milênio - Danilo PatzdorfDanilo PatzdorfAinda não há avaliações
- Resenha - O Manifesto Da TransdisciplinaridadeDocumento3 páginasResenha - O Manifesto Da TransdisciplinaridadeMoisés CâmaraAinda não há avaliações
- BRAZIL, André - Modulação-Montagem - Ensaio Sobre Biopolítica e Experiência EstéticaDocumento220 páginasBRAZIL, André - Modulação-Montagem - Ensaio Sobre Biopolítica e Experiência EstéticaPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- Arte Educação e Paulo FreireDocumento19 páginasArte Educação e Paulo FreireSergio PereiraAinda não há avaliações
- A Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemDocumento275 páginasA Unidade Múltipla. Ensaios Sobre A PaisagemGustavo ChiesaAinda não há avaliações
- Artigo - Dijck - 'Questão - Confiamos Nos Dados' (2017)Documento21 páginasArtigo - Dijck - 'Questão - Confiamos Nos Dados' (2017)Orange-BrAinda não há avaliações
- ARTIGO Viviane Furtado MatescoDocumento15 páginasARTIGO Viviane Furtado MatescoJuliana NotariAinda não há avaliações
- AUT5836Documento5 páginasAUT5836TucaVieiraAinda não há avaliações
- O Corpo Incerto Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura ContemporâneaDocumento3 páginasO Corpo Incerto Corporeidade, Tecnologias Médicas e Cultura ContemporâneaAnne MoraisAinda não há avaliações
- Cidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaDocumento3 páginasCidade e Cultura: Esfera Pública e Transformação UrbanaPaula Georgia0% (1)
- Arte Como Experiencia PalestraDocumento20 páginasArte Como Experiencia PalestraMarcos Dos SantosAinda não há avaliações
- Viviane MatescoDocumento4 páginasViviane MatescoCarlaBorbaAinda não há avaliações
- Etica e Negocios - Laercio Antonio PilzDocumento62 páginasEtica e Negocios - Laercio Antonio PilzLuis EduardoAinda não há avaliações
- Santaella, Lucia - Epistemologia SemióticaDocumento18 páginasSantaella, Lucia - Epistemologia SemióticaIvaMin LeeAinda não há avaliações
- Alan-Sekula - Reinventar o Documental Notas Sobre A Política Da RepresentaçãoDocumento16 páginasAlan-Sekula - Reinventar o Documental Notas Sobre A Política Da RepresentaçãoDanilo M.Ainda não há avaliações
- GROSSMANN Do Ponto de Vista Da Dimensionalidade PDFDocumento9 páginasGROSSMANN Do Ponto de Vista Da Dimensionalidade PDFrogerio camaraAinda não há avaliações
- Com Design Alem Do Design o Design Grafico Com PreocupacoeDocumento11 páginasCom Design Alem Do Design o Design Grafico Com PreocupacoecontatorecheadoAinda não há avaliações
- Deleuze e o DesejoDocumento4 páginasDeleuze e o DesejoCleros2Ainda não há avaliações
- COUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70Documento13 páginasCOUQUELIN, Ligia. O Legado Dos Anos 60 e 70TatianaFunghettiAinda não há avaliações
- Uma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralDocumento328 páginasUma Arque-Genealogia Do Cyberpunk - Adriana AmaralCibercultural100% (1)
- Colecionismo - BenjaminDocumento8 páginasColecionismo - BenjaminVanessa SalumAinda não há avaliações
- Anais CompletoDocumento752 páginasAnais CompletoMaria Da Luz CorreiaAinda não há avaliações
- Conceito de Warburg de KULTURWISSENSCHAFTDocumento18 páginasConceito de Warburg de KULTURWISSENSCHAFTCarine K100% (1)
- Sumário Comentado Manuela LopoDocumento6 páginasSumário Comentado Manuela LopoManuela LopoAinda não há avaliações
- Aby Warburg e Walter Benjamin A Legibilidade Da MemoriaDocumento18 páginasAby Warburg e Walter Benjamin A Legibilidade Da MemoriaPriscilla StuartAinda não há avaliações
- Conhecer, Pensar e Acreditar. Ortega y Gasset e o Problema Do ConhecimentoDocumento6 páginasConhecer, Pensar e Acreditar. Ortega y Gasset e o Problema Do ConhecimentoMécia SáAinda não há avaliações
- Repensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFDocumento16 páginasRepensando o Animado, Reanimando o Pensamento - Tim Ingold PDFCícero PortellaAinda não há avaliações
- CHIARELLI - Anna Bella GeigerDocumento10 páginasCHIARELLI - Anna Bella GeigerBarbara KanashiroAinda não há avaliações
- Redes Ou Paredes - Resenha RobertaDocumento4 páginasRedes Ou Paredes - Resenha RobertaRoberta Botelho100% (1)
- Ars 1 - Julio Plaza Sobre Arte e CienciaDocumento12 páginasArs 1 - Julio Plaza Sobre Arte e CiencialucianobuxaAinda não há avaliações
- O Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoDocumento4 páginasO Sujeito Na Tela:: Modos de Enunciação No Cinema e No CiberespaçoClecyo de SousaAinda não há avaliações
- A Invenção Do CotidianoDocumento13 páginasA Invenção Do CotidianoNilia FeitosaAinda não há avaliações
- Ditos Sobre Professor-ArtistaDocumento15 páginasDitos Sobre Professor-ArtistaJéssica DemarchiAinda não há avaliações
- OVERING, Joanna. Elogio Do CotidianoDocumento27 páginasOVERING, Joanna. Elogio Do CotidianosegataufrnAinda não há avaliações
- Annateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFDocumento13 páginasAnnateresa Fabris - Diálogos Entre Imagens PDFLuciano LanerAinda não há avaliações
- Uma arqueologia do ensino de Filosofia no Brasil: Formação discursiva na produção acadêmica de 1930 a 1968No EverandUma arqueologia do ensino de Filosofia no Brasil: Formação discursiva na produção acadêmica de 1930 a 1968Ainda não há avaliações
- CADERNO DE APLICAÇÃO - USO DO PROFESSOR - Solfejos e DitadosDocumento10 páginasCADERNO DE APLICAÇÃO - USO DO PROFESSOR - Solfejos e DitadosDevanil RodriguesAinda não há avaliações
- Gabarito Dos Exercicios Curso de Teoria e Harmonia Com Alex MartinhoDocumento14 páginasGabarito Dos Exercicios Curso de Teoria e Harmonia Com Alex MartinhoRui PratesAinda não há avaliações
- 2021 Dis WssoaresDocumento132 páginas2021 Dis WssoaresEduarda DiasAinda não há avaliações
- Músicas de Matrizes Indígena, Africana e Afro-BrasileiraDocumento28 páginasMúsicas de Matrizes Indígena, Africana e Afro-BrasileiraCláudio SthradwariosAinda não há avaliações
- O Bandolim Hoje Questoes InterpretativasDocumento90 páginasO Bandolim Hoje Questoes InterpretativasAlessandro carvalho barrosAinda não há avaliações
- Regulamento Do II Ceará Científico Da Crede 16 - FinalDocumento25 páginasRegulamento Do II Ceará Científico Da Crede 16 - FinalpcmcamposAinda não há avaliações
- Ebbok Com Artigo Publicado o ExistencialismoDocumento576 páginasEbbok Com Artigo Publicado o ExistencialismoJessica PereiraAinda não há avaliações
- 4º Bloco-1ºanoDocumento63 páginas4º Bloco-1ºanoMarley Jales Bordoni SoaresAinda não há avaliações
- Artigo 05Documento3 páginasArtigo 05o escritor fantasmaAinda não há avaliações
- Anais Do XII Encontro Regional Centro-Oeste Da ABEMDocumento320 páginasAnais Do XII Encontro Regional Centro-Oeste Da ABEMtfigdorAinda não há avaliações
- Teatro para Surdos - RelatórioDocumento28 páginasTeatro para Surdos - RelatórioJoilene LimaAinda não há avaliações
- Descobrindo A Música Contemporânea - Bernadete ZagonelDocumento15 páginasDescobrindo A Música Contemporânea - Bernadete ZagonelsergiobizettiAinda não há avaliações
- Marta Isaacson PDFDocumento16 páginasMarta Isaacson PDFKlériston VitalAinda não há avaliações
- 1º Ano EM Regular - Arte - Prof. SamirDocumento10 páginas1º Ano EM Regular - Arte - Prof. SamirDianaAinda não há avaliações
- Renato Da Silva RochaDocumento53 páginasRenato Da Silva RochaLisandro CarvalhoAinda não há avaliações
- OLIVEIRA, Felipe Dias - A Utilização Das Árias Antigas - 2010Documento60 páginasOLIVEIRA, Felipe Dias - A Utilização Das Árias Antigas - 2010Felipe AyalaAinda não há avaliações
- Festa Da PipocaDocumento10 páginasFesta Da PipocaCamilaPeixoto93Ainda não há avaliações
- SILVA E SOUSA. Dança, Corpo e MovimentoDocumento16 páginasSILVA E SOUSA. Dança, Corpo e MovimentoBianca BedoAinda não há avaliações
- Plano Fuc ESMLDocumento7 páginasPlano Fuc ESMLNelson JesusAinda não há avaliações
- Sons, Silêncios e InvençõesDocumento8 páginasSons, Silêncios e InvençõesFábio SantanderAinda não há avaliações
- Trilha Sonora e SonoplastiaDocumento1 páginaTrilha Sonora e SonoplastiaArte Música Liberato100% (1)
- FUVEST12Documento18 páginasFUVEST12Estaçao Coruja NewsAinda não há avaliações
- Exam 745155Documento16 páginasExam 745155Tacyanne Castro GenaioAinda não há avaliações
- Documento 10Documento5 páginasDocumento 10Leonor MarinhoAinda não há avaliações
- Música Na Grécia AntigaDocumento1 páginaMúsica Na Grécia AntigaOtiniel RODRIGUES ALVESAinda não há avaliações