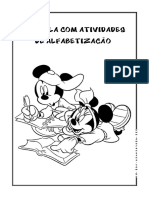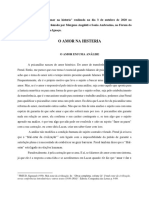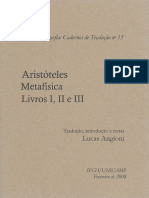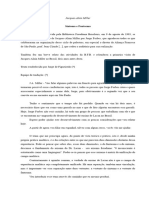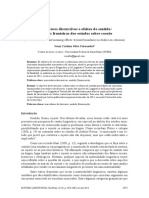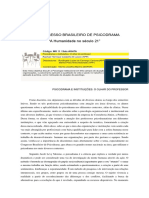Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ARAÚJO NETO, M. L. 2007. Sociologia Da Literatura
ARAÚJO NETO, M. L. 2007. Sociologia Da Literatura
Enviado por
Marcio A. ZabotiTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ARAÚJO NETO, M. L. 2007. Sociologia Da Literatura
ARAÚJO NETO, M. L. 2007. Sociologia Da Literatura
Enviado por
Marcio A. ZabotiDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A sociologia da literatura: origens e
questionamentos
Miguel Leocádio Araújo Neto
Mestre em Literatura Brasileira – UFC
Resumo
Este artigo faz o percurso das origens da sociologia da literatura aos seus desdobramentos
no século XX, levantando os principais questionamentos presentes nos diversos
teóricos comentados. Dessa forma, examinam-se os rumos tomados pelas pesquisas
que vinculam literatura e sociedade em suas principais configurações.
Palavras-chave
Sociologia da literatura; sociocrítica; literatura; sociedade.
Zusammenfassung
Dieser Artikel erforscht die Ursprünge der Literatursoziologie bis zu ihren
Verfeinerungen im 20. Jahrhundert, wobei die schon vorhandenen Hauptfragestellungen
durch verschiedene Auslegungen der Theoretiker erweitert werden. Somit werden
die schon vorhandenen Theorien neu überarbeitet, die in ihren wichtigsten Punkten
Literatur und Gesellschaft miteinander verbinden.
Schlüsselwörter
Literatursoziologie; Soziokritik; Literatur; Gesellschaft.
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 15
A idéia de que a obra literária, em sentido amplo, constitui um modo de representação da
realidade tem certo trânsito entre renomados teóricos e estudiosos da literatura, tais como René
Wellek e Austin Warren, Erich Auerbach, Afrânio Coutinho, Antonio Candido e outros. Adotando
este pressuposto básico e ampliando-o em direção às indagações em torno das relações entre
literatura e sociedade, apresenta-se-nos a necessidade de uma reflexão sobre como os métodos
sociológicos de abordagem do texto literário, ou mais especificamente a chamada sociologia da
literatura, entenderiam o problema da representação da realidade pela literatura.
A complexidade das questões relativas às relações entre literatura e sociedade, e como a
teoria e a crítica literárias as entendem, afigura-se como uma justificativa possível para o trabalho
do pesquisador interessado em compreender quais as especificidades da representação do fato
social (para usar uma noção corrente para a sociologia enquanto disciplina) pela literatura.
Este interesse dos pensadores em compreender as relações entre literatura e sociedade
não é recente, embora tenha tomado mais fôlego, principalmente, na segunda metade do século
XX, com a publicação, na França, em 1963, de A teoria do romance, de Georg Lukács, bem
como dos estudos, ainda na década de 1950, de Lucien Goldmann, um dos mais atuantes
divulgadores dos estudos sociológicos aplicados à literatura. Segundo Jean-Yves Tadié, o que
hoje podemos chamar de sociologia da literatura teria suas origens teóricas ainda em princípios
do século XIX.
Embora não menos importantes, estas origens remontam à passagem do século XVIII
para o século XIX, sendo a Revolução Francesa (1789) e os seus abalos subseqüentes na vida
intelectual européia o evento histórico desencadeador de anseios por uma nova forma de pensar
o mundo, a nova sociedade e as novas formas de relação social, modificadas por estes abalos
históricos, e, enfim, por uma nova forma de pensar o homem. Desta necessidade intelectual de
explicar o novo àquele momento, tornar-se-ia inevitável um novo olhar para a literatura e para
a arte em geral, como produções de um novo homem em uma nova sociedade.
Os teóricos e os historiadores da literatura convergem para Madame de Staël como a
iniciadora de uma tradição teórico-interpretativa que originaria alguns desdobramentos mesmo
no século XX, sendo o seu De la littérature considerée dans ses rapports avec les institutions
sociales (1800) a primeira tentativa de estabelecer um relacionamento entre literatura e
sociedade. Também se articulando com a gênese dos estudos de literatura comparada, Madame
de Staël proporia três parâmetros de leitura, quais sejam: (a) uma “leitura diacrônica” do
sistema literário (privilegiando a idéia de que a literatura sofre transformações à medida que as
sociedades se transformam); (b) uma “leitura espacial” da literatura (afastando-se de um modelo
único e universal e aproximando-se de uma leitura pela qual as literaturas nacionais passam a
ser consideradas em sua especificidade); (c) a leitura da contradição entre “literatura necessária
e literatura de fato” (o exame da problemática das relações entre uma pretensa necessidade de
um determinado tipo de literatura e a literatura que aparece de fato). Madame de Staël coloca,
então, questões ainda hoje caras aos pesquisadores, por exemplo: de que forma uma literatura
nacional (e, no âmbito da literatura brasileira, não poderíamos deixar de também considerar as
literaturas regionais) se articula com a/na história do país? Ou ainda: o que caracterizaria de fato
uma literatura nacional?
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 16
Ao mesmo tempo, aparece a discussão proposta por Chateaubriand em O gênio do
cristianismo (1800): as relações entre cultura pagã e cultura cristã, o que determinaria também
uma reflexão sobre os modelos canônicos e sua subversão, e, portanto, sobre as diversas formas
de configuração dos diferentes discursos decorrentes da cultura, enquanto produções e práticas
sociais inseridas num determinado contexto histórico. Ao tomar como referência certa parte do
teatro francês do século XVII e, sobretudo, a tragédia de inspiração greco-latina, Chateaubriand
revela que, na verdade, a dicção das personagens não é, e nem pode mais ser, a dicção clássica
pagã, mas a da França contemporânea cristã. Isso demonstra como a interpenetração de culturas
se faz de modo complexo, à revelia de qualquer projeto estético de adoção de pressupostos de
elaboração artística alheios às práticas sócio-culturais de um povo em determinado momento
de sua história.
Também neste período, em 1806, em artigo do Mercure de France, Bonald retoma sua
famosa frase, “A literatura é expressão da sociedade”, antes aparecida em 1796, o que vai
ocasionar uma série de polêmicas sobre a trama existente entre literatura, sociedade e história.
Embora tivesse como intenção original afirmar que cada povo tem a literatura que merece
(portanto adotando, a priori, um critério de julgamento valorativo de uma literatura e de uma
sociedade), a frase está na origem do estabelecimento de um tipo de compreensão da produção
literária, o do condicionamento da literatura pelo “caráter” da sociedade, o que geraria seus
desdobramentos posteriores.
A partir da segunda metade do século XIX, as contribuições para a formalização de uma
sociologia da literatura vão aumentar consideravelmente, recebendo influências inclusive das
teorias científicas em vigor na época.
Hyppolite Taine esboça, por volta de 1853, a sua teorização determinista através do
trinômio raça-meio-momento, cuja principal ressonância seria a de relacionar, ou condicionar,
uma realização literária (e, portanto, a personalidade que a produziu) a um contexto que não é
apenas histórico, mas também cultural, social e racial. Desta forma, a produção literária estaria
irremediavelmente (e a priori) condicionada a elementos exteriores a ela. Esta perspectiva de
estudo da obra literária acarretaria em problemas para o próprio método, cuja principal acusação
sofrida é a de relegar a realidade interna das obras a segundo plano em benefício da explicação
dos fatores condicionantes.
A teoria do romance, de Georg Lukács, foi publicada pela primeira vez em livro em 1920,
embora tenha aparecido antes na Zeitschrift für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft
[Revista de estética e de ciência geral da arte] e tenha sido redigida entre 1914 e 1915. A
motivação para sua escrita, segundo o prefácio à edição de 1962, teria sido a eclosão da primeira
guerra mundial em 1914. Trata-se, portanto, de um impulso intelectual que aparentemente ainda
está distante da extração marxista pela qual o autor orientou-se posteriormente. Mesmo assim, o
próprio Lukács, no mesmo prefácio, assume que as preocupações de matriz marxista já estavam
ali presentes de forma embrionária, pois, como o subtítulo da obra deixa entrever, a tônica dada
é a histórico-filosófica.
Teoria e crítica se mesclam nesta obra cuja divisão oferece duas perspectivas: uma teórica
com intenções filosóficas (“As formas da grande épica em sua relação com o caráter fechado ou
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 17
problemático da cultura como um todo”) e uma classificatória (“Ensaio de uma tipologia da forma
romanesca”), tomando por base algumas obras. Ao estudar o modo como um gênero literário (seu
aparecimento, enfraquecimento ou transformação) está sujeito a injunções culturais e históricas e
ao esboçar uma tipologia do gênero com base em pressupostos filosóficos que elegem o indivíduo
e seu entorno como motivo, Lukács estaria lançando as bases teóricas do que se configuraria
nas diferentes orientações da sociologia da literatura ao longo do século XX, chegando a ser
considerado por Lucien Goldmann como o verdadeiro iniciador da sociologia da literatura.
É importante ressaltar que o campo metodológico da sociologia da literatura se ampliou
a partir da contribuição de diversos pensadores, tais como Walter Benjamin, Theodor Adorno,
Arnold Hauser, Jean-Paul Sartre, entre outros. Se, por um lado, estas contribuições geraram
divergências metodológicas, por outro demonstrou-se a possibilidade de investigar as relações
entre literatura e sociedade delimitando campos específicos de pesquisa (algumas vezes em
diálogo com outros campos), dando à sociologia da literatura uma amplidão de perspectivas
investigativas tão diversificadas quanto as da sociologia.
As tendências de delimitações metodológicas para o estudo sociológico da literatura,
grosso modo, têm se apresentado mais freqüentemente da seguinte forma:
o estudo marcado pelo exame, e pelo relacionamento, entre um
determinado corpus no âmbito literário (p. ex. uma determinada
manifestação num dado estilo de época, um gênero, etc.) e as
condições histórico-sociais;
o estudo centrado na consideração do autor e de sua situação histórico-
social, bem como de sua situação no campo intelectual; neste âmbito
pode situar-se inclusive o estudo do escritor e suas condições de
produção, problemas de remuneração, etc.;
o estudo centrado em problemas relativos à obra literária, sua
publicação, distribuição, circulação, inclusão no cânone literário,
etc.;
o estudo centrado no público leitor e sua relação com as obras: o
consumo, o sucesso (ou insucesso) de obras, ressonâncias provocadas
pelas obras (nos leitores), etc.
Estas perspectivas de estudo, entre outras ligadas à sociologia da literatura, podem trazer
um problema para os estudos literários, como observa Luiz Costa Lima: subordinar a obra
literária “ao propósito de entendimento dos mecanismos em operação na sociedade”. Também
Antonio Candido, em seu ensaio “Crítica e sociologia” de Literatura e sociedade, aventa a
possibilidade de o valor e o significado da obra serem relegados em benefício da explicação
sociológica, tornando o dado exógeno ao texto literário o verdadeiro motor da análise. No
entanto, no mesmo ensaio, Candido reconhece perceber uma atitude de mudança, por parte dos
teóricos e dos críticos, na constituição do método, qual seja, o do estudo do elemento social na
obra não mais como uma relação de condicionamento meio-obra (sendo a obra, desta forma,
uma ilustração de determinadas dinâmicas sociais), mas numa perspectiva de “interiorização”
do elemento social como elemento estruturador da obra.
A sociocrítica, por seu turno, ensaiaria devolver à obra literária seu estatuto artístico,
pois pretende estudar o texto em si, incluindo aí os juízos de valor e o exame dos discursos
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 18
associados a determinadas ideologias. Por outro lado, a sociocrítica não ficou livre da ressalva
de ser, em alguns momentos, uma leitura imanentista que procura examinar a presença da
representação de certas práticas sociais, só colocando perifericamente a relação da obra com
determinado momento histórico-social.
Se todas estas leituras vinculadas à sociologia, legítimas em suas bases, como quaisquer
outras leituras, colocam problemas, deve-se ao fato de que talvez nenhuma leitura deva requerer
para si o estatuto de explicação da totalidade da obra. Porém todas estas leituras dão uma idéia
dos rumos tomados, e por tomar, numa pesquisa que pretenda considerar as relações existentes
entre literatura e sociedade.
Há também que se considerar que a construção de modelos de análise podem encontrar
a facilidade das generalizações teóricas, mas também podem encontrar a dificuldade de
confrontação com obras ou autores específicos, dada a complexidade e a pluralidade de discursos
presentes nas obras. E, neste caso, para suprir esta dificuldade, recorre-se ao recorte teórico
como forma de superar as limitações dos métodos.
Antonio Candido, no já referido ensaio, observa que é possível um tipo de análise que
possa conjugar os fatores sociais e a realização literária, sem desconsiderar os dados estéticos das
obras específicas, ainda mais quando o estudioso tenta identificar qual o papel daqueles fatores
na conformação da estrutura interna das obras. Ampliando este pensamento, consideramos
a possibilidade de esta perspectiva de estudo ser enriquecida por uma investigação do papel
exercido pelas obras na sociedade, o que demandaria também uma reflexão sobre a recepção
destas obras nos diversos circuitos de leitura. Contemplar as diversas instâncias da criação
literária (sociedade, autor, obra, leitor), antes de ser uma tarefa, poder vir a ser uma possibilidade
de reconsideração do método.
Notas Bibliográficas
1
Comentando as relações entre literatura e sociedade, Wellek afirma que “a literatura ‘representa’
a ‘vida’: e a vida é, em larga medida, uma realidade social, não obstante o mundo da Natureza e
o mundo interior ou subjetivo do indivíduo terem sido, também, objeto de `imitação literária’”.
In: WELLEK, René; WARREN, Austin. Teoria da literatura. 2. ed. Lisboa: Publicações Europa-
América, 1971. p. 117.
2
Auerbach escreveu um livro de ensaios que explica as mudanças, ao longo da história da
literatura ocidental, nas perspectivas (ou maneiras) de a literatura representar a realidade,
tomando por base para seu estudo alguns dos maiores clássicos da literatura ocidental. Cf.:
AUERBACH, Erich. Mimesis; A representação da realidade na literatura ocidental. São Paulo:
Perspectiva, 1976.
3
Coutinho, ao conceituar a literatura, afirma: “O literário ou o estético inclui precisamente o
social, o histórico, o religioso, etc. (...) A literatura, como toda arte, é uma transfiguração do
real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as
formas que são os gêneros e com os quais ela toma corpo e nova realidade”. In: COUTINHO,
Afrânio. Crítica e Teoria Literária. Fortaleza: EUFC, 1987. p. 728.
4
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: Estudos de teoria e história literária. 8.ed. São
Paulo: T. A. Queiroz Editor, 2002.
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 19
5
Utilizamos aqui a expressão no plural por não estarmos convencidos de que a abordagem que
costuma ser nomeada como “sociologia da literatura” se restrinja a uma proposta metodológica
única e estanque.
6
Cf. o capítulo “Digressão histórica”, in: RICCIARDI, Giovanni. Sociologia da literatura.
Lisboa: Publicações Europa-América, 1971. p. 11-39; bem como o capítulo, “Pourquoi une
sociologie de la littérature”, in: SCARPIT, Robert. Sociologie de la littérature. 3ème éd. Paris:
Presses Universitaires de France, 1964. p. 5-16.
7
Cf. TADIÉ, Jean-Yves. Sociologia da literatura. In: A crítica literária no século XX. Trad.
Wilma Freitas Ronald de Carvalho. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1992. p. 163.
8
Cf. BARBÉRIS, Pierre. A sociocrítica. In: BERGEZ, Daniel et alii. Métodos críticos para a
análise literária. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p. 143-182.
9
Staël teria eleito as categorias “Zeitgeist, esprit d’époque, et Volksgeist, esprit national” como
fonte primordial para a compreensão do sistema literário de um determinado país ou de um
determinado povo. Cf. ESCARPIT, Robert. Op. cit. p. 8.
10
Staël observa que, ao contrário do que uma teorização histórico-social podia deixar entrever,
anseios diferentes daqueles que poderiam ou deveriam advir de uma determinada mudança
histórico-social condicionariam o surgimento de uma literatura que respondesse a estes anseios
diferentes (e inesperados), e não aos anseios que supostamente seriam a conseqüência de um
determinado abalo social (e neste caso deve-se acrescentar que ela estava considerando a
Revolução Francesa e seus desdobramentos). Cf. BARBÉRIS, Pierre. Op. cit. p. 155.
11
Lucien Goldmann, em seu ensaio Le dieu caché (1956), retoma, sob ponto de vista diverso,
a discussão sobre o teatro de inspiração neoclássica no século XVII enquanto visão trágica de
seu tempo, conforme o último capítulo de seu estudo, “La vision tragique dans le théatre de
Racine”.
12
In: BARBÉRIS, Pierre. Op. cit. p. 150-153.
13
Trata-se do ensaio Théorie du pouvoir politique et religieux dans la société civile, démontré
par le raisonnement et par l’histoire. Cf. RICCIARDI, Giovanni. Op. cit. p. 109.
14
. Cf. BARBÉRIS, Pierre. Op. cit. p. 156-158.
15
Segundo Pierre Barbéris, com a publicação de La Fontaine et ses fables, estas reflexões sobre
as três categorias defendidas por Taine estariam na pauta do dia das discussões literárias. In: Id.
Ib. p. 159.
16
LUKÁCS, Georg. A teoria do romance; Um ensaio histórico filosófico sobre as formas
da grande épica. Trad., posfácio e notas José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Duas
Cidades/Editora 34, 2000. p. 7-19.
17
GOLDMANN, Lucien. A sociologia na literatura: status e problemas de métodos. In: Crítica
e dogmatismo na cultura moderna. Trad. Reginaldo e Clélia di Piero. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1973. p. 43.
Cf. RICCIARDI, Giovanni. Perspectivas operacionais. In: Op. cit. p. 71-100; CANDIDO,
18
Antonio. Crítica e sociologia. In: Op. cit. p. 3-15.
19
LIMA, Luiz Costa. A análise sociológica. In: Teoria da literatura em suas fontes. Vol. II. 2.
ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. p. 105.
Entrelaces • Agosto de 2007 • p. 20
Você também pode gostar
- Ebook ArquetiposDocumento30 páginasEbook ArquetiposDiego de Moraes78% (9)
- Apostila de AlfabetizaçãoDocumento80 páginasApostila de AlfabetizaçãoLarissaCampos100% (9)
- Woody Allen GodDocumento42 páginasWoody Allen GodCaio FornasariAinda não há avaliações
- Investigações LógicasDocumento440 páginasInvestigações LógicasMônica Saldanha DalcolAinda não há avaliações
- Cálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinNo EverandCálculo & Jogo: metáforas para a linguagem na filosofia de Ludwig WittgensteinAinda não há avaliações
- Resumo Ser e o NadaDocumento2 páginasResumo Ser e o NadaSabrina DâmasoAinda não há avaliações
- Exercícios Sobre Os Elementos Da Comunicação - Doc - 1Documento4 páginasExercícios Sobre Os Elementos Da Comunicação - Doc - 1Tatiana Monteiro67% (3)
- Perguntas BatizadoDocumento2 páginasPerguntas Batizadosyl3100% (7)
- O Amor Na Histeria 1Documento18 páginasO Amor Na Histeria 1Allana DiasAinda não há avaliações
- Resenha BakhtinDocumento6 páginasResenha BakhtinMaria Jose da SilvaAinda não há avaliações
- O Poder Do Ritual (Livreto)Documento35 páginasO Poder Do Ritual (Livreto)Alfredo Luiz Costa100% (1)
- ARISTÓTELES, Metafisica I II III Alpha Beta (Trad. e Comentários Angioni)Documento72 páginasARISTÓTELES, Metafisica I II III Alpha Beta (Trad. e Comentários Angioni)Ana SilvaAinda não há avaliações
- Teste Poesia 5º Fevereiro 15Documento5 páginasTeste Poesia 5º Fevereiro 15Sérgio MarquesAinda não há avaliações
- Ricardo Benzaquen de Araújo - Totalitarismo e RevoluçãoDocumento59 páginasRicardo Benzaquen de Araújo - Totalitarismo e RevoluçãopedrollimaAinda não há avaliações
- Aula 10 - CFW - Do PactoDocumento2 páginasAula 10 - CFW - Do PactoLaura E Ricardo Cardoso100% (1)
- A estética literária de Graciliano Ramos em Angústia (1936)No EverandA estética literária de Graciliano Ramos em Angústia (1936)Ainda não há avaliações
- Millot2 - Freud o AntipedagogoDocumento4 páginasMillot2 - Freud o AntipedagogoJosiane BartholomeuAinda não há avaliações
- Foucault D23 Lacan Subjetividade e PsicoseDocumento14 páginasFoucault D23 Lacan Subjetividade e PsicoseLilia JanbartolomeiAinda não há avaliações
- Brait Olhar e LerDocumento23 páginasBrait Olhar e Lerreinas79Ainda não há avaliações
- AS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS DE PROJEÇÃO EM TEXTOS ACADÊMICOSNo EverandAS RELAÇÕES LÓGICO-SEMÂNTICAS DE PROJEÇÃO EM TEXTOS ACADÊMICOSAinda não há avaliações
- O Conto Popular - O CarvoeiroDocumento2 páginasO Conto Popular - O Carvoeiroguiduxaguiduxa100% (1)
- A Filosofia Como Terapia Gramatical Segundo WittgensteinDocumento23 páginasA Filosofia Como Terapia Gramatical Segundo WittgensteinLuke CarricondeAinda não há avaliações
- Aula 04 - Texto - O Legado de Fabio Herrmann - A Teoria Dos CamposDocumento17 páginasAula 04 - Texto - O Legado de Fabio Herrmann - A Teoria Dos Camposmarcelo_paoliAinda não há avaliações
- DURKHEIM - Educação e Sociologia - Cap 1Documento13 páginasDURKHEIM - Educação e Sociologia - Cap 1Jersey OliveiraAinda não há avaliações
- Os Leopardos de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa e Luchino ViscontiDocumento103 páginasOs Leopardos de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa e Luchino ViscontiRosário BeatoAinda não há avaliações
- Um Artista No Trapézio, de KafkaDocumento2 páginasUm Artista No Trapézio, de KafkaPaulu D. RosárioAinda não há avaliações
- Trabalho de IELP IIDocumento16 páginasTrabalho de IELP IIAdriano PequenoAinda não há avaliações
- O Dever de Interpretar - 6 Observações - Agnès AflaloDocumento4 páginasO Dever de Interpretar - 6 Observações - Agnès AflaloDouglas Cavalcante100% (1)
- O SIMBÓLICO, O IMAGINÁRIO E O REAL - J LacanDocumento15 páginasO SIMBÓLICO, O IMAGINÁRIO E O REAL - J LacanFernando BassoAinda não há avaliações
- Hegel No Espelho Do DR Lacan Paulo ArantesDocumento27 páginasHegel No Espelho Do DR Lacan Paulo ArantesRenato Vieira FilhoAinda não há avaliações
- O Sujeito em QuestaoDocumento350 páginasO Sujeito em QuestaocrisforoniAinda não há avaliações
- Por Que Lacan Disse Que o Sujeito É o Que Um Significante Representa para Outro SignificanteDocumento5 páginasPor Que Lacan Disse Que o Sujeito É o Que Um Significante Representa para Outro Significantepaulo ricardoAinda não há avaliações
- Resenha PauloHBritto VésperaDocumento14 páginasResenha PauloHBritto VésperaAndré CapiléAinda não há avaliações
- Sidi Askofaré - O Amor DesmetaforizadoDocumento11 páginasSidi Askofaré - O Amor Desmetaforizadomarcelo-vianaAinda não há avaliações
- Aurea Maria Lowenkron Piera Aulagnier - Teoria e Clinica - IntroducaoDocumento16 páginasAurea Maria Lowenkron Piera Aulagnier - Teoria e Clinica - IntroducaoSamara FernandesAinda não há avaliações
- RESUMO. Os Gêneros Do Discurso. Texto Do Fiorin. (Ismael Alves)Documento1 páginaRESUMO. Os Gêneros Do Discurso. Texto Do Fiorin. (Ismael Alves)Ismael AlvesAinda não há avaliações
- Pulsao e Sublimaçao A Trajetória Do Conceito Possibilidades e Limites PDFDocumento14 páginasPulsao e Sublimaçao A Trajetória Do Conceito Possibilidades e Limites PDFLeandro Santos FrancoAinda não há avaliações
- Jacques Alain Miller - Sintoma e FantasmaDocumento14 páginasJacques Alain Miller - Sintoma e FantasmaCássia FernandesAinda não há avaliações
- Fichamento MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema NarrativoDocumento4 páginasFichamento MULVEY, Laura. Prazer Visual e Cinema NarrativoLetícia LimaAinda não há avaliações
- Seabra - Resumo para A Prova de Latim II PDFDocumento3 páginasSeabra - Resumo para A Prova de Latim II PDFkaka-zitaAinda não há avaliações
- A Vontade HumanaDocumento18 páginasA Vontade HumanaGabriel VitorAinda não há avaliações
- As Frases Sem TextoDocumento4 páginasAs Frases Sem TextoAndre WilliamAinda não há avaliações
- História Dos Conceitos e História Dos Discursos - Algumas Considerações PDFDocumento12 páginasHistória Dos Conceitos e História Dos Discursos - Algumas Considerações PDFEstêvão FreixoAinda não há avaliações
- Sentido e Referência em FregeDocumento10 páginasSentido e Referência em FregeGabriel GuedesAinda não há avaliações
- Relacionando As Teorias de Carl Rogers Com o Filme Sociedade Dos Poetas MortosDocumento7 páginasRelacionando As Teorias de Carl Rogers Com o Filme Sociedade Dos Poetas MortosgutosantanaAinda não há avaliações
- Kathrin Rosenfield KantDocumento6 páginasKathrin Rosenfield KantPedro AlvesAinda não há avaliações
- Marcadores Discursivos e Efeitos de SentidoDocumento15 páginasMarcadores Discursivos e Efeitos de SentidoMaurício de CarvalhoAinda não há avaliações
- Charadeau - A Patemização Na Televisão Como Estratégia de AutenticidadeDocumento17 páginasCharadeau - A Patemização Na Televisão Como Estratégia de AutenticidadetrimegAinda não há avaliações
- Saussure-Introdução À Leitura deDocumento4 páginasSaussure-Introdução À Leitura dePaulo FinkelAinda não há avaliações
- Psicodrama EmpresarialDocumento4 páginasPsicodrama EmpresarialMARCIA GABRIELAinda não há avaliações
- (ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaDocumento19 páginas(ARTIGO) TEIXEIRA, Lucia. A Pesquisa em SemióticaAnaAinda não há avaliações
- O 1° e o 2° WittgensteinDocumento58 páginasO 1° e o 2° WittgensteinKamillaPinheiroAinda não há avaliações
- Arte e ResponsabilidadeDocumento1 páginaArte e ResponsabilidadeVanessa Pansani VianaAinda não há avaliações
- A Linguagem Como Manifestação Do Ser em Heidegger, Nito Luis MagessoDocumento5 páginasA Linguagem Como Manifestação Do Ser em Heidegger, Nito Luis Magessoluis magessoAinda não há avaliações
- Filosofia AfricanaDocumento7 páginasFilosofia AfricanaBenru SeyerAinda não há avaliações
- A Situação Social de Desenvolvimento e As Neoformações Da ConsciênciaDocumento20 páginasA Situação Social de Desenvolvimento e As Neoformações Da ConsciênciaSérgio DarwichAinda não há avaliações
- Platão e Lacan - o Amor Entre A Completude e A FaltaDocumento10 páginasPlatão e Lacan - o Amor Entre A Completude e A FaltaStephany Rodrigues CarraraAinda não há avaliações
- Rascunho Do Artigo de Lit Port IIDocumento5 páginasRascunho Do Artigo de Lit Port IIRegina SampaioAinda não há avaliações
- Texto para BakhtinDocumento4 páginasTexto para BakhtinPaulo VictorAinda não há avaliações
- A Argumentação Oral Formal em Contexto Escolar PDFDocumento416 páginasA Argumentação Oral Formal em Contexto Escolar PDFcarlabertulezaAinda não há avaliações
- Metzger Sublimação No Ensino de LacanDocumento229 páginasMetzger Sublimação No Ensino de LacanLucas GuilhermeAinda não há avaliações
- Drumond Um Lugar VazioDocumento10 páginasDrumond Um Lugar VazioLenira XavierAinda não há avaliações
- A Linguística No Século XXDocumento3 páginasA Linguística No Século XXPablo ItaborayAinda não há avaliações
- Momento Num CaféDocumento12 páginasMomento Num CaféCárita Ferrari NegromonteAinda não há avaliações
- O Silêncio Do Autor e o Lugar Do Analista PUBLICADODocumento9 páginasO Silêncio Do Autor e o Lugar Do Analista PUBLICADOclaudemirpedrosoAinda não há avaliações
- LEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãoDocumento49 páginasLEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãopoeticacontemporaneaAinda não há avaliações
- Ingo Voese PDFDocumento24 páginasIngo Voese PDFLeandro Wallace MenegoloAinda não há avaliações
- 16 Jauranice R C - O Leitor Modelo de EcoDocumento4 páginas16 Jauranice R C - O Leitor Modelo de EcoTaiane SantosAinda não há avaliações
- Celso Renno Sobre o TracoDocumento9 páginasCelso Renno Sobre o Tracoceciliabmota100% (1)
- Santo Agostinho IIIDocumento10 páginasSanto Agostinho IIIsmsaculfAinda não há avaliações
- Elis ReginaDocumento20 páginasElis ReginaluciocireneuAinda não há avaliações
- Exercício de Oração Subordinada e CoordenadaDocumento2 páginasExercício de Oração Subordinada e CoordenadaVanessaAinda não há avaliações
- Ajuda AP+ 2.1.0Documento18 páginasAjuda AP+ 2.1.0Rhanna Dayse MagalhaesAinda não há avaliações
- Tiago Amorim É Professor eDocumento5 páginasTiago Amorim É Professor eEsio LuisAinda não há avaliações
- Biblioteca Comunitária - ApresentaçãoDocumento11 páginasBiblioteca Comunitária - ApresentaçãomcmagaAinda não há avaliações
- Fotografia, Imagem e CriatividadeDocumento7 páginasFotografia, Imagem e CriatividadeKarla NoronhaAinda não há avaliações
- Análise de Imagens - Cidade Dos SonhosDocumento18 páginasAnálise de Imagens - Cidade Dos SonhosThiago Favaretto Tazinafo100% (1)
- A Terra de JesusDocumento2 páginasA Terra de JesusIsabel FelixAinda não há avaliações
- Plano de Ensino História ContemporâneaDocumento5 páginasPlano de Ensino História ContemporâneabraparenciasAinda não há avaliações
- Demonstrativo - Desenho Tecnico PDFDocumento30 páginasDemonstrativo - Desenho Tecnico PDFWillian Pinto da SilvaAinda não há avaliações
- Verbos Introdutores de DiálogoDocumento3 páginasVerbos Introdutores de DiálogoDina Duarte100% (2)
- UnidadewebrespostascomunicacaoeexpressaoDocumento41 páginasUnidadewebrespostascomunicacaoeexpressaoDenis ArrudaAinda não há avaliações
- A Ceia e A Nova AliançaDocumento5 páginasA Ceia e A Nova AliançaVictor CabralAinda não há avaliações
- Monografia Auditório Ibirapuera São PauloDocumento15 páginasMonografia Auditório Ibirapuera São PauloChris PrallAinda não há avaliações
- ANPUH.S20.62 - Fronteiras Da Ficção - Diálogos Da História Com A Literatura PDFDocumento15 páginasANPUH.S20.62 - Fronteiras Da Ficção - Diálogos Da História Com A Literatura PDFMatheus GaudardAinda não há avaliações
- Letras Cifradas - Ascensão Do SenhorDocumento4 páginasLetras Cifradas - Ascensão Do Senhorwil_vgaAinda não há avaliações
- Livro Maria, Mãe Da HumanidadeDocumento16 páginasLivro Maria, Mãe Da HumanidadeLoja Virtual Canção NovaAinda não há avaliações
- Ficha TextoDocumento5 páginasFicha TextoHelena Cristina FilipeAinda não há avaliações
- Objectivos ClassicismoDocumento5 páginasObjectivos ClassicismoGonçalo SilvaAinda não há avaliações