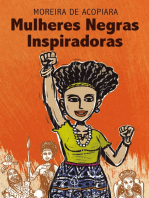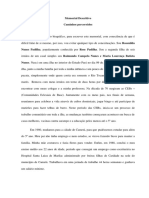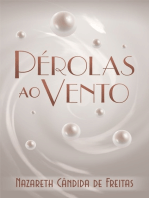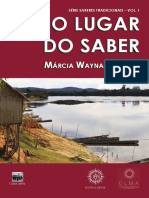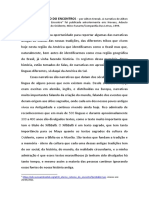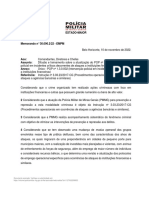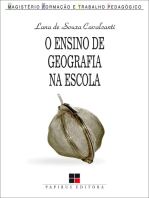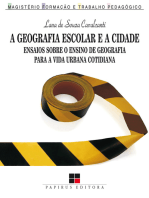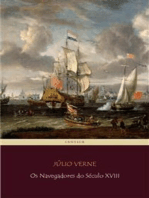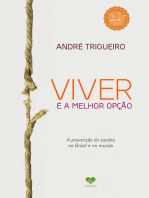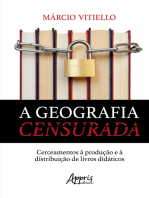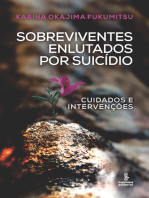Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Perfil - Artemisa Xakriabá
Enviado por
EDNA DOS SANTOS GOMES0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
65 visualizações3 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
65 visualizações3 páginasPerfil - Artemisa Xakriabá
Enviado por
EDNA DOS SANTOS GOMESDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
PERFIL BIOGRÁFICO
Adaptação do texto de Flávia Martinelli, publicado em 25/10/2019.
Artemisa Xakriabá tem 19 anos e o nome emprestado de
uma pedra preciosa das terras de sua aldeia – e também em
homenagem a uma locutora de rádio adorada por seus pais. A
jovem indígena do povo Xakriabá, etnia que vive em São João
das Missões, no norte de Minas Gerais, luta pela manutenção da
demarcação de suas terras. Um povo sobrevivente que guarda na
memória histórias de violência. "Em 1987, o nosso cacique
Rosalino Gomes foi assassinado por grileiros. Ainda é muito
doloroso, e o que aconteceu com a gente acontece com muitos
povos indígenas", conta. Artemisa toca violão, canta e é líder da
Juventude Indígena Brasileira. Há um mês esteve na sede da
ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York, para
participar da Cúpula do Clima. Estava entre os mais de 500
jovens, de 140 países, que ocuparam a entidade pela primeira
vez para se manifestar sobre as condições climáticas do planeta.
Também foi a primeira vez que Artemisa andou de trem, viajou
de avião e saiu do país.
LGBT apesar de todo o preconceito, ela se surpreendeu por receber o apoio de um membro Xakriabá
de mais de 80 anos de idade. Ele a orientou a se abrir com a família e foi o que Artemisa fez. "Nós,
jovens, precisamos ser ouvidos sobre assuntos que afetam o presente e o futuro de todos."
Ela conta que é ativista desde os 7 anos, quando participou de um reflorestamento de nascentes
dentro do território dos Xakriabás, comunidade de 12 mil indígenas onde morou até os 16 anos. Hoje, vive
em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde se prepara para o vestibular. Quer ser psicóloga para ajudar
seu povo, que sofre com altas taxas de suicídio. "Qualquer curso que eu fizesse, faria pelo território. Cresci
sabendo da importância do nosso povo."
Lá no território o ensino é diferente. No ensino fundamental a gente só aprende geografia, história ou
ciências e tudo é voltado para a cultura indígena e o povo Xakriabá. Nunca na vida imaginava que tinha
acontecido a primeira e a segunda guerra mundiais! A geografia não é conhecer hectares do mundo, mas
conhecemos cada lugar do nosso território. E sabemos muito sobre plantas medicinais e nossa cultura.
Na escola, onde aprendi sobre a chacina que aconteceu conosco em 1987. Os fazendeiros chegaram
no território, mataram meu cacique e alguns indígenas. É uma coisa que dói na gente até hoje. A gente fazia
teatro sobre isso. Eu gostava de interpretar o filho do cacique, o Zé Nunes. Ele, criança, teve que arrastar o
pai. Sempre me perguntava de onde ele tirou forças. Zé viu todos os acontecimentos: a mãe baleada no
braço, o pai jogado no chão com um tiro no peito… Outras vezes interpretei o Rosalino, o cacique.
Quis estudar fora porque em São João das Missões não tinha curso preparatório para o vestibular. Foi
quando aconteceu de meus pais se separarem, uma tia que também queria estudar foi para Ribeirão Preto e
fui com ela e minha irmã de consideração, mais velha. Ela passou na universidade em Santa Maria, no Rio
Grande do Sul, e agora moro com minha mãe na cidade. Vou fazer o vestibular para Psicologia esse ano,
estou fazendo cursinho.
Eu falo o português e um pouco de portunhol. Mas a gente tem a nossa própria língua nativa que é a
akwê. Consigo conversar com pessoas que falam o básico. Infelizmente são os mais velhos que falam bem
nossa língua nativa. Os mais jovens foram perdendo um pouco do costume. Na escola ensinam músicas na
língua akwê, em determinada idade você aprende os cumprimentos, como falar com os mais velhos. Mas a
gente aprende o português também, a matemática. E isso vai dividindo espaço com a cultura nativa. Tá sendo
uma formação ainda, de procurar saber mais sobre a cultura do povo Xakriabá, principalmente sobre a
língua. Já vi muitas pessoas falando que a língua é coisa mais importante dos povos indígenas, mas para mim
é a luta. Com luta a gente resgata a língua, a cultura, o próprio conhecimento e identidade. Lutamos por uma
resistência, por uma sobrevivência. A luta é o principal da cultura dos povos indígenas.
Só quando a gente sai do território conhece o mundo. É difícil. Ainda não me adaptei totalmente à
cidade. Adoeço muito, fico gripada rápido e já tive falta de ar. Estava acostumada a outro clima, com as
épocas. Na cidade é estranho: uma hora está chovendo, outra está calor, no outro dia faz frio e depois vem
sol. É bagunçado. E tem as pessoas. Como vivia em um mundo mais isolado, não conhecia ninguém, só os
nossos parentes, os nossos familiares. Eu tinha medo. Se eu não te conhecesse, não falaria contigo, sairia
correndo. Na cidade, comecei a trabalhar num restaurante, tive oportunidade de perder um pouco esse medo
e conversar com os clientes, com os funcionários, aí fui aprendendo.
As pessoas vêm falar "ah, para com isso que você é índia de mentira, você nem tem cor". Falam
pessoalmente, não só pela internet. Depois de ir à ONU, um vídeo circulou na internet e li o comentário de
uma moça que disse "eu só acredito se tiver a carteirinha do índio", outro falou "índia de Taubaté". Eu me
abalo e isso adoece. Procuro ensinar à minha irmã mais nova, de 12 anos, a importância da nossa cultura.
Falo para ela não se abalar e se proteger de comentários. Um exemplo: ela tem a ponta dos cabelos loiros e
as pessoas falam "onde já se viu uma índia loira?". Por ter a pele mais escura que a minha falam "você só
tem cor, não tem cultura, não tem nada". Uma vez eu a pintei e as pessoas disseram: "é uma criança de 12
anos e tá com tatuagem?". Não respeitam a nossa identidade. Não respeitam nada. Fui na escola dela dar uma
palestra para entenderem nossa cultura. Isso deveria ser ensinado em todo o país.
Sobre ser LGBT e o processo de descobrimento... Eu ainda estou em processo. Aos 12 anos percebi
mas achava que era errado. A família do meu pai é religiosa, então eu também cresci com essa parte católica,
a gente ia pra missa, participava, vivia naquele mundinho que era só nosso. Por mais que eu tivesse um olhar
diferente, eu falava "meu Deus, isso não pode. Eu não vou pro céu". Por isso que eu falo que quando eu saí
do território e fui pra cidade a minha cabeça se abriu. Ao conhecer um pouco sobre a cultura LGBT, sabia
que iria enfrentar os mesmos problemas e foi aí que eu falei "eu tenho que me libertar disso". Contei pra
minha família. Muitas pessoas do território têm preconceito porque tem a mente muito fechada. Nós levamos
debates sobre o suicídio, sobre a visibilidade da mulher indígena, sobre o feminicídio, genocídio, mas a
comunidade LGBT é um dos temas mais críticos.
Já tive o pensamento de "será que eu não sou uma vergonha pro meu povo por ser indígena e ser da
comunidade LGBT?" e isso chegou no ouvido das minhas lideranças e eu fiquei com medo. Mas foi quando,
de maneira surpreendente, recebi o acolhimento de uma pessoa de 80 e poucos anos, dizendo que eu tenho
que ser feliz, que se Deus me fez desse jeito eu tenho que ser assim. E disse que se eu não tiver um apoio na
minha família eu tenho um apoio na casa dele. O peso que estava nas minhas costas desapareceu e eu me
senti confiante.
Xakriabá é onde me sinto viva. Sempre vou lembrar do fundo da casa da minha avó onde a gente
cortava cipó para brincar. Aldeia, pra mim e para o povo que ainda está, é um lugar de vida. Lá, onde eu
coloco o pé descalço no chão, parece que alguma coisa me alivia. Não falo só da minha aldeia, mas do
território inteiro.
Fonte: https://mulherias.blogosfera.uol.com.br/2019/10/25/resistimos-desde-1500-diz-indigena-que-foi-a-onu-
proteger-a-amazonia. Acesso em 19/02/21. Adaptado.
Você também pode gostar
- Literatura Indigena ContemporaneaDocumento4 páginasLiteratura Indigena ContemporaneaWesley BatistaAinda não há avaliações
- Nativos Histórias e Lutas IndígenasDocumento79 páginasNativos Histórias e Lutas IndígenasdanyclarolimaAinda não há avaliações
- Memorial DescritivoDocumento5 páginasMemorial DescritivoRose PadilhaAinda não há avaliações
- FRAN BANIWA 2020 Minha Escrevivência, Experiências Vividas e DiálogoDocumento8 páginasFRAN BANIWA 2020 Minha Escrevivência, Experiências Vividas e DiálogoJanine MonteiroAinda não há avaliações
- (TCC) - DONA JOCA Essa e A Minha FilosofiaDocumento20 páginas(TCC) - DONA JOCA Essa e A Minha FilosofiaBeatriz BorgesAinda não há avaliações
- Dona Fiota - Jos Bessa FreireDocumento4 páginasDona Fiota - Jos Bessa FreireFELIPE RODRIGUES DE ARAUJOAinda não há avaliações
- Entrevista Palmares Valdina PintoDocumento9 páginasEntrevista Palmares Valdina PintoPretaPreciosaAinda não há avaliações
- Entrevista XidiehDocumento16 páginasEntrevista XidiehKaroliny OliveiraAinda não há avaliações
- Reminiscências de um médico na convivência com índios da Amazônia durante 53 anos (1965 - 2018)No EverandReminiscências de um médico na convivência com índios da Amazônia durante 53 anos (1965 - 2018)Ainda não há avaliações
- Sequencia Didática Consciência NegraDocumento19 páginasSequencia Didática Consciência NegraAndreia MacielAinda não há avaliações
- Entrevista Agenor MirandaDocumento4 páginasEntrevista Agenor MirandaomileAinda não há avaliações
- Receber Sonhos - Entrevista Com Ailton Krenak (Teoria e Debate)Documento16 páginasReceber Sonhos - Entrevista Com Ailton Krenak (Teoria e Debate)Llama VicuñaAinda não há avaliações
- Ailton Krenak - TranscriptDocumento10 páginasAilton Krenak - TranscriptMárcio José Andrade da SilvaAinda não há avaliações
- Cartilha Relações Étnico-Raciais - Texto Base PDFDocumento7 páginasCartilha Relações Étnico-Raciais - Texto Base PDFThiago ArendAinda não há avaliações
- Marchar não é caminhar: interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africana no Rio de JaneiroNo EverandMarchar não é caminhar: interfaces políticas e sociais das religiões de matriz africana no Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Sequencia Didatica Consciencia Negra SidDocumento19 páginasSequencia Didatica Consciencia Negra SidPolilinhares100% (11)
- História e Cultura IndígenasDocumento26 páginasHistória e Cultura IndígenasStela Mari RibeiroAinda não há avaliações
- TRAJETÓRIA NA ARTE AFRO BRASILEIRA:CAMINHOS PELO JONGO DITO RIBEIRO. Julia MonteiroDocumento6 páginasTRAJETÓRIA NA ARTE AFRO BRASILEIRA:CAMINHOS PELO JONGO DITO RIBEIRO. Julia MonteiroJùjúAinda não há avaliações
- OlugardosaberDocumento68 páginasOlugardosaberJoão Melo100% (1)
- Mãe Agripina - Uma História No Candomblé Do BrasilDocumento13 páginasMãe Agripina - Uma História No Candomblé Do BrasilMetanoia Editora100% (2)
- Indígena Paraibana, Eliane Potiguara, É Indicada Ao Prêmio - CidadesDocumento6 páginasIndígena Paraibana, Eliane Potiguara, É Indicada Ao Prêmio - Cidadeskellyaraujo.sapAinda não há avaliações
- Ad - Diversidade Cultural 2021Documento40 páginasAd - Diversidade Cultural 2021Rosangela Silva VianaAinda não há avaliações
- Atividade para Impressao Introducao Do Livro Lpo4 02sqa02 PDFDocumento1 páginaAtividade para Impressao Introducao Do Livro Lpo4 02sqa02 PDFmariletras042Ainda não há avaliações
- Blogffmorais - Dia Nacional Da Consciência NegraDocumento5 páginasBlogffmorais - Dia Nacional Da Consciência Negrahttp://blogffmorais.blogspot.com/100% (1)
- Vozes NegrasDocumento16 páginasVozes NegrasJoice souzaAinda não há avaliações
- Africas e Afro-Brasileiros Nos Brinquedos e BrincadeirasDocumento8 páginasAfricas e Afro-Brasileiros Nos Brinquedos e BrincadeirasMilena FranceschinelliAinda não há avaliações
- De Povos Indígenas No BrasilDocumento14 páginasDe Povos Indígenas No BrasilRoberto SantanaAinda não há avaliações
- Ciclo 3 Antropologia Etica e CulturaDocumento3 páginasCiclo 3 Antropologia Etica e CulturaGuilherme RodriguesAinda não há avaliações
- ApresentaçãoDocumento14 páginasApresentaçãoProfe Suelen VillanovaAinda não há avaliações
- Jaminawa Do Caeté: Um Povo Tradicional em Busca de Terra e Saúde para Sobreviver No AcreDocumento2 páginasJaminawa Do Caeté: Um Povo Tradicional em Busca de Terra e Saúde para Sobreviver No AcrehunikuiAinda não há avaliações
- Dia Do ÍndioDocumento7 páginasDia Do ÍndioArturo Hortas FraileAinda não há avaliações
- Livro DARCY RIBEIRO DE CA E DE LA Autora Aurith 230710 173531Documento19 páginasLivro DARCY RIBEIRO DE CA E DE LA Autora Aurith 230710 173531Leidijane OliveiraAinda não há avaliações
- Pesquisa Sobre Folclore BrasileiroDocumento2 páginasPesquisa Sobre Folclore BrasileiroO T A V I O Z I NAinda não há avaliações
- Semana Do Indio PDFDocumento5 páginasSemana Do Indio PDFMATHEUS GOUVEIAAinda não há avaliações
- 74682-Texto Do Artigo-347943-1-10-20180630Documento8 páginas74682-Texto Do Artigo-347943-1-10-20180630Camila AlexandriniAinda não há avaliações
- 13 - de Incapaz A MestrandoDocumento8 páginas13 - de Incapaz A MestrandoHenrique PougyAinda não há avaliações
- Afroteca 1Documento40 páginasAfroteca 1promilenacarvalhoAinda não há avaliações
- Livro BIOMAS DO BRASIL 2017 Final PDFDocumento124 páginasLivro BIOMAS DO BRASIL 2017 Final PDFGustavo Henrique de OliveiraAinda não há avaliações
- O Ritual Do Fazedor de Cabeças IncompletoDocumento3 páginasO Ritual Do Fazedor de Cabeças IncompletoJulia KrassAinda não há avaliações
- Dona Ivone TrajetóriaDocumento122 páginasDona Ivone TrajetóriaAndré de MenezesAinda não há avaliações
- Tradicoes Negras e Politicas Brancas PDFDocumento101 páginasTradicoes Negras e Politicas Brancas PDFRafael CunhaAinda não há avaliações
- Marcelaansaloni, Palimpsesto20entrevista01Documento14 páginasMarcelaansaloni, Palimpsesto20entrevista01Maddox CircusAinda não há avaliações
- Atividade Pastoral Da Educacao AgostoDocumento8 páginasAtividade Pastoral Da Educacao AgostoDiogo GóesAinda não há avaliações
- Sugestões de Atividades P Tematica RacialDocumento14 páginasSugestões de Atividades P Tematica RacialFabiane MartinsAinda não há avaliações
- Povos Indígenas Do Rio Negro e A Educação Escolar Indígena - Gersem BaniwaDocumento343 páginasPovos Indígenas Do Rio Negro e A Educação Escolar Indígena - Gersem BaniwaisabelavsantosAinda não há avaliações
- 25 de Julho PoemasDocumento8 páginas25 de Julho PoemasAma Lia C LeitesAinda não há avaliações
- O Eterno Retorno Do Encontro - Ailton Krenak - OutputDocumento7 páginasO Eterno Retorno Do Encontro - Ailton Krenak - OutputJuliana CostaAinda não há avaliações
- Trabalho Final Chico (Atualizado)Documento4 páginasTrabalho Final Chico (Atualizado)Guilherme SalesAinda não há avaliações
- CHECK LIST Ferramentas EletricasDocumento1 páginaCHECK LIST Ferramentas EletricasLevy RodriguesAinda não há avaliações
- Memorando 30.090.2-22 - EMPM - Difusão e Treinamento Sobre A Atualização Do POP Nº 1.3.0.002Documento28 páginasMemorando 30.090.2-22 - EMPM - Difusão e Treinamento Sobre A Atualização Do POP Nº 1.3.0.002Lucimar AlvesAinda não há avaliações
- Regulamento 0202102216Documento8 páginasRegulamento 0202102216Arthur oAinda não há avaliações
- Reserva de EmergênciaDocumento26 páginasReserva de EmergênciaFelipe CoutoAinda não há avaliações
- Reforma 21 - Uma Surpreendente Obra de DeusDocumento4 páginasReforma 21 - Uma Surpreendente Obra de DeusMuriel MuniqueAinda não há avaliações
- Mês Dos Tênis TricaeDocumento1 páginaMês Dos Tênis TricaeDavid AndradeAinda não há avaliações
- Indicações de Livros - Maratona - Bruna BotelhoDocumento5 páginasIndicações de Livros - Maratona - Bruna BotelhoCintia Campos100% (1)
- O Caso Da Cracolândia: Os Processos de HigienizaçãoDocumento4 páginasO Caso Da Cracolândia: Os Processos de HigienizaçãoCleiton AlcantaraAinda não há avaliações
- Como Fazer Uma Prescrição VeterináriaDocumento35 páginasComo Fazer Uma Prescrição VeterináriaLarissa De MeloAinda não há avaliações
- 2017 MS (Diretrizes Nacionais de Assistência Ao Parto Normal)Documento53 páginas2017 MS (Diretrizes Nacionais de Assistência Ao Parto Normal)Johnata SpindolaAinda não há avaliações
- Noções Da Lei 8112-90 Facil de Entender Comentários e ExerciciosDocumento105 páginasNoções Da Lei 8112-90 Facil de Entender Comentários e Exerciciosretunes5881Ainda não há avaliações
- Md-Lote 13 Qdra 8Documento3 páginasMd-Lote 13 Qdra 8Vvmp MattosAinda não há avaliações
- Livro - Polícias e Sociedades Na Europa - IntroduçãoDocumento35 páginasLivro - Polícias e Sociedades Na Europa - Introduçãojonasadm8666Ainda não há avaliações
- 5 Ano16cDocumento80 páginas5 Ano16cGrasielle Pardinho Rodrigues de AguiarAinda não há avaliações
- Patologia Atividade Demonstrativa Citologia Cervico VaginalDocumento2 páginasPatologia Atividade Demonstrativa Citologia Cervico VaginaldaniellyAinda não há avaliações
- História e Geografia de BayeuxDocumento18 páginasHistória e Geografia de Bayeuxpaulo sudbcAinda não há avaliações
- Fest Valda - Reg PDFDocumento6 páginasFest Valda - Reg PDFJoão Soüza BrujahAinda não há avaliações
- Programa de Disciplina - Introdução Ao JornalismoDocumento2 páginasPrograma de Disciplina - Introdução Ao JornalismoThales Vilela LeloAinda não há avaliações
- (20200900-PT) Jornal Das Oficinas 178 PDFDocumento112 páginas(20200900-PT) Jornal Das Oficinas 178 PDFIvo SoaresAinda não há avaliações
- O Que É TEOFANIA - Portal Da Teologia PDFDocumento9 páginasO Que É TEOFANIA - Portal Da Teologia PDFInstituto Teológico GamalielAinda não há avaliações
- Folder Limites PFDocumento1 páginaFolder Limites PFJuliana da MataAinda não há avaliações
- 2 - Michael Stolleis - Escrever História Do Direito Reconstrução, Narrativa Ou Ficcão Pages 12 - 19Documento6 páginas2 - Michael Stolleis - Escrever História Do Direito Reconstrução, Narrativa Ou Ficcão Pages 12 - 19Ativa MenteAinda não há avaliações
- Apostila FinanceiroDocumento50 páginasApostila FinanceiroFabricio Gomes da silvaAinda não há avaliações
- Caça Ao Tesouro Na Bíblia - o Jovem RicoDocumento3 páginasCaça Ao Tesouro Na Bíblia - o Jovem RicoRafael Barbosa100% (1)
- UntitledDocumento3 páginasUntitledCalma BetteAinda não há avaliações
- Discursos SacramentalDocumento6 páginasDiscursos SacramentalDiogenesjfsAinda não há avaliações
- Proposta de Redação #02 PDFDocumento2 páginasProposta de Redação #02 PDFDanilo RiotintoAinda não há avaliações
- O Que São As Cinco Impurezas Da VidaDocumento3 páginasO Que São As Cinco Impurezas Da VidaDanilo Paniz SchmidtAinda não há avaliações
- Jurisprudência - Penhora de Título - Processo de Execução LeticiaDocumento5 páginasJurisprudência - Penhora de Título - Processo de Execução LeticiaJoao Vitor SepulvedaAinda não há avaliações
- A Relação Entre As CulturasDocumento4 páginasA Relação Entre As CulturasFrancisco LopesAinda não há avaliações
- Desconstruindo a Web: As tecnologias por trás de uma requisiçãoNo EverandDesconstruindo a Web: As tecnologias por trás de uma requisiçãoAinda não há avaliações
- A Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNo EverandA Geografia escolar e a cidade: Ensaios sobre o ensino de geografia para a vida urbana cotidianaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Progressive Web Apps: Construa aplicações progressivas com ReactNo EverandProgressive Web Apps: Construa aplicações progressivas com ReactNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Net-ativismo: Redes digitais e novas práticas de participaçãoNo EverandNet-ativismo: Redes digitais e novas práticas de participaçãoAinda não há avaliações
- Educação e tecnologias: O novo ritmo da informaçãoNo EverandEducação e tecnologias: O novo ritmo da informaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (2)
- Informação é Prata, Compreensão é OuroNo EverandInformação é Prata, Compreensão é OuroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (5)
- Marketing Político Digital: Como Construir uma Campanha VencedoraNo EverandMarketing Político Digital: Como Construir uma Campanha VencedoraNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- A Geografia Censurada: Cerceamentos à Produção e à Distribuição de Livros DidáticosNo EverandA Geografia Censurada: Cerceamentos à Produção e à Distribuição de Livros DidáticosAinda não há avaliações
- Não me faça dormir: O manual para você vender todos os dias usando a InternetNo EverandNão me faça dormir: O manual para você vender todos os dias usando a InternetNota: 4 de 5 estrelas4/5 (12)
- Análise técnica de uma forma simples: Como construir e interpretar gráficos de análise técnica para melhorar a sua actividade comercial onlineNo EverandAnálise técnica de uma forma simples: Como construir e interpretar gráficos de análise técnica para melhorar a sua actividade comercial onlineNota: 4 de 5 estrelas4/5 (4)
- Atenção: o maior ativo do mundo: O caminho mais efetivo para ser conhecido, gerar valor para seu públicoNo EverandAtenção: o maior ativo do mundo: O caminho mais efetivo para ser conhecido, gerar valor para seu públicoNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (8)
- Sobreviventes enlutados por suicídio: Cuidados e intervençõesNo EverandSobreviventes enlutados por suicídio: Cuidados e intervençõesNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (4)
- Sociedade.com: Como as tecnologias digitais afetam quem somos e como vivemosNo EverandSociedade.com: Como as tecnologias digitais afetam quem somos e como vivemosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Vida, morte e luto: Atualidades brasileirasNo EverandVida, morte e luto: Atualidades brasileirasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Negócios digitais: Aprenda a usar o real poder da internet nos seus negóciosNo EverandNegócios digitais: Aprenda a usar o real poder da internet nos seus negóciosNota: 4 de 5 estrelas4/5 (3)
- Atlas Digital da Cartografia Histórica de Minas GeraisNo EverandAtlas Digital da Cartografia Histórica de Minas GeraisNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)