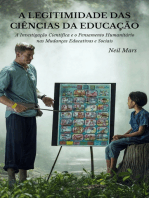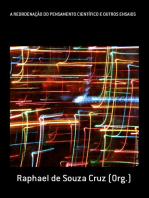Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Stengers - Resenha Sobre A Invenção Das Ciências - Piva
Enviado por
AnthonyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Stengers - Resenha Sobre A Invenção Das Ciências - Piva
Enviado por
AnthonyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
RESENHAS
ISABELLE STENGERS
A invenção das ciências modernas
Tradução de Max Altman. São Paulo: Editora 34, 2002. 208 p.
(Coleção Trans)
ADRIANA PIVA
Programa de Pós-graduação
Faculdade de Educação – UFMG
Desde seu início, as ciências teórico-experimentais vêm buscando afirmar sua especificidade e,
muitas vezes, sua superioridade, como forma de conhecimento. O século XX foi marcado por tentativas
de caracterização dessa singularidade, por meio principalmente dos estudos epistemológicos da tradição
demarcacionista. No entanto, nas últimas décadas dos novecentos surgiu uma crítica diferenciada que,
sob influência dos estudos culturais e situada nos domínios da sociologia da ciência, no lugar de buscar
a especificidade das ciências teórico-experimentais a elimina. A “denúncia” de que a atividade científica
estaria tão ligada ao poder, e aos interesses da política corriqueira como quaisquer outras práticas sociais,
parece ter ferido uma crença que nem mesmo as críticas radicais da ciência como tecnociência ou do
feminismo puderam alcançar. 163
Isabelle Stengers – filósofa e historiadora das ciências, conhecida no Brasil por sua obra escrita em
parceria com Ilya Prigogine, A nova aliança (UnB, 1997) –, contudo, em seu livro A invenção das ciências
modernas, parece espantar-se com tal escândalo, ou melhor, com a indiferença dos sociólogos da ciência
diante da reação indignada daqueles que são os seu “objeto” de análise. A abordagem sociológica coli-
de de frente com a concepção de ciência dos próprios cientistas e não se pergunta que implicações isso
pode ter para a atividade científica, ou ainda por que é tão importante para os cientistas preservar a noção
de autonomia. Para Stengers, essa indiferença dos sociólogos só pode ser devida a uma crença, também
deles, de que seu saber aproxima-os da verdade, dá-lhes o poder de julgar aqueles que estão submeti-
dos a sua análise. Também os sociólogos agem “em nome da ciência”, da verdade, mas não reconhecem
esta possibilidade aos cientistas experimentais.
Procurando, então, distanciar-se tanto dos que acreditam, quanto dos que combatem a idéia de
uma singularidade das ciências teórico-experimentais no interior da velha tensão entre saber e poder,
Stengers opta por um caminho que não seja, portanto, nem o da veneração nem o da denúncia, mas que
busque acompanhar o nascimento e a constante reinvenção dessa afirmativa de especificidade, a auto-
nomia da ciência. Para isso, coloca em funcionamento o “princípio de irredução”, ou seja, o recuo à pre-
tensão de saber e de julgar, “de desvendar ‘o mesmo’, acima das diferenças que dizem respeito somen-
te às vivências de seus atores” (p. 76), ,tal como o faz a sociologia, segundo a nossa autora. Para Stengers,
são as ciências políticas que poderiam lhe oferecer instrumentos para colocar em discussão a singulari-
dade das ciências, respeitando os seus agentes, tal como solicita a “restrição leibniziana”. Segundo esta
restrição, a filosofia não deveria desrespeitar os “sentimentos estabelecidos”, o que é assumido por
Stengers como a condição de pertinência da interpretação, sua responsabilidade de não obstruir o devir,
de modo que, no lugar de escandalizar e provocar raiva “em nome da ciência”, pertinente seria o enun-
ciado que possibilitasse a abertura dos sentimentos estabelecidos “àquilo que sua identidade estabeleci-
da os obriga a recusar, combater, desconhecer” (p. 26).
REVISTA DA SBHC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 163-165, jul./dez. 2004
Nesse sentido, parece-nos que Isabelle Stengers afirma que sua intenção é explorar as possibilidades
de utilização do registro político para descrever as ciências, associando razão científica à razão política, sem
se excluir desse registro, ou seja, levando em conta as conseqüências do que considera verdadeiro. Está em
jogo, aqui, o próprio projeto político a que Stengers se vincula, indicado sob o signo do riso de humor, ou
seja, a possibilidade de nos interessarmos pela ciência sem nos impressionarmos por ela; de colocar em dis-
cussão os sentimentos estabelecidos sem desrespeitá-los, mas preservando a possibilidade de abri-los,
quem sabe, para outros devires e, com isso, “complicar a vida do poder”. Diferentemente do riso irônico,
que contrapõe uma verdade à outra pretensamente mais lúcida e mais universal, identificado por Stengers
na leitura sociológica, ela não conseguiria reconhecer em si mesma a crença que denuncia no outro.
Essa discussão sobre as interpretações a respeito da ciência e a percepção da força exercida sobre elas
pela imagem que a própria ciência constrói de sua singularidade, para fazer valer suas verdades, constituem
o principal objeto de análise da primeira parte, “Explorando”, do livro de Stengers. Na segunda parte,
“Construindo”, a autora aprofunda a diferenciação entre as abordagens sociológica e política, reafirma sua
opção pela segunda e traz para sua discussão o conceito de “processo contingente”, enunciado por Deleuze
e Guattari em O que é filosofia?, possibilitando-a colocar a ciência sob o signo do acontecimento, ou seja,
como invenção passível de ser reinventada com outros dados – o que acontece, inclusive, a cada nova inter-
pretação – e, com isso, passível se sofrer uma renovação de sua própria identidade no interior do mesmo
processo que a originou, sem necessidade de recorrer à fundação de uma nova tradição. Aí está, parece-
nos, o grande ganho que a abordagem proposta por Stengers nos sinaliza.
Nesses termos, a autora, ao revisitar o acontecimento primordial das ciências modernas, o “caso
Galileu”, toma-o como tendo sido a invenção da possibilidade de se afirmar “isto é científico”, ou melhor,
de entender o conhecimento científico como singular, como um tipo de “ficção” especial que pode fazer
calar todas as outras ficções, graças à prática experimental de que dispõe. Todavia, a pretensão de fazer a
natureza falar, que o dispositivo experimental só realiza segundo determinadas variáveis selecionadas pelo
164 cientista, só é reconhecida se a comunidade científica reconhece também como pertinentes às tais variáveis
selecionadas. Para que seja reconhecida a autoridade do fenômeno encenado, entram em jogo, portanto,
duas questões políticas: a hierarquia entre as ciências, que facilita ou não tal reconhecimento; e a busca da
criação de interesse para além do laboratório, exigindo que o fenômeno encenado consiga responder aos
mais distintos interesses, sofrendo um inflacionamento de significados, para que seja aceito socialmente.
Assim, se as ciências não podem ser reduzidas a um simples exercício de poder, tampouco estiveram
livre dele no desenrolar de sua história. A política é parte intrínseca da atividade científica, o que não a torna
necessariamente menos pura ou passível de ser denunciada. Desse modo, tanto a abordagem sociológica
quanto a epistemológica são insuficientes. Especialmente quando se trata de compreender as operações
essencialmente políticas que constituem a elaboração tanto da totalidade dos discursos metodológicos – que
fazem esquecer seus autores – como dos juízos teóricos, que buscam se descolar das enunciações experi-
mentais que os originaram, tornando-os ambos generalizáveis por princípio, verdadeiras visões de mundo.
Tais operações políticas são uma forma dos cientistas possibilitarem que seus fatos-artefatos façam história
e tornem-se “verdadeiramente verdadeiros”, assegurando um espaço de expansão sem risco, ao destruir
aquilo que as ciências teórico-experimentais só entendem como não-ciência (p. 130 ss). Essa maneira dos
cientistas “fazerem história” solicita igualmente outros meios de se fazer história com os cientistas, a saber,
aqueles das ciências políticas que nos possibilitam perguntar como se constituiu tal poder, como determi-
nada verdade prevaleceu sobre outras possíveis, que nos permitam avaliar uma ciência segundo seu alcan-
ce e os efeitos a que visa.
Tratando-se de um processo contingente, passível de ser recomeçado com outros termos, faz-se pos-
sível o abandono desta política de submissão do local ao global, de uma ciência a outra, que faz convergir
verdade e poder em troca de outras soluções, que criam, por sua vez, outras identidades para a ciência. Este
é o assunto da terceira parte do livro, intitulada “Proposições”, na qual Stengers, abandonando, portanto,
a definição da ciência como um poder capaz de fazer frente ao poder da ficção e abandonando a associa-
ção fatalista entre saber e poder, propõe como singularidade para a ciência algo anterior, ou seja, a distin-
REVISTA DA SBHC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 163-165, jul./dez. 2004
ção entre sujeito e objeto, capaz de enunciar uma relação de teste que, este, sim, criaria a diferença entre os
enunciados humanos, no sentido de que o sujeito que pretende a máxima objetividade (como proposto por
Sandra Harding) permite que o objeto lhe coloque à prova e submete suas razões inventadas a um tercei-
ro capaz de colocá-las em risco, de torná-las vulneráveis, não mais ao poder que as “faz existir”, mas ao
“irredutível das outras opiniões” (p. 162).
Essa reinvenção das ciências modernas não é novidade, isto é, jamais deixou de existir, segundo
Stengers. Bem a demonstram as ficções matemáticas e o uso do computador como instrumento de simu-
lação, os novos “objetos” dos chamados herdeiros de Darwin e toda a infinidade de questionamentos tra-
zidos pelas ciências de campo e pelas ciências humanas, para as quais produção de conhecimento e produ-
ção de existência não se separam. Assim, mais que a necessidade de limites éticos, está posto em questão
o ideal que as ciências modernas conquistaram de uma verdade capaz de se opor à ficção, ideal que, colo-
cado sob o riso de humor, pode ser encarado como uma crença entre outras, fundadora de uma cultura, a
ocidental, como também uma entre outras, que criou a ciência moderna.
E é desse modo que, apesar da vergonha de tudo que foi cometido em nome do progresso da ciência
ou em nome da verdade, não podemos renunciar a essa referência, porque não temos escolha, somos seus
herdeiros, livres talvez para estendê-la de outro modo mas não para anulá-la. Desse modo, como instru-
mento de criação e de resistência que preserva as virtudes do humor, Stengers recupera a imagem de
“Parlamento das coisas”, proposta por Bruno Latour. “Poderíamos dizer que o Parlamento das coisas con-
sagra de fato o triunfo das práticas científicas. Porque ele constitui o teste generalizado de nossas ficções e,
em primeiro lugar, daquela de um interesse geral em nome do qual deveriam se submeter os interesses par-
ticulares. Porém identifica essas práticas na medida em que elas fazem multiplicar os representantes, cada
vez mais variados e exigentes, e não porque elas afirmam um direito” (p. 184). O Parlamento das coisas faria
valer, então, não mais o princípio da conquista, que reduz o diverso ao mesmo, mas o da multiplicidade,
segundo o qual o Parlamento se constituiria como a reunião de representantes de um problema que os
compromete e situa, e que devem encontrar laços na heterogeneidade, condicionando a legitimidade das 165
intervenções feitas em “nome da ciência” à coerção “que declara antidemocrática, ou seja, irracional, toda
estratégia que vise mascarar uma mudança de meio ou de significação, isto é, de passar de uma problemá-
tica de junção a uma pretensão de unificação” (p. 190).
Aqui vemos a associação anunciada por Stengers, já no início do livro, entre racionalidade científica e
racionalidade política, colocada agora em termos da inseparabilidade de princípio entre a qualidade demo-
crática do processo político e a qualidade racional da controvérsia posta em debate (p. 193). Stengers pro-
põe o retorno do enunciado sofista, segundo o qual “o homem é a medida de todas as coisas”, no sentido
de que é necessário assumir o espaço da política como o legítimo produtor de juízos sobre o devir. Surgem,
então, vários outros problemas, tais como o da invenção de dispositivos que permitam ao cidadão comum
tornar-se “competente”, apto a participar, ao lado dos cientistas, da invenção desse devir, a tornar-se repre-
sentante de uma coletividade submetendo a risco suas opiniões e convicções pessoais.
Trata-se, portanto, de inventar outro modo de fazer política, tal como fez o acontecimento da ciência
moderna ao nos solicitar a crença de que sua singularidade nos asseguraria de direito um acesso inteiramen-
te diferente, e por que não dizer superior, ao mundo da verdade. Trata-se de inventar um antídoto à nossa
crença, criando não uma posição que nos permita julgá-la ou abandoná-la, o que seria impossível segun-
do a perspectiva do humor, mas inventando os meios de a civilizar, de torná-la capaz de existir com o que
não é ela, de colocá-la em risco. Nesse sentido, a própria paixão ocidental pela verdade é que exigiria a des-
vinculação entre verdade e poder e o entrelaçamento entre verdades e devires.
É com essa profundidade – que tentamos, ao menos, anunciar nessa resenha – que Isabelle Stengers
discute a singularidade da invenção das ciências modernas, de modo tal que nos permita pensar outros pos-
síveis para elas. É por isso que, tanto para os cientistas, que se inquietam com o devastador poder assumi-
do pelas ciências, quanto para aqueles que, mesmo “de fora”, interessam-se pela atividade científica e per-
cebem a necessidade de dialogar e, quem sabe, participar de sua reinvenção, parece-nos indispensável a lei-
tura de A invenção das ciências modernas, de Isabelle Stengers.
REVISTA DA SBHC, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 163-165, jul./dez. 2004
Você também pode gostar
- Revisão Simulado - 7 AnoDocumento2 páginasRevisão Simulado - 7 AnoGerson Teixeira de Oliveira100% (1)
- Piscologia Transpessoal e EspiritualidadeDocumento70 páginasPiscologia Transpessoal e EspiritualidadeWanderlei GC100% (3)
- RAVLTDocumento2 páginasRAVLTPriscila Klein100% (1)
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNo EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalAinda não há avaliações
- Parábolas-de-Jesus-CURSO 2017-GELD PDFDocumento14 páginasParábolas-de-Jesus-CURSO 2017-GELD PDFJoão Marcos O. FilhoAinda não há avaliações
- Resumo - Re-Pensando A Pesquisa JurídicaDocumento6 páginasResumo - Re-Pensando A Pesquisa JurídicaLucas Parreira ÁlvaresAinda não há avaliações
- LÉVI-STRAUSS, C. Mitológicas 1 - O Cru e o CozidoDocumento390 páginasLÉVI-STRAUSS, C. Mitológicas 1 - O Cru e o CozidoMônica Renata100% (2)
- Livro Etnologia Indigena e IndigenismoDocumento274 páginasLivro Etnologia Indigena e IndigenismoFlávia Oliveira Serpa Gonçalves100% (1)
- STENGERS Entrevists A Representação de Um Fenômeno Científico É Uma Invenção PolíticaDocumento3 páginasSTENGERS Entrevists A Representação de Um Fenômeno Científico É Uma Invenção PolíticaSonia LourençoAinda não há avaliações
- A Invenção Das Ciências ModernasDocumento133 páginasA Invenção Das Ciências Modernaswendell80% (5)
- Uma outra ciência é possível: Manifesto por uma desaceleração das ciênciasNo EverandUma outra ciência é possível: Manifesto por uma desaceleração das ciênciasAinda não há avaliações
- A Cientificidade Da HistóriaDocumento6 páginasA Cientificidade Da HistóriaGabriel DominguesAinda não há avaliações
- A Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisNo EverandA Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisAinda não há avaliações
- KENIA - Democratização Da Escola Pública (LIBÂNEO)Documento8 páginasKENIA - Democratização Da Escola Pública (LIBÂNEO)Rafael BräscherAinda não há avaliações
- Poemas de Herberto HelderDocumento13 páginasPoemas de Herberto HelderRui SousaAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Pierre - O Campo Científico PDFDocumento34 páginasBOURDIEU, Pierre - O Campo Científico PDFJessica CallefiAinda não há avaliações
- Jean-Paul Sartre - As MoscasDocumento137 páginasJean-Paul Sartre - As MoscasMiguel Luiz Ferreira100% (3)
- Fichamento Convite À FilosofiaDocumento10 páginasFichamento Convite À Filosofiamanoel da silvaAinda não há avaliações
- Avtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoDocumento48 páginasAvtar Brah - Diferenca Diversidade DiferenciacaoHolli DavisAinda não há avaliações
- História, Ciência e Moralidade - CarrDocumento5 páginasHistória, Ciência e Moralidade - Carrvrbarros1988_5852283Ainda não há avaliações
- Ruptura Com o Senso Comum Texto 1Documento24 páginasRuptura Com o Senso Comum Texto 1Carla Charana100% (1)
- STENGERS, Isabelle - A Invenção Das Ciências Modernas (Fichamento)Documento11 páginasSTENGERS, Isabelle - A Invenção Das Ciências Modernas (Fichamento)Mario Victor MargottoAinda não há avaliações
- Vera Portocarrero - Panorama Do Debate Acerca Das Ciências. Introdução.Documento6 páginasVera Portocarrero - Panorama Do Debate Acerca Das Ciências. Introdução.filosophAinda não há avaliações
- STENGERS, Isabelle. A Invencao Das Ciencias Modernas.-80-91Documento12 páginasSTENGERS, Isabelle. A Invencao Das Ciencias Modernas.-80-91Gabriel F FerreiraAinda não há avaliações
- Uma Análise Acerca Da Pretensão de Cientificidade Na HistóriaDocumento11 páginasUma Análise Acerca Da Pretensão de Cientificidade Na HistóriaPaula Eloise dos SantosAinda não há avaliações
- Humor, Ciência e Política em Isabelle Stengers Humor, Science, and Politics in Isabelle StengersDocumento6 páginasHumor, Ciência e Política em Isabelle Stengers Humor, Science, and Politics in Isabelle StengersRafael FarahAinda não há avaliações
- 02 Texto 01 (Sadi Dal Rosso)Documento16 páginas02 Texto 01 (Sadi Dal Rosso)Osmar VitorAinda não há avaliações
- A Invenção Das Ciências Modernas - Revista Lusófona de EducaçãoDocumento3 páginasA Invenção Das Ciências Modernas - Revista Lusófona de EducaçãoSuzete BritoAinda não há avaliações
- Tradução Texto 02 - Ethan Kleinberg - Just The Facts TRADUCAO ALEXANDRE SANTOSDocumento10 páginasTradução Texto 02 - Ethan Kleinberg - Just The Facts TRADUCAO ALEXANDRE SANTOSRoger Silva100% (1)
- O Campo Científico (Pierre Bourdieu)Documento34 páginasO Campo Científico (Pierre Bourdieu)muradias100% (4)
- Resenha Cap.1 - Introdução Ao CTSDocumento2 páginasResenha Cap.1 - Introdução Ao CTSPedro HenriqueAinda não há avaliações
- A (In) Visibilidade Das Mulheres No Campo CientíficoDocumento16 páginasA (In) Visibilidade Das Mulheres No Campo CientíficoJordelice MouraAinda não há avaliações
- Stengers - Abertura de PossiveisDocumento6 páginasStengers - Abertura de PossiveisPriscillaAinda não há avaliações
- Allene Carvalho LageDocumento19 páginasAllene Carvalho LageAlejo FernándezAinda não há avaliações
- Lacey & Mariconda A Águia e Os Estorninhos Galileu e A Autonomia CientíficaDocumento26 páginasLacey & Mariconda A Águia e Os Estorninhos Galileu e A Autonomia CientíficaSophia RamosAinda não há avaliações
- Historia Estorias Morte Do Real Ou Derrota Do Pensamento Moraes DuayerDocumento12 páginasHistoria Estorias Morte Do Real Ou Derrota Do Pensamento Moraes DuayerfapitataAinda não há avaliações
- FICHAMENTO - As Aventuras de Marx Contra o Barão de Münchhausen - Thatiane C. PiresDocumento9 páginasFICHAMENTO - As Aventuras de Marx Contra o Barão de Münchhausen - Thatiane C. PiresJonathan Machado100% (1)
- Um+discurso+sobre+as+ciências Boaventura+de+sousa+santos Fichamento+ (Metodologia)Documento10 páginasUm+discurso+sobre+as+ciências Boaventura+de+sousa+santos Fichamento+ (Metodologia)Lee BrasilAinda não há avaliações
- Alberto Cupani - Filosofia Da Ciência 177-196Documento20 páginasAlberto Cupani - Filosofia Da Ciência 177-196Helder FelixAinda não há avaliações
- HACB39 - Metodologia - de - Pesquisa - EISU - 2016.1 - Roteiro para Debate Modos de Conhecimento (Respondido)Documento8 páginasHACB39 - Metodologia - de - Pesquisa - EISU - 2016.1 - Roteiro para Debate Modos de Conhecimento (Respondido)Ivy MarinsAinda não há avaliações
- Ciência, Ideologia e PoderDocumento7 páginasCiência, Ideologia e PoderIsabelle B.Ainda não há avaliações
- Primeira AvaliaçãoDocumento1 páginaPrimeira AvaliaçãoNathalia PadilhaAinda não há avaliações
- O Caso Sokal Revisitado - Implicações para As Práticas Científicas Nas Ciências HumanasDocumento15 páginasO Caso Sokal Revisitado - Implicações para As Práticas Científicas Nas Ciências HumanasThaIes RodriguesAinda não há avaliações
- Antropologia RuralDocumento66 páginasAntropologia RuralAntonio MendoncaAinda não há avaliações
- 30-08-2022 18h16Documento4 páginas30-08-2022 18h16Camila de Castro FaustinoAinda não há avaliações
- DASTON Lorraine. Historicidade e ObjetivDocumento11 páginasDASTON Lorraine. Historicidade e ObjetivSara RaquelAinda não há avaliações
- 30-08-2022 19h21Documento4 páginas30-08-2022 19h21Camila de Castro FaustinoAinda não há avaliações
- Resumo MET - BoaventuraDocumento6 páginasResumo MET - BoaventuraDavi MartinsAinda não há avaliações
- Haraway - Saberes LocalizadosDocumento35 páginasHaraway - Saberes LocalizadosAzii DeiaAinda não há avaliações
- Texto Epistemologia Da Sociologia (José Saragoça)Documento15 páginasTexto Epistemologia Da Sociologia (José Saragoça)Jose SaragoçaAinda não há avaliações
- NUNES - Um Discurso Sobre As Ciências 16 Anos Depois-2Documento25 páginasNUNES - Um Discurso Sobre As Ciências 16 Anos Depois-2rodoxrangelAinda não há avaliações
- Fichamento Immanuel WallersteinDocumento3 páginasFichamento Immanuel WallersteinLuciano MouraAinda não há avaliações
- SANTOS, Boaventura de SouzaDocumento7 páginasSANTOS, Boaventura de SouzaElisaAinda não há avaliações
- As Máscaras Da Ciência - Hilton JapiassuDocumento3 páginasAs Máscaras Da Ciência - Hilton JapiassuCarlos Alberto VieiraAinda não há avaliações
- Japiassu - As Máscaras Da CiênciaDocumento3 páginasJapiassu - As Máscaras Da CiênciaNilson GadelhaAinda não há avaliações
- CANO - Ignacio. Nas Trincheiras Do Método o Ensino Da MetodologiaDocumento26 páginasCANO - Ignacio. Nas Trincheiras Do Método o Ensino Da MetodologiaLuiz Carlos De Assis JuniorAinda não há avaliações
- Ciro Flamarion Cardoso - Uma Introdução A História.Documento8 páginasCiro Flamarion Cardoso - Uma Introdução A História.Rüsley BiasuttiAinda não há avaliações
- Dois Ou Três Platôs de Uma Antropologia de EsquerdaDocumento28 páginasDois Ou Três Platôs de Uma Antropologia de EsquerdaRaspNikAinda não há avaliações
- A Ciencia No Seculo XXDocumento16 páginasA Ciencia No Seculo XXJoelcy BarrosAinda não há avaliações
- BOURDIEU A Causa Da Ciencia - Como A História Social Das Ciencias Sociais Pode Servir Ao Progresso Das CienciasDocumento19 páginasBOURDIEU A Causa Da Ciencia - Como A História Social Das Ciencias Sociais Pode Servir Ao Progresso Das CienciasddeboraAinda não há avaliações
- Resumo - EpistemologiaDocumento5 páginasResumo - EpistemologiaJeinni Puziol JKAinda não há avaliações
- Critérios de Validade Científica Nas Ciências HumanasDocumento13 páginasCritérios de Validade Científica Nas Ciências HumanasJosé BessaAinda não há avaliações
- Fichamento 2 - IEE - Uma Ciã Ncia Que Perturba, P. BordieuDocumento5 páginasFichamento 2 - IEE - Uma Ciã Ncia Que Perturba, P. Bordieurafaelagoncalves.spAinda não há avaliações
- A Natureza Como Uma Relação Humana, Uma Categoria Histórica Márcio Rolo Mar14Documento27 páginasA Natureza Como Uma Relação Humana, Uma Categoria Histórica Márcio Rolo Mar14Tiago SaboiaAinda não há avaliações
- Ferreira Filho Valter Duarte - A Sociologia Encantada de Max Weber - in Advir Asduerj 24 2010Documento9 páginasFerreira Filho Valter Duarte - A Sociologia Encantada de Max Weber - in Advir Asduerj 24 2010Michael SmithAinda não há avaliações
- Kuhn Na História, Filosofia E Sociologia Da CiênciaNo EverandKuhn Na História, Filosofia E Sociologia Da CiênciaAinda não há avaliações
- A ciência no Brasil contemporâneo: Os desafios da popularização científicaNo EverandA ciência no Brasil contemporâneo: Os desafios da popularização científicaAinda não há avaliações
- A Reordenação Do Pensamento Científico E Outros EnsaiosNo EverandA Reordenação Do Pensamento Científico E Outros EnsaiosAinda não há avaliações
- Os Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoNo EverandOs Programas de Pós-Graduação Interdisciplinares no Brasil: Um Debate SociológicoAinda não há avaliações
- Versão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINALDocumento404 páginasVersão WEB Livro Memórias Dos Povos Do Campo No Paraná FINALHelena KussikAinda não há avaliações
- Faces Da Indianidade PDFDocumento290 páginasFaces Da Indianidade PDFSonia LourençoAinda não há avaliações
- Antropologia e Seus EspelhosDocumento67 páginasAntropologia e Seus EspelhosSonia LourençoAinda não há avaliações
- AUSTIN, J.L. Quando Dizer É Fazer Palavras e AçãoDocumento69 páginasAUSTIN, J.L. Quando Dizer É Fazer Palavras e AçãoSonia Lourenço100% (2)
- CALHEIROS Orlando Aikewara Esboços de Uma Sociocosmologia Tupi GuaraniDocumento324 páginasCALHEIROS Orlando Aikewara Esboços de Uma Sociocosmologia Tupi GuaraniSonia LourençoAinda não há avaliações
- VELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Documento22 páginasVELHO, Otávio. Globalização - Antropologia e Religião. 1997.Sonia LourençoAinda não há avaliações
- PEIRANO Mariza Etnografia Ou A Teoria Vivida. Revista Ponto UrbeDocumento9 páginasPEIRANO Mariza Etnografia Ou A Teoria Vivida. Revista Ponto UrbeSonia LourençoAinda não há avaliações
- LANGDON Jean Os Diálogos Da Antropologia Com As Políticas PúblicasDocumento12 páginasLANGDON Jean Os Diálogos Da Antropologia Com As Políticas PúblicasSonia LourençoAinda não há avaliações
- PTI Anhanguera e UnoparDocumento15 páginasPTI Anhanguera e UnoparRenato Cavalcante100% (3)
- FrasesDocumento5 páginasFrasesstellAinda não há avaliações
- ESCRITOSESOTÉRICOSDocumento24 páginasESCRITOSESOTÉRICOSelaineestrela50% (2)
- A Ciência Pensa?Documento5 páginasA Ciência Pensa?danislei_profbioAinda não há avaliações
- O OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Documento4 páginasO OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO - Vinicius de Moraes (Impressão)Resigno Lucas Fortuna NetoAinda não há avaliações
- Motta 1999 PDFDocumento31 páginasMotta 1999 PDFbgokAinda não há avaliações
- Cantos para Missa de Entrga e Encerramento Pe HumbertoDocumento3 páginasCantos para Missa de Entrga e Encerramento Pe HumbertoRita De Cássia SouzaAinda não há avaliações
- Teste Teorias 2014 2015 1º SemestreDocumento1 páginaTeste Teorias 2014 2015 1º SemestremateusamorimdavidAinda não há avaliações
- Você É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoDocumento65 páginasVocê É Você - Personagem e Alteridade No Conto Françoise de Luiz Vilela-DesbloqueadoIslan SantosAinda não há avaliações
- Textos Est Superv IIDocumento8 páginasTextos Est Superv IIFelipe AccioliAinda não há avaliações
- Atuação Do Enfermeiro Na Saúde Do TrabalhadorDocumento17 páginasAtuação Do Enfermeiro Na Saúde Do TrabalhadorJosé Evangelista DamascenoAinda não há avaliações
- Ansiedade e YogaDocumento8 páginasAnsiedade e YogaJoce AlmeidaAinda não há avaliações
- AbsolutismoDocumento4 páginasAbsolutismoRenata SantosAinda não há avaliações
- Enteógenos BíblicosDocumento23 páginasEnteógenos Bíblicosrcunha35Ainda não há avaliações
- NBC-T 12Documento6 páginasNBC-T 12klaukiAinda não há avaliações
- Passeio Noturno Rubem FonsecaDocumento3 páginasPasseio Noturno Rubem FonsecaDanielle MoraisAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Da Motricidade E As "Culturas de Infância" Carlos NetoDocumento12 páginasDesenvolvimento Da Motricidade E As "Culturas de Infância" Carlos NetoBar Patrimonio PatrimonioAinda não há avaliações
- DISSERTADocumento10 páginasDISSERTAEdvan TorresAinda não há avaliações
- Amor de PerdiçãoDocumento9 páginasAmor de PerdiçãoMarlene SantosAinda não há avaliações
- Atividade de WordDocumento4 páginasAtividade de WordPRESS PL4YAinda não há avaliações
- Resenha de "O Ramo de Ouro"Documento3 páginasResenha de "O Ramo de Ouro"Sidney Junior100% (2)
- Os Fins e Os Meios - Que Ética para A Vida Humana. - Google FormsDocumento4 páginasOs Fins e Os Meios - Que Ética para A Vida Humana. - Google FormsElizabete VidalAinda não há avaliações