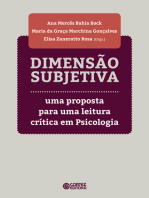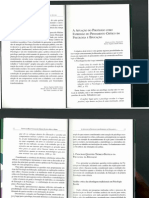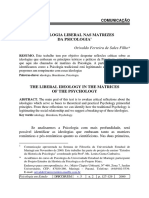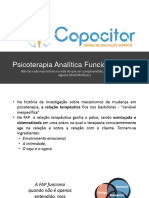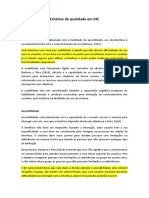Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora: Resumo
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora: Resumo
Enviado por
Angelo SilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora: Resumo
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora: Resumo
Enviado por
Angelo SilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação
Libertadora
Fábio Porto de Oliveira
Verônica Morais Ximenes
João Paulo Lopes Coelho
Karla Saraiva da Silva
Universidade Federal do Ceará
Resumo: Este artigo tematiza articulações teórico-metodológicas entre a Psicologia Co-
munitária e a Educação Libertadora, discutindo também suas propostas socioideológicas e
ético-políticas. Consiste em um desdobramento de uma pesquisa realizada pelo Núcleo de
Psicologia Comunitária (Nucom) da Universidade Federal do Ceará, cuja finalidade era con-
tribuir com o desenvolvimento epistemológico do marco teórico-metodológico da Psicologia
Comunitária. Para tanto, procedemos a uma revisão teórica, explorando, na trajetória de
constituição da Educação Libertadora e da Psicologia Comunitária, o encontro entre ambas as
teorias, especificamente no Estado do Ceará. Tal revisão se debruçou ainda sobre elementos
teórico-metodológicos, identificando pontos de convergência e integração entre ambas as
disciplinas, bem como os fundamentos socioideológicos que refletem sua visão de mundo.
Assim, apontamos para uma significativa consistência epistemológica relativa à integração da
Educação Libertadora no marco teórico da Psicologia Comunitária, conferindo coesão teórico-
metodológica e coerência ético-política a essa práxis psicológica libertadora, a partir do eixo
teoria-prática-compromisso social.
Palavras-chave: Psicologia Comunitária; educação; epistemologia; relação teoria-prática;
ética.
COMMUNITY PSYCHOLOGY AND LIBERATING EDUCATION
Abstract: This paper is about the theorical methodological links between Community Psycho-
logy and Liberating Education, discussing their social ideological and ethical political proposals.
It concerns an unfolding of a research conducted by the Núcleo de Psicologia Comunitária
(Nucom) of the Universidade Federal do Ceará (UFC), with the intention of contributing to
the epistemological development of the theorical methodological milestone of the Community
Psychology. In order to reach this aim, we made a theorical revision, exploring, in the trajectory
of the constitution of Liberating Education and Community Psychology, the meeting of both
theories, specifically in the Ceará state. This review is also based on theorical methodological
elements that identify points of convergences and integration between both disciplines, as well
as the social ideological foundations which reflect their view of the world. So, we point to a
relevant epistemological consistency related to the integration of Liberating Education in the
theorical milestone of Community Psychology, giving theorical methodological cohesion and
ethical political coherence to this liberating psychological praxis, in the axis of theory, praxis
and social compromise.
Keywords: Community Psychology; education; epistemology; relation between theory and
practice; ethics.
PSICOLOGÍA COMUNITARIA Y EDUCACIÓN LIBERTADORA
Resumen: Este artículo tematiza articulaciones teórico-metodológicas entre la Psicología
Comunitaria y la Educación Libertadora, discutiendo también sus propuestas socio-ideológicas
y ético-políticas. Consiste en un desdobramiento de una investigación realizada por el Núcleo
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
de Psicología Comunitaria (Nucom) de la Universidad Federal de Ceará, cuya finalidad fué
contribuir con el desarrollo epistemológico del marco teórico-metodológico de la Psicología
Comunitaria. Para tanto, se procedió con una revisión teórica, explorando en la trayectoria
de constitución de la Educación Libertadora y de la Psicología Comunitaria el encuentro
entre las dos teorías, especificamente en el estado de Ceará. Tal revisión se foco también
sobre elementos teórico-metodológicos, identificando puntos de convergencia e integración
entre las dos disciplinas, bien como a los fundamentos sócio-ideológicos que reflejan su
visión de mundo. Así, apuntamos para una significativa consistencia epistemológica relativa a
la integración de la Educación Libertadora en el marco teórico de la Psicología Comunitaria,
confiriéndole coesión teórico-metodológica y coherencia ético-política a esa praxis psicológica
libertadora, a partir del eje teoría-práctica-compromiso social.
Palabras clave: Psicología Comunitaria; educación; epistemología; relación teoría-práctica;
ética.
Introdução
Este artigo se propõe a realizar articulações entre a Psicologia Comunitária e a Educação
Libertadora, por meio de aproximações teórico-metodológicas e de relações entre suas
propostas socioideológicas e ético-políticas, identificando e desenvolvendo tanto conceitos
e categorias-chave como elementos que reflitam suas visões e concepções mais amplas.
Com o presente trabalho, damos continuidade à pesquisa realizada entre agosto de
2006 e julho de 2007 pelo Núcleo de Psicologia Comunitária (Nucom), do Departamento
de Psicologia da Universidade Federal do Ceará (UFC), intitulada “Percorrendo os cami-
nhos epistemológicos da Psicologia Comunitária”, envolvendo alunos da graduação e
do mestrado acadêmico em Psicologia da UFC, que teve como finalidade identificar e
aprofundar as relações entre as diversas teorias e abordagens que compõem os marcos
teórico-metodológicos da Psicologia Comunitária desenvolvida no Ceará. Essa iniciativa
deflagrou um movimento de grande contribuição à fundamentação epistemológica da
Psicologia Comunitária que desenvolvemos, de suma relevância à sua construção científica
e à potencialização de sua práxis.
Para tanto, retrataremos sinteticamente a proposta de Paulo Freire para a educação,
destacando trechos de sua trajetória de vida que nos ajudam a compreender sua obra,
bem como algumas características fundamentais que traduzem sua perspectiva de Edu-
cação Libertadora. Serão abordados também momentos significativos dos caminhos de
construção da Psicologia Comunitária no Ceará, em que ressaltaremos alguns elementos
que refletem sua especificidade como saber científico e área de atuação.
Por fim, identificaremos alguns pontos de encontro expressivos entre as práxis da Psi-
cologia Comunitária e da Educação Libertadora, que ficam evidenciados em seus modelos
teórico-metodológicos, que serão abordados mediante alguns de seus elementos concei-
tuais que consideramos centrais, como a noção de sujeito, diálogo e conscientização.
Contextualização histórica
Paulo Freire e a Educação Libertadora
No dia 19 de setembro de 1921, nasceu, em Recife, Pernambuco, Paulo Reglus Neves
Freire. Nordestino, filho de uma das regiões mais pobres do País, experimentou, desde
148 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
muito cedo, a dura realidade latino-americana de opressão. De origem humilde, Paulo
Freire tornou-se órfão ainda no início de sua adolescência.
A paixão pelo ensino, a qual reconhecia desde sua juventude, passou a conduzir seus
caminhos de forma que, em 1959, defendeu sua tese para a cadeira de História e Filoso-
fia da Educação na Escola de Belas Artes em Pernambuco, a qual, posteriormente, daria
origem ao seu livro e anunciava sua filosofia educacional.
Paulo Freire trabalhou 17 anos no setor de Educação do Serviço Social da Indústria
(Sesi) e pôde conhecer mais de perto a realidade e as necessidades do adulto trabalha-
dor e analfabeto, experiência que serviu de base para suas idéias pedagógicas ousadas e
inovadoras colocadas a serviço do povo – portanto, revolucionárias. No início da década
de 1960, ele participou da criação do Movimento de Cultura Popular em Recife, surgido
em um contexto mais amplo de movimentos sociais populares e lutas democráticas por
transformações sociais e políticas (FREIRE, 1980).
Segundo Brandão (2005, p. 44):
Diversas frentes de lutas buscavam criar novas alternativas para as causas populares. Elas estiveram,
inicialmente, centradas em movimentos de trabalhadores rurais e urbanos, como as ligas camponesas
e os sindicatos. Anos mais tarde, distribuíram-se também entre outros vários movimentos sociais, como
os dos povos indígenas, dos negros, das lutas pelos direitos das mulheres e das outras várias minorias
esquecidas e maioria silenciadas.
Nas experiências em Educação Popular, a pedagogia de Paulo Freire apresentava-se como
uma Educação Libertadora que, mais do que um método de alfabetização, constituía-se
como uma epistemologia da educação, uma teoria do conhecimento. Postula, então, a
possibilidade de as pessoas escreverem e lerem a palavra escrita ao mesmo tempo que
lêem sua realidade vivida, pronunciando sua palavra sobre o mundo, à medida que atuam
nele, mediante o processo de conscientização (FREIRE, 1980, 1984, 2005).
Após a bem-sucedida experiência de Angicos, de 1962 – em que Paulo Freire e sua
equipe trabalharam na criação de um novo sistema de alfabetização de trabalhadores
rurais jovens e adultos, superando os velhos métodos baseados em cartilhas alienadas e
alienantes –, durante o governo de João Goulart, surge o convite e o desafio para Paulo
Freire pensar, criar e pôr em prática um projeto nacional de educação com um trabalho
de alfabetização para as camadas populares. No entanto, com a chegada dos duros anos
de ditadura, esse Programa Nacional de Alfabetização – que estava em vias de implemen-
tação – foi extinto e os movimentos de cultura popular foram reprimidos, o que também
aconteceu com outras frentes de mobilização no campo e no meio urbano. Já no ano de
1964, Paulo Freire foi interrogado, respondeu a inquéritos administrativo e policial-militar,
sendo detido e, posteriormente, exilado para a Bolívia.
Os trabalhos de Paulo Freire tiveram contribuições importantes no processo de reflexão
e ação transformadora sobre a realidade de opressão e submissão que vivia a sociedade
brasileira. Segundo Freitas (2007, p. 50),
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 149
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
Nas décadas de 60 e 70, esta união e compromisso materializa-se nos diversos movimentos da educação
popular, em que a alfabetização dentro da proposta e filosofia do método/sistema de Paulo Freire,
torna-se a viga-mestra destes trabalhos de emancipação dos setores desfavorecidos.
Sua peregrinação continuou: seguiu para o Chile, para os Estados Unidos e, por fim,
permaneceu na Suíça até 1980, quando, diante do processo de reabertura democrática,
retornou, definitivamente, ao Brasil.
Mesmo após a sua morte, em 1997, Paulo Freire continua a inspirar muitos que acredi-
tam na utópica transformação social por meio de uma ação cultural libertadora. Educar o
povo não apenas para “instruí-lo”, mas para que as pessoas saibam mais sobre o mundo,
sobre si mesmas e sobre a vida.
Sobre a Educação Libertadora
Podemos afirmar, com base em uma análise do conjunto de sua obra e junto a um
coletivo cada vez maior de autores, que o maior legado teórico-metodológico de Paulo
Freire não seria a criação de um método de alfabetização de jovens e adultos, em uma
perspectiva pedagógico-escolar, mas sim a sua ampla e profunda teoria da aprendizagem
e do conhecimento, compreendendo a educação como uma “situação gnosiológica”
(FREIRE, 2006).
Para ele, a educação é uma das dimensões da cultura e, por ser uma construção emi-
nentemente humana, comporta em si um potencial de mudança social permeada de espe-
rança e sonhos possíveis. Acredita, portanto, que é na experiência dialógica e dialética do
processo educacional que são criados os alicerces para as próprias mudanças educacionais
e uma transformação sociocultural.
A proposta pedagógica freiriana surgiu a partir de uma dura crítica às perspectivas po-
sitivistas da educação liberal que legitimam as “práticas bancárias” e propõe-se a ir além
das inovadoras propostas da “escola nova”. Brandão (2005, p. 107) exemplifica:
Em nome de uma educação libertadora, o exato oposto da “bancária”, é que Paulo e os que procu-
ram ser seus re-criadores assumem o compromisso de vida e de trabalho a serviço dos povos do Brasil,
educando-os e formando-os para que eles aprendam a ser criadores de suas vidas livres, de suas culturas
emancipadas e de suas sociedades justas e felizes.
De forma muito próxima, também percebemos uma consistente proposta de crítica e
superação dos modelos educacionais hegemônicos na obra de Paulo Freire. Para ele, a
educação seria um grande caminho para a mudança social, para a formação de sujeitos
históricos, atores e autores de seus processos históricos cotidianos de emancipação coletiva
e individual. De acordo com Freire (1980, p. 36):
A educação das massas se faz, assim, algo absolutamente fundamental entre nós. Educação que,
desvestida da roupagem alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação. A opção,
por isso, teria de ser também, entre uma “educação” para a “domesticação”, para a alienação, e uma
educação para a liberdade. “Educação” para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito.
150 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
A educação, assim, teria um papel fundamental para a construção de novas sociabili-
dades, mais democráticas e justas, afetivas e solidárias, fortalecendo para tanto as forças
progressistas que favoreciam a autonomização, o compromisso social e o vínculo histórico
com o anúncio de um novo horizonte de vida social. Isso se daria mediante o processo de
transição da massa para povo, do indivíduo adaptado e imerso em sua realidade cotidia-
na para o sujeito crítico e integrado à sua realidade histórica vivida cotidianamente, de
um tipo de consciência mais intransitivo e mágico para um tipo mais transitivo e crítico,
dialógico. Nesse sentido, segundo Freitas (2007), a educação popular facilita os processos
de conscientização e participação das pessoas envolvidas nesse processo.
A educação popular atua, portanto, para (trans)formar sujeitos ativos, sujeitos de práxis
coletivas transformadoras e libertadoras. Aqui, a alfabetização de adultos, por exemplo,
não se trataria apenas de otimizar e efetivar as habilidades básicas de leitura e escrita de
signos (fonemas e grafemas) de um dado sistema lingüístico, mas acima de tudo figuraria
como uma alfabetização política, em que os educandos desenvolveriam suas habilidades
de ler, compreender e transformar o mundo em que vivem.
Assim, a partir da Educação Libertadora, são fundamentais redefinições nas relações
de poder entre o saber acadêmico e o saber popular, entre o professor e o aluno, entre
o papel de educador e o de educando, entre a ação e a reflexão, entre as diferenças e os
contrastes dos participantes, entre os sujeitos cognoscentes e os objetos cognoscíveis.
Sobre a Psicologia Comunitária no Ceará
Para melhor compreendermos a constituição da Psicologia Comunitária no Ceará, convém
inicialmente apontarmos alguns aspectos de seu desenvolvimento na América Latina.
De modo mais amplo, a Psicologia Comunitária na América Latina surge, em meados
da década de 1970, de um processo de ruptura com um dado modelo hegemônico de se
fazer Psicologia Social, demasiado radicado sobre o ideário positivista-capitalista, não con-
cebendo como tarefa da ciência psicológica a transformação da realidade social com vistas
à superação de seus graves e profundos problemas socioeconômicos e político-culturais,
tampouco suas repercussões sobre a construção subjetiva dos indivíduos, especialmente
os que proviessem de populações historicamente oprimidas.
Tal ideário se refletia nos conceitos e nas práticas de uma Psicologia latino-americana
“escravizada” (MARTIN-BARÓ, 1998), isto é, uma Psicologia fruto de um sistema socioi-
deológico hegemônico opressor e desumanizante, fomentado pelo modo de produção
capitalista. Produzida nesse contexto, essa práxis psicológica contribuiria com sua atuação
para a perpetuação e o desenvolvimento do sistema onde se gera. Em outras palavras, a
práxis de uma Psicologia latino-americana escravizada visaria manter uma ideologia de
submissão e resignação (GÓIS, 2005, 2008); e mesmo quando transformasse, transformaria
para manter.
Em meio a esse cenário, a Psicologia Comunitária no Ceará começa a surgir em outubro
de 1980, “como compromisso social em Psicologia, com a intenção de colocá-la a serviço
da população excluída da riqueza da nação” (GÓIS, 2003, p. 17), em diversos trabalhos
coordenados pelo então jovem psicólogo e professor Cezar Wagner de Lima Góis, junto
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 151
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará, com uma diversificada
equipe de moradores das comunidades, profissionais e estudantes, oriundos especialmen-
te das ciências humanas e sociais, como Psicologia, Educação, Sociologia, Serviço Social e
outras (GÓIS, 1994, 2003).
Foi chamada, inicialmente, de Psicologia Popular e, pelo relevo de sua práxis político-
pedagógica, passou a denominar-se, a partir de 1986, Psicopedagogia Popular. E já no
ano seguinte, em 1987, o termo Psicologia Comunitária foi cunhado, tendo como base as
experiências nos municípios de Pedra Branca e Beberibe, ambas do interior do Estado.
A experiência prática da Psicologia Comunitária estava respalda por teorias, como:
A influência dos autores soviéticos, de Paulo Freire, de Sílvia Lane (PUC-SP), e do criador da Biodança,
Rolando Toro, foi grande e decisiva. Só assim conseguimos caminhar com maior solidez nessa cons-
trução, ousando buscar uma especificidade, uma unidade de análise e um método próprio [...] (GÓIS,
2003, p. 21).
A partir de então, a Psicologia Comunitária intensifica seu processo de sistematização
teórico-metodológica, bem como de progressiva inserção acadêmica e profissional. Aqui,
chamam a atenção a visão e o compromisso do professor Cezar Wagner de Lima Góis (2003,
p. 20) com o desenvolvimento da Psicologia Comunitária e de sua práxis, afirmando que seu
objetivo, “além de contribuir com a construção do sujeito da realidade e na sistematização
de uma Psicologia Comunitária, era o de inseri-la no meio acadêmico e curricular (iniciado
com a disciplina de Dinâmica de Grupo), e torná-la uma área profissional remunerada”.
Um outro momento fundamental para o desenvolvimento da Psicologia Comunitária
é a criação, em 1992, do Núcleo de Psicologia Comunitária (Nucom/UFC), que passará
a integrar às atividades de extensão universitária a prática da pesquisa e o incentivo à
docência, figurando como um centro de formação, promoção e difusão da Psicologia
Comunitária.
Ximenes, Nepomuceno e Moreira (2008) desenvolveram uma pesquisa que avaliou os
trabalhos do Nucom realizados nos últimos 12 anos e concluíram que a práxis libertadora
dos trabalhos comunitários desse núcleo propicia transformações na vida dos professores,
estudantes e moradores das comunidades. O tripé teoria, prática e compromisso social,
que visa à transformação da realidade de opressão da maioria da população brasileira,
está presente no Nucom.
Com base em Góis (2005), podemos apontar como objetivo da Psicologia Comunitária
o desenvolvimento do sujeito comunitário, isto é, a facilitação da construção do indivíduo
morador da comunidade como sujeito de sua história, mediante a conscientização (transiti-
vação, ampliação e aprofundamento da consciência) e a conseqüente ação transformadora
e solidária de sua realidade (pessoal e coletiva).
Ainda segundo Góis (1994), o objeto da Psicologia Comunitária é a análise do processo
do reflexo psíquico do lugar/comunidade. Por outras palavras, estuda os significados, os
sentidos e os sentimentos (tanto pessoais como coletivos) acerca da vida comunitária, bem
como o modo como esse conjunto se apresenta nas atividades comunitárias e nas condições
gerais de vida dos moradores na comunidade:
152 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
”Podemos dizer que estuda o modo-de-vida da comunidade e de como este (sic) se
reflete e muda na mente de seus moradores, para de novo surgir, transformado, singula-
rizado, em suas atividades concretas no dia-a-dia da comunidade (GÓIS, 2003, p. 30)”.
Educação Libertadora e Psicologia Comunitária
Segundo Sanchez (2007), a Psicologia Comunitária na América Latina tem influência
nos finais dos anos 1950 dos trabalhos de investigação-ação na Colômbia do sociólogo
Fals Borda e dos processos de educação popular e alfabetização de adultos no Brasil do
educador Paulo Freire. A relação entre a Psicologia Comunitária e a Educação Libertado-
ra foi proposta por muitos autores da área de Psicologia Comunitária na América Latina
(GÓIS, 1994; LANE, 2001; FREITAS, 2001; MONTERO, 2004).
Sawaia (2004), a partir de suas reflexões sobre a importância dos afetos e sentimen-
tos do desenvolvimento do ser humano, problematiza os processos de conscientização e
educação popular.
Propomos a substituição dos dois conceitos centrais à práxis psicossocial clássica,
“conscientização” e “educação popular”, pelo conceito “potência de ação”, por causa
do excesso de racionalidade, instrumentalização e normatização a que aqueles foram
aprisionados. Potencializar, como citado anteriormente, significa atuar, ao mesmo tempo,
na configuração da ação, do significado e da emoção, coletivos e individuais (SAWAIA,
2004, p. 113).
É importante ressaltar que Paulo Freire sempre trouxe em suas obras o aspecto afetivo
no processo de Educação Libertadora. Concordamos que muitas práticas comunitárias
utilizam esses conceitos com enfoque nos processos de racionalização, porém, no caso
específico de nossas práxis no Nucom, desenvolvemos trabalhos comunitários baseados
no aspecto positivo da afetividade. Segundo Toro (2005, p. 90):
Por “afetividade” entendo um estado de afinidade profunda para com os outros seres humanos, ca-
paz de originar sentimentos de amor, amizade, altruísmo, maternidade, paternidade, solidariedade.
Sem dúvida, também sentimentos opostos como a ira, o ciúme, a insegurança e a inveja podem ser
considerados componentes desse complexo fenômeno.
Ribeiro e Neves (2006) abordam também o aspecto da afetividade presente no encontro
entre Educação e Psicanálise
Em suma, podemos resumir as conexões entre a Psicanálise e a Educação pelo jogo entre cinco ele-
mentos citados anteriormente. Percebe-se, pois, como a (1) transferência aluno-professor passa a ser
mediada pela (2) afetividade e pelo processo de (3) identificação, em que a (4) pulsão do saber e o (5)
acesso ao simbólico reforçam o mecanismo de aprendizagem.
Passaremos agora a evidenciar e traçar articulações entre alguns dos conceitos e te-
máticas centrais à Psicologia Comunitária e à Educação Libertadora, a fim de explorar a
consistência de seus enlaces e aproximações, tanto ideológicos como teóricos e metodo-
lógicos.
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 153
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
Noção de sujeito
Aqui, exploraremos algo sobre a noção de sujeito na Psicologia Comunitária e na Edu-
cação Libertadora, vislumbrando certas aproximações significativas.
Uma primeira convergência aponta para a compreensão do ser humano como ser
inacabado. Em ambas as abordagens, o sujeito não é um ente dado, pronto, fruto de um
viés essencialista ou determinista, mas constitui-se e se desenvolve a partir de seu con-
texto histórico-cultural, donde emerge como singularidade. Ganha relevo o processo de
construção do ser humano, seu desenvolvimento, seu processo mesmo de humanização,
que lhe permite efetivar sua vocação ontológica de ser sujeito de sua história (FREIRE,
1980; GÓIS, 2008).
Outra característica que aproxima as noções de sujeito nessas abordagens é o com-
promisso com a transformação da realidade vivida. Na Educação Libertadora, seguindo o
movimento de emersão e leitura crítica da realidade cotidiana, haveria o movimento de
integração, de re-inserção do sujeito em seu contexto, agora de modo crítico e proposi-
tivo, transformando-o a partir da própria transformação que se dá em si mesmo (FREIRE,
1980).
Para a Psicologia Comunitária (GÓIS, 2005), o sujeito comunitário buscará, especialmen-
te mediante a atividade comunitária (coletiva, cooperativa e solidária), superar situações
de opressão, resistindo e lutando contra as manifestações da ideologia de submissão e
resignação, que favorece o desenvolvimento de uma identidade de oprimido e explorado
junto aos indivíduos, negando seu valor e poder pessoal. Esse enfrentamento se origina
e se sustenta no compromisso ético-político e nos vínculos afetivo-sociais que o morador
construiria com sua comunidade, com seu sistema cultural e com os demais moradores.
Percebemos também que ambas as abordagens direcionam suas práxis para a construção,
o fortalecimento e o desenvolvimento do sujeito. Na Educação Libertadora, estimula-se
o trânsito do indivíduo para sujeito histórico, superando os esquemas de acomodação e
adaptação passiva à realidade e fomentando a integração com a inserção na realidade
vivida (FREIRE, 1980). Na Psicologia Comunitária, facilita-se a construção do sujeito co-
munitário, fortalecendo sua identidade pessoal e sua atuação comunitária, estimulando
a integração entre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento sociocomunitário
(GÓIS, 2003, 2005).
Encontro, diálogo e problematização
A intersubjetividade e a comunicação entre os homens são características primordiais
do mundo cultural e histórico, e, por isso, o ato de conhecer do homem sobre o mundo
não se reduz à simples ação do sujeito cognoscente sobre o objeto cognoscível (FREIRE,
2006). Haveria, assim, uma relação de caráter intercomunicativo entre sujeitos em torno
dos objetos; comunicação possível pela intersubjetividade que, mais do que caracterizar,
torna possível o próprio ato cognoscitivo. O próprio ato de pensar exige, portanto, além
de um sujeito que pensa, um objeto mediatizador entre esse sujeito e um outro sujeito.
É a comunicação que permite a co-participação dos homens no ato de conhecer e com-
preender a realidade.
154 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
O ato de comunicar-se estaria calcado, anteriormente, numa ontologia da relação, que
surge como gérmen de uma ética humanista do inter-humano. Paulo Freire teve como
base as idéias de Martin Buber, situado na tradição fenomenológica, para falar da relação
eu e tu, como apresenta Brandão (2005, p. 54):
[...] o homem é um ente de relação ou que a relação lhe é essencial ou fundamento de sua existência.
Com isso, assistimos ao encontro do pensamento de Buber com a tradição fenomenológica, na medida
em que grande parte dos filósofos que a ela pertencem partem também deste princípio do homem
como ser situado no mundo com o outro.
Essa relação entre os homens seria algo bem mais do que o vago termo “relação in-
terpessoal”. Significa o encontro de dois ou mais protagonistas em uma vivência e expe-
rimentação do outro. O encontro buberiano se aproximaria mais do confronto amoroso,
do contato, do perceber o outro, do comunicar-se de maneira primitiva e intuitiva: é um
encontro no mais intenso nível de comunicação, a relação Eu-Tu.
É o encontro que permite o diálogo entre os homens no ato de pronúncia conjunta do
mundo: o compartilhamento de uma vivência coletiva, uma convivencialidade cotidiana,
a possibilidade de mútua afetação ético-afetivo-emocional entre os participantes que se
põem juntos a ad-mirar o mundo em que vivem.
Ajunta-se a esse diálogo a prática da problematização, surgindo, assim, o diálogo
problematizador, condição fundamental para o processo de conscientização, mediante o
qual se desenhará histórica e subjetivamente o sujeito histórico, o educador-educando, o
educando-educador. Sobre isso, Freire (2005, p. 91) nos fala que:
Se, é dizendo com que, “pronunciando” o mundo, os homens se transformam, o diálogo se impõe
como caminho pelo qual os homens ganham significação enquanto homens. Por isso, o diálogo é uma
exigência existencial [...]. A conquista implícita no diálogo é a do mundo pelos sujeitos dialógicos, não
a de um pelo outro. Conquista do mundo para a libertação dos homens.
É por isso que a Educação Libertadora de Paulo Freire também se chama Educação
Dialógica, fundada que está sobre o diálogo nessa acepção, um meio para construir co-
letivamente caminhos de libertação a partir de uma leitura e uma práxis coletiva sobre a
realidade compartilhada e vivida. Percebemos, então, o tom de ruptura que a Educação
Libertadora assume a partir de Paulo Freire.
Freire (2005, p. 81) vem atentar para o fato de que “essa relação entre sujeitos cog-
noscentes, mediatizados pelo objeto cognocistível é, necessariamente, em conseqüência,
um que-fazer problematizador”. No diálogo, cada passo no sentido de aprofundar o co-
nhecimento – sobre a situação-problema que se apresenta – amplia as possibilidades de
compreensão do objeto analisado pelos que estão implicados no processo.
Para Montero (2006, p. 231)1,
1
Todas as citações de Montero estão em espanhol, pois não existe publicação de sua obra em português.
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 155
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
En la psicologia comunitária problematizar es generar situaciones em lãs cuales lãs personas se vem
forzadas a revisar sus acciones u opiniones acerca de hechos de su vida diária vistos como normales,
convertidos por tal razón em habituales, o percebidos como inevitables al considerarlos naturales.
O conceito de problematização surge no início da segunda metade do século XX como
parte do processo educacional libertador freiriano. Nos círculos de cultura, problematiza-
vam-se as questões existenciais levantadas pelas palavras geradoras advindas da pesquisa
do universo vocabular com o propósito de promover a “conscientização” de trabalhadores
adultos (FREIRE, 1980).
Problematizar é, em poucas palavras, criar situações nas quais as pessoas se vêem convi-
dadas a examinar criticamente suas ações cotidianas e opiniões acerca do mundo, da vida,
de si mesmos e de sua rotina tomados como canônicos. É um debruçar-se sobre fatos tão
habituais que chegam a ser naturalizados e/ou considerados inevitáveis, proporcionando
a possibilidade de novas formas de conhecer a realidade.
A problematização facilita as ações de transformação do sujeito no mundo. Montero
(2006, p. 231) vem nos dizer que “la problematização sensibiliza, desnaturaliza, establece
las bases cognitivas y afectivas para producir una motivación de cambio que se traduce en
acciones concretas de transformación”.
Na prática da Psicologia Comunitária, as ações problematizadoras compõem um aspecto
essencial do seu que-fazer. Apenas a partir do reconhecimento da situação de opressão e
exclusão em que os moradores de determinada comunidade vivem, pode-se pensar e co-
construir uma possível atuação comunitária. Montero (2006, p. 229) vem dizer que
A lo largo y a lo ancho del trabajo comunitario se presenta la necesidad y la oportunidad de proble-
matizar, pues en todas las fases de la intervención o de la investigación […] abundan los momentos
en cuales los agentes externos y los agentes internos comparten la perplejidad y la contradicción al
analizar los aspectos relacionados con los problemas, necesidades o planes de transformación que se
han planteado. Perplejidad al no hallar explicación para determinadas conductas, contradicción al
confrontar explicaciones opuestas que revelan […] formas de aceptación no justificada de condicio-
nes de vida o de modos de conocer que afectan el entendimiento de las circunstancias que se desea
transformar.
A ação problematizadora incide sobre as circunstâncias do cotidiano dos moradores,
as atividades costumeiras, os saberes e as expressões estereotipadas que legitimam a per-
petuação de determinadas situações. As situações-limite, surgidas no Círculo de Cultura,
brotam sempre de situações de caráter concreto, do âmbito do tangível. Não por acaso, é,
exatamente, a partir da análise da situação de vida dos moradores e dos efeitos resultantes
de determinadas ações e posicionamentos, que ocorrem os processos de aprofundamento
da consciência: etapa básica de uma atuação em Psicologia Comunitária e em Educação
Libertadora.
No ato de problematizar, promove-se um mergulho nos significados das relações sociais
construídas, em suas situações contraditórias – inerentes à constituição dessas relações –
que levam os sujeitos a confrontarem os conhecimentos adquiridos em sua história com
156 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
as novas apropriações advindas desse novo olhar. Por meio das contradições do objeto
problematizado, evidenciam-se os nexos velados, bem como os interesses sociais, econô-
micos e políticos, mobilizando, dessa forma, a consciência e dando início a um processo
que conscientiza, desideologiza e desnaturaliza a realidade (MONTERO, 2006).
A problematização, nesse sentido, facilita nos indivíduos um posicionamento político
(em seu sentido mais amplo), ao forjar nos sujeitos uma consciência crítica que permite
uma compreensão mais global dos fenômenos sociais e a percepção de novas possibilida-
des de construção social, do “possível não experimentado” na transformação positiva da
realidade (FREIRE, 1980).
Conscientização
A conscientização – termo criado por uma equipe de docentes do Instituto Superior
de Estudos Brasileiros (Iseb) com o objetivo de enfatizar a educação em sua dimensão
libertadora – figura como categoria central à Educação Libertadora (FREIRE, 1980).
Freire (1980, p. 29) define conscientização da seguinte forma: ”[...] tomar posse da
realidade [...] é o olhar mais crítico possível da realidade, que a ‘des-vela’ para conhecê-la
e para conhecer os mitos que enganam e que ajudam a manter a realidade da estrutura
dominante”.
O processo de conscientização consiste, basicamente, no movimento de distanciamen-
to da consciência pessoal, de abstração perante a realidade, que permite a percepção de
nexos e vínculos lógicos multicausais e sócio-histórico-culturais que subjazem aos aconte-
cimentos cotidianos, vividos de modo específico e singular pelos indivíduos (FREIRE, 1980).
Vieira e Ximenes (2008, p. 25) esclarecem que ”o sufixo ‘ação’, que acompanha a palavra
em questão, não é obra do acaso, pois indica uma exigência não apenas (apesar de não
prescindir dela) de compreensão lógica da realidade, mas também de ações concretas
frente a ela”.
Podemos dizer também que consiste na passagem de tipos e níveis de consciência mais
intransitivos e menos permeáveis a tipos mais transitivos e permeáveis às contradições do
mundo.
Visando esclarecer as características do movimento que leva um indivíduo a se tornar
e a se perceber sujeito, quando do exercício de superação de sua condição de alienação e
posterior entendimento da situação de opressão e engajamento na luta por transformação,
Freire (1984) enumera três níveis de consciência: a) intransitiva ou mágica, b) transitiva
ingênua e c) transitiva crítica, tendo cada uma delas correspondência com um tipo de
sociedade fechada, aberta ou de transição, respectivamente. A consciência intransitiva
tem relação com compreensões e atitudes de modo vegetativo, uma vez que a realidade
é encarada como algo construído e de responsabilidade de uma instância superior. Con-
figura a impossibilidade de transformar a realidade.
Na consciência transitiva ingênua, já há uma ampliação da capacidade de compreen-
são e relação entre os acontecimentos, porém de forma simplista. De acordo com Freire
(1984, p. 60-61),
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 157
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
[...] a transitividade ingênua [...] se caracteriza, entre outros aspectos, pela simplicidade na interpretação
dos problemas. Pela tendência a julgar que o tempo melhor foi o tempo passado. Pela subestimação
do homem comum. Por uma forte inclinação ao gregarismo, característico da massificação. Pela im-
permeabilidade à investigação, a que corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas.
Pela fragilidade na argumentação. Por forte teor de emocionalidade. Pela prática não propriamente
do diálogo, mas da polêmica [...]. Esta nota mágica, típica da intransitividade, perdura, em parte, na
transitividade [...].
Na consciência transitiva crítica, o indivíduo transforma-se em sujeito, interpreta os
problemas com profundidade, realiza nexos entres os fatos e interfere na realidade. Se-
gundo Góis (2005, p. 108), “a consciência crítica vê a realidade mutável, por isso investiga,
verifica, indaga e revisa. Pressiona a realidade, aprofunda-se na análise de problemas e
não se satisfaz com as aparências”.
Góis (2005) aborda e desenvolve a conceituação proposta por Freire sobre os níveis de
consciência, modificando-os em tipos de consciência, por considerar que a classificação
em níveis sugere uma hierarquia de valor, enquanto essa outra nomenclatura propõe
apenas uma diferenciação, de forma que haja uma relação horizontal entre elas, e que
não sejam fixados estereótipos. Além disso, aponta para a possibilidade de tais formas
de consciência poderem estar presentes em certos aspectos do sujeito e em outros não.
Ainda assim, continua a deixar claro o objetivo de desenvolver, mediante metodologias
participativas, qualidades próprias do tipo de consciência crítica.
Para que essa passagem de um tipo de consciência a outro aconteça, Freire (1980) propõe
metodologias de atuação político-pedagógicas que valorizem o saber e a cultura populares
e que visem à co-participação do educando em sua própria alfabetização. Ou seja, o autor
mescla as funções dos participantes desse processo, pois educador é também aprendiz e o
homem simples é também professor; professor de sua história, de sua cultura, de sua vida.
Está posto o educador-educando (FREIRE, 1984). O educador se torna facilitador do apro-
fundamento da tomada de consciência dos membros do grupo, situação que se repete na
atuação do psicólogo comunitário que visa à co-construção do sujeito comunitário, tendo
como ferramenta, tão básica quão potente, a conscientização (GÓIS, 2005).
Em Freire (1980), o ser sujeito histórico vai-se acontecendo à medida que o indivíduo
realiza seu trânsito, objetivo e subjetivo, de uma atitude mais mágica e ingênua para uma
atitude mais crítica, mais dialógica. Isto é, encara-se e insere-se no e com o mundo como
ser inacabado, que está em permanente formação, em constante desenvolvimento, huma-
nizando-se, tornando-se humano. A humanização, o fazer-se sujeito e a luta para assim se
colocar no e com o mundo se dariam a partir do processo mesmo de conscientização.
Segundo Montero (2006, p. 187-188), a participação e o diálogo são aspectos indispen-
sáveis no processo de conscientização, pois
Con el diálogo y la participación conjunta que se genera entre agentes externos y agentes internos
comienza a producirse, a través del análisis, de la acción y de la reflexión colectivos, un proceso de
concientización, que supone problematizar, afin de que no se acepte como cotidiano, normal y lógico
lo que es excluyente, insatisfactorio e injusto; desnaturalizar, por lo tanto, aspectos naturalizados
158 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
por efecto de hábitos profundamente socializados, de la opresión, de la ideología y de la alienación;
y desideologizar, en el sentido de romper con la hegemonía de las ideas dominantes en función de
formas de opresión social.
A conscientização, por ser um processo contínuo por meio do qual o indivíduo, ante-
riormente membro de uma massa indigente, passa a se reconhecer como sujeito de sua
realidade – dialética e dinâmica –,apresenta-se como alternativa válida e de grande signi-
ficância para a superação da situação de opressão em que vivem muitos povos, inclusive
o latino-americano.
Considerações finais
Tendo como objetivo principal realizar articulações entre a Psicologia Comunitária e
a Educação Libertadora – um de seus marcos teórico-metodológicos –, o presente artigo
teve como principais focos as visões de mundo e de ser humano, métodos e perspectivas
de atuação dessas abordagens do campo da Psicologia e da Educação.
Além de articulações gerais, foram aprofundadas algumas categorias concernentes à
Educação Libertadora que, tendo intrínseca ligação com a Psicologia Comunitária, me-
reciam melhores esclarecimentos quanto às suas contribuições para a teoria e a prática
dessa área da Psicologia.
Como explicitado na introdução deste trabalho, empenhamo-nos em construir uma
produção compromissada com a sistematização da Psicologia Comunitária desenvolvida no
Ceará, o que consiste em um dos objetivos do Núcleo de Psicologia Comunitária (Nucom),
do qual os autores deste artigo participam ou participaram.
Apesar de contemplar aspectos considerados fundamentais às propostas da Educação
Libertadora e da Psicologia Comunitária, este trabalho se caracteriza notadamente por sua
incompletude, pois temos a convicção de que produções científicas, como produção humana
de saber, não devem permanecer estáticas, devendo ser complementadas e/ou superadas
pelo constante processo de revisão crítica e criativa de construção do conhecimento.
Pudemos verificar, assim, uma significativa coerência ético-política, conceitual e meto-
dológica entre a Psicologia Comunitária e a Educação Libertadora, que se reflete na apro-
priação criativa de conceitos como conscientização, diálogo, problematização, ou então
na expressiva afinidade entre as noções de sujeito, com sua práxis pautada na libertação
e superação das relações de opressão particularmente presentes na América Latina.
Acreditamos, com o presente trabalho, ter contribuído com o exercício epistemológico
de evidenciar e traçar crítica e criativamente elementos que favoreçam a fundamentação
teórico-metodológica da Psicologia Comunitária quando de seu encontro histórico com a
Educação Libertadora, especialmente nos caminhos trilhados acadêmica e profissionalmen-
te no Estado do Ceará, como abordagem de investigação e atuação sobre os fenômenos
sociopsicológicos próprios de nosso povo.
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 159
Fábio Porto de Oliveira, Verônica Morais Ximenes, João Paulo Lopes Coelho, Karla Saraiva da Silva
Referências
BRANDÃO, C. R. Paulo Freire, educar para transformar: fotobiografia. São Paulo: Mer-
cado Cultural, 2005.
FREIRE, P. Conscientização: teoria e prática da libertação – uma introdução ao pensa-
mento de Paulo Freire. São Paulo: Moraes, 1980.
_________. Cultura popular e educação popular: memória dos anos sessenta. Rio de
Janeiro: Graal, Paz e Terra, 1983.
_________. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1984.
_________. Pedagogia do oprimido. 40. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2005.
_________. Extensão ou comunicação? 13. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2006.
FREITAS, M. F. Q. Psicologia na comunidade, psicologia da comunidade e psicologia
(social) comunitária: práticas da psicologia em comunidade nas décadas de 60 a 90, no
Brasil. In: CAMPOS, R., H. F. (Org.). Psicologia Comunitária: da solidariedade à autono-
mia. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2001. p. 17-34.
_________. Educação de jovens e adultos, educação popular e processos de conscienti-
zação: intersecções na vida cotidiana. Revista Educar, Curitiba, n. 29, p. 47-62, 2007.
GÓIS, C. W. de L. Noções de psicologia comunitária. Fortaleza: Edições UFC, 1994.
_________. Psicologia Comunitária no Ceará – uma caminhada. Fortaleza: Publicações
Instituto Paulo Freire, 2003.
_________. Psicologia Comunitária: atividade e consciência. Fortaleza: Instituto Paulo
Freire de Estudos Psicossociais, 2005.
_________. Saúde comunitária: pensar e fazer. São Paulo: Hucitec, 2008.
LANE, S. T. M. Histórico e fundamentos da Psicologia Comunitária no Brasil. In: CAMPOS,
R., H. F. (Org.). Psicologia Comunitária: da solidariedade à autonomia. 6. ed. Petrópolis:
Vozes, 2001. p. 17-34.
MARTIN-BARÓ, I. Psicología de la liberación. 1. ed. Madrid: Editorial Trotta, 1998.
MONTERO, M. Introducción a la Psicología Comunitaria: desarrollo, conceptos y pro-
cesos. Buenos Aires: Paidós, 2004.
_________. Hacer para transformar: el método en la psicología comunitaria. Buenos
Aires: Paidós, 2006.
RIBEIRO, M. V. M.; NEVES, M. M. B. A educação e a psicanálise: um encontro possível?
Psicologia: Teoria e Prática, São Paulo, v. 8, n. 2, p. 112-122, 2006.
SANCHEZ, A. V. Manual de Psicologia Comunitária. Um enfoque integrado. Madrid:
Ediciones Pirâmide, 2007.
SAWAIA, B. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética exclusão/
inclusão. In: _________. (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética
da desigualdade social. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.
TORO, R. Biodanza. 2. ed. São Paulo: Olavobras, 2005.
160 Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161
Psicologia Comunitária e Educação Libertadora
VIEIRA, E. M; XIMENES, V. M. Conscientização: em que interessa este conceito à psico-
logia. Revista Argumento, Paraná, v. 26, n. 52, p. 11-22, jan./mar. 2008.
XIMENES, V. M.; NEPOMUCENO, B. B.; MOREIRA, A. E. M. M. Cooperação universitária:
um caminho dialógico, libertador e crítico construído no Núcleo de Psicologia Comu-
nitária. In: XIMENES, V. M.; AMARAL, C. E. M.; REBOUÇAS JÚNIOR, F. G. Psicologia
comunitária e educação popular: vivências de extensão/cooperação universitária no
Ceará. Fortaleza: LC Gráfica e Editora, 2008. p. 63-87.
Contato
Verônica Morais Ximenes
Av. Santos Dumont, nº 7000, ap. 903 A – Papicu
Fortaleza – CE
CEP 60190-800
e-mail: vemorais@yahoo.com.br
Tramitação
Recebido em agosto de 2008
Aceito em novembro de 2008
Psicologia: Teoria e Prática – 2008, 10(2):147-161 161
Você também pode gostar
- Procedimentos Metodológicos Na Psicologia SocialDocumento32 páginasProcedimentos Metodológicos Na Psicologia SocialPRICILA SANTOSAinda não há avaliações
- Dimensão subjetiva: uma proposta para uma leitura crítica em psicologiaNo EverandDimensão subjetiva: uma proposta para uma leitura crítica em psicologiaAinda não há avaliações
- Psicologia escolar e educacional: Percursos, saberes e intervençõesNo EverandPsicologia escolar e educacional: Percursos, saberes e intervençõesAinda não há avaliações
- SSO3 Psicologia Social IDocumento166 páginasSSO3 Psicologia Social IRosana Fuzetti100% (2)
- O Ódio A Si Mesmo Entre Os JudeusDocumento13 páginasO Ódio A Si Mesmo Entre Os JudeusLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- PSO - HeE - Aula 5Documento26 páginasPSO - HeE - Aula 5Fabrícia Silva BarrosAinda não há avaliações
- Nepomuceno Et Al 2008 Por Uma Psi Com Como LibertacaoDocumento9 páginasNepomuceno Et Al 2008 Por Uma Psi Com Como LibertacaoBruno Halyson NobreAinda não há avaliações
- Livro - Sociedade, Educação e SubjetividadeDocumento174 páginasLivro - Sociedade, Educação e SubjetividadeJul1nh4Ainda não há avaliações
- Psicologia No Ensino MédioDocumento13 páginasPsicologia No Ensino MédioFábio SorianoAinda não há avaliações
- Contribuições Da Psicologia Da Educação No Contexto Escolar BrasileiroDocumento16 páginasContribuições Da Psicologia Da Educação No Contexto Escolar BrasileiroBelino Dos Reis BarrosAinda não há avaliações
- Abordagens Metodológicas Da EFIDocumento20 páginasAbordagens Metodológicas Da EFIBruno NunesAinda não há avaliações
- Políticas Públicas em EducaçãoDocumento9 páginasPolíticas Públicas em EducaçãoLeonardo Eustáquio100% (1)
- 06 Desenvolvimento-Da-Psicologia-Escolar-No-BrasilDocumento44 páginas06 Desenvolvimento-Da-Psicologia-Escolar-No-BrasilAderilson OliveiraAinda não há avaliações
- A Atuação Do Psicólogo Como Expressão Do Pensamento Crítico em Psicologia e Educação PDFDocumento35 páginasA Atuação Do Psicólogo Como Expressão Do Pensamento Crítico em Psicologia e Educação PDFAndré Almeida0% (1)
- Texto 1 AS INTERFACES HISTÓRICAS ENTRE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃODocumento20 páginasTexto 1 AS INTERFACES HISTÓRICAS ENTRE PSICOLOGIA E EDUCAÇÃOAndré de SáAinda não há avaliações
- 3Documento58 páginas3Felipe2 Cristi2Ainda não há avaliações
- A Atuacao Do Psicologo Como Expressao DoDocumento35 páginasA Atuacao Do Psicologo Como Expressao Dodrika potatoAinda não há avaliações
- Artigo 4Documento11 páginasArtigo 4hum seiAinda não há avaliações
- An Overview On Social Psychology in Brazil - TheoreticalDocumento7 páginasAn Overview On Social Psychology in Brazil - TheoreticalpecapeAinda não há avaliações
- 04 Psicologia Social Brasileira e As Categorias Sócio-HistóricasDocumento24 páginas04 Psicologia Social Brasileira e As Categorias Sócio-HistóricasISABELLY VASCONCELOSAinda não há avaliações
- Psicologia Escolar e Educacional em Busca de Novas PerspectivasDocumento5 páginasPsicologia Escolar e Educacional em Busca de Novas PerspectivasCarolina MartinsAinda não há avaliações
- Psicologia Escolar - Praticas Criticas - Parte 1, 2 e 3Documento27 páginasPsicologia Escolar - Praticas Criticas - Parte 1, 2 e 3Renata Re Renatinha Freire50% (2)
- Fundamentos Teórico-Filosóficos e Suas Determinações Nas Teorias Pedagógicas Da Educação Escolar.Documento20 páginasFundamentos Teórico-Filosóficos e Suas Determinações Nas Teorias Pedagógicas Da Educação Escolar.Ana Carolina GalvãoAinda não há avaliações
- o Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFDocumento12 páginaso Lugar Da Psicologia Na educaÇÃo Contemporânea PDFCamillaSobralAinda não há avaliações
- O Serviço Social e A Questão SocialDocumento6 páginasO Serviço Social e A Questão SocialJanice FerreiraAinda não há avaliações
- Aula 1 - Epistemologia e Contextualização Da Psicologia SocialDocumento16 páginasAula 1 - Epistemologia e Contextualização Da Psicologia Socialmarcelohtz3136Ainda não há avaliações
- Livro Didático, Utilizações e Sentidos Da Palavra IdeologiaDocumento23 páginasLivro Didático, Utilizações e Sentidos Da Palavra IdeologiaLarisse LimaAinda não há avaliações
- 45626-Texto Do Artigo-130644-1-10-20191022Documento9 páginas45626-Texto Do Artigo-130644-1-10-20191022Gabrielle CabralAinda não há avaliações
- 04 Profissao Docente 04Documento15 páginas04 Profissao Docente 04carlaAinda não há avaliações
- Resenha Crítica O Que É PsicologiaDocumento9 páginasResenha Crítica O Que É PsicologiaMylene Freitas De Oliveira100% (1)
- A Formação Da Psicologia Social Como Campo Cientifico No BrasilDocumento11 páginasA Formação Da Psicologia Social Como Campo Cientifico No BrasilFernando PocahyAinda não há avaliações
- Abordagens, Concepções e PerspectivasDocumento18 páginasAbordagens, Concepções e Perspectivasromeiro1885Ainda não há avaliações
- Bock, Amm Et Al - Silva Lane e o Compromisso Social Da PsicologiaDocumento11 páginasBock, Amm Et Al - Silva Lane e o Compromisso Social Da PsicologiaJúlia Dorigo100% (1)
- Psicologia Crítica: Integração Entre Teoria e Prática Na ComunidadeDocumento16 páginasPsicologia Crítica: Integração Entre Teoria e Prática Na ComunidadeMarcus NunesAinda não há avaliações
- Temas em Psicologia Social - NP1Documento4 páginasTemas em Psicologia Social - NP1Bruna PontesAinda não há avaliações
- Trabalho Sevrino Sobre Funcionalismo Do Serviço Social PDFDocumento19 páginasTrabalho Sevrino Sobre Funcionalismo Do Serviço Social PDFDaniel Marinho100% (4)
- Ebook Psicologia Da Educação PDFDocumento87 páginasEbook Psicologia Da Educação PDFgilsoncdspkheAinda não há avaliações
- Sociologia Filosofia e EticaDocumento196 páginasSociologia Filosofia e EticaJunior CorrêaAinda não há avaliações
- ZANELLA, Maria Nilvane. IV CIPS. Bases Teóricas Da Socioeducação LiberalDocumento17 páginasZANELLA, Maria Nilvane. IV CIPS. Bases Teóricas Da Socioeducação LiberalNilvane E. Ricardo PeresAinda não há avaliações
- Texto 04 - SÍLVIA LANE E O PROJETO DO COMPROMISSO SOCIAL DA PSICOLOGIADocumento12 páginasTexto 04 - SÍLVIA LANE E O PROJETO DO COMPROMISSO SOCIAL DA PSICOLOGIAMarluce BarbosaAinda não há avaliações
- Ideologia Na EducacaoDocumento15 páginasIdeologia Na EducacaoEzequias Lopes0% (1)
- Compromisso Social Da Psicologia - Silvia Lane EtDocumento11 páginasCompromisso Social Da Psicologia - Silvia Lane EtLeandro Azeredo BritoAinda não há avaliações
- Epistemologia e Pesquisa em Psicologia SocialDocumento43 páginasEpistemologia e Pesquisa em Psicologia SocialmarialuizamaltadossantosAinda não há avaliações
- A Psicologia Corporal No Campo Da PsicologiaDocumento11 páginasA Psicologia Corporal No Campo Da PsicologiaAriane GomesAinda não há avaliações
- Cristianobodart,+1 4Documento23 páginasCristianobodart,+1 4Caio SantosAinda não há avaliações
- Contribuição Da Fenomenologia Hermenêutica para A Psicologia SocialDocumento26 páginasContribuição Da Fenomenologia Hermenêutica para A Psicologia SocialTamiris MarquesAinda não há avaliações
- Gessione Da Cunha - Ensaio Sobre Psicologia SocialDocumento5 páginasGessione Da Cunha - Ensaio Sobre Psicologia SocialGessione CunhaAinda não há avaliações
- (BARROCO, TULESKI, FACCI, 2013) Psicologia Histórico-Cultural, Marxismo e EducaçãoDocumento21 páginas(BARROCO, TULESKI, FACCI, 2013) Psicologia Histórico-Cultural, Marxismo e EducaçãoDiego Rosero RuizAinda não há avaliações
- (AULA 01) Psicologia Educacional Ou EscolarDocumento23 páginas(AULA 01) Psicologia Educacional Ou EscolarVinício BrígidoAinda não há avaliações
- Do Conhecimento Popular Ao Científico Discutindo A História Da PsicologiaDocumento30 páginasDo Conhecimento Popular Ao Científico Discutindo A História Da PsicologiaCamila IncauAinda não há avaliações
- Fichamento 1. Psicologia SocialDocumento3 páginasFichamento 1. Psicologia SocialMaria CeciliaAinda não há avaliações
- Artigo Abordagens TeóricasDocumento22 páginasArtigo Abordagens TeóricasRose Angela BuenoAinda não há avaliações
- Relatório Parcial PIBIC 2021-2022 - Hélder Coelho BarretoDocumento5 páginasRelatório Parcial PIBIC 2021-2022 - Hélder Coelho BarretoHélder HélderAinda não há avaliações
- Roteiro de Estudo SocialDocumento6 páginasRoteiro de Estudo SocialMaria Eduarda Paschoalini0% (1)
- A Ideologia Liberal Nas Matrizes Da PsicologiaDocumento3 páginasA Ideologia Liberal Nas Matrizes Da PsicologiaWilson Luis SilvaAinda não há avaliações
- Psicologia, subjetividade e políticas públicasNo EverandPsicologia, subjetividade e políticas públicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Filosofia Da Educação Resenha EncontradaDocumento4 páginasFilosofia Da Educação Resenha Encontradaclaitonreis100% (1)
- Trab Elô ProvaDocumento5 páginasTrab Elô ProvaPriscila Cavenaghi DominguesAinda não há avaliações
- GE - Psicologia Da Aprendizagem e Da Avaliação - 01Documento14 páginasGE - Psicologia Da Aprendizagem e Da Avaliação - 01ROGERIO DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Psicologia Social - MarquesDocumento293 páginasPsicologia Social - MarquesLorrine LeiteAinda não há avaliações
- Formação da Psicologia Brasileira, Currículo e as Demandas de Violência por Motivação ReligiosaNo EverandFormação da Psicologia Brasileira, Currículo e as Demandas de Violência por Motivação ReligiosaAinda não há avaliações
- Historia Da AL Vol 1 - Primeira Parte - Português (Páginas Combinadas e Tamanho Reduzido)Documento109 páginasHistoria Da AL Vol 1 - Primeira Parte - Português (Páginas Combinadas e Tamanho Reduzido)Livia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Diagnóstico Organizacional PDFDocumento13 páginasDiagnóstico Organizacional PDFLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Duas Teses Sobre o Trabalho No Capitalismo PDFDocumento3 páginasDuas Teses Sobre o Trabalho No Capitalismo PDFLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- O Conceito de Vulnerabilidade Social No Ambito DaDocumento16 páginasO Conceito de Vulnerabilidade Social No Ambito DaLivia Gomes Dos Santos100% (1)
- Saúde Mental Questão Social PDFDocumento17 páginasSaúde Mental Questão Social PDFLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Orientação ProfissionalDocumento9 páginasOrientação ProfissionalLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Adição Ao Trabalho e Relação Com Fatores de Risco Sociodemográficos, Laborais e Psicossociais PDFDocumento9 páginasAdição Ao Trabalho e Relação Com Fatores de Risco Sociodemográficos, Laborais e Psicossociais PDFLivia Gomes Dos Santos100% (1)
- Experiências Do Rio de Janeiro e Nova I (2017) PDFDocumento403 páginasExperiências Do Rio de Janeiro e Nova I (2017) PDFDaiani BarbozaAinda não há avaliações
- 80 Anos Do Manifesto Dos Pioneiros Da Educação Nova PDFDocumento12 páginas80 Anos Do Manifesto Dos Pioneiros Da Educação Nova PDFLivia Gomes Dos SantosAinda não há avaliações
- Escala de Avaliação de Transtornos de Comportamento Disruptivos para Pais e ProfessoresDocumento8 páginasEscala de Avaliação de Transtornos de Comportamento Disruptivos para Pais e ProfessoresLizandra SoaresAinda não há avaliações
- Da Ética Contextualista À Moral UniversalDocumento13 páginasDa Ética Contextualista À Moral UniversalCaius BrandãoAinda não há avaliações
- Aula 00 de PortuguêsDocumento32 páginasAula 00 de PortuguêsjanetepirigueteAinda não há avaliações
- Eneagrama - Resultado de PersonalidadeDocumento13 páginasEneagrama - Resultado de PersonalidadeCamilaAinda não há avaliações
- Serie Consequences - #2.5 - Behind His Eyes - Truth - Aleatha RomigDocumento223 páginasSerie Consequences - #2.5 - Behind His Eyes - Truth - Aleatha RomigJuliano Sampaio ConegundesAinda não há avaliações
- Microsoft Word - CORRENTES DE PENSAMENTO EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEMDocumento6 páginasMicrosoft Word - CORRENTES DE PENSAMENTO EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEMHanna BuhayovaAinda não há avaliações
- BNCC - Educacão InfantilDocumento53 páginasBNCC - Educacão InfantilMaju Fontenele100% (9)
- Psicoterapia Analítica Funcional (FAP)Documento41 páginasPsicoterapia Analítica Funcional (FAP)Nelson GuedesAinda não há avaliações
- Temperamentos Humanos - (As 7 Partes) - Prof. Adhemar RamosDocumento20 páginasTemperamentos Humanos - (As 7 Partes) - Prof. Adhemar Ramosmauricio100% (4)
- Teorias e Práticas PedagógicasDocumento4 páginasTeorias e Práticas PedagógicasAline GuimarãesAinda não há avaliações
- A Importância Do Desenvolvimento Dos Fornecedores.Documento3 páginasA Importância Do Desenvolvimento Dos Fornecedores.Luciana De jesus limaAinda não há avaliações
- O Drama Barroco em A Terceira Margem Do RioDocumento5 páginasO Drama Barroco em A Terceira Margem Do RioSandra M. S. SoaresAinda não há avaliações
- Aula GestaltDocumento15 páginasAula GestaltAlexandre GarciaAinda não há avaliações
- Futsal Aquisição, Iniciação e EspecializaçãoDocumento94 páginasFutsal Aquisição, Iniciação e EspecializaçãoFelipe100% (1)
- Aula 08 Consultoria Interna e ExternaDocumento20 páginasAula 08 Consultoria Interna e ExternaAléxia VegaAinda não há avaliações
- Análise Sociológica de Papéis de Gênero Na LiteraturaDocumento8 páginasAnálise Sociológica de Papéis de Gênero Na LiteraturaDesireeAinda não há avaliações
- Absalao, Absalao! - William FaulknerDocumento277 páginasAbsalao, Absalao! - William FaulknerDebora Alves100% (2)
- MÚSICAS - ECAD ATUALIZADA P Se Fazer Ajustes No Dia 02 12 - 22 11 16Documento4 páginasMÚSICAS - ECAD ATUALIZADA P Se Fazer Ajustes No Dia 02 12 - 22 11 16Died NuenfAinda não há avaliações
- Dra. Maria Lúcia BeraldoDocumento2 páginasDra. Maria Lúcia Beraldoseemlyparish3153Ainda não há avaliações
- Critérios de Qualidade em IHCDocumento2 páginasCritérios de Qualidade em IHCFagner GonzagaAinda não há avaliações
- Aula Jung SlidesDocumento11 páginasAula Jung SlidesCamila Carbogim100% (1)
- Aula 06 - o Impacto Geracional No Seu Sucesso Profissional Constelação SistemicaDocumento20 páginasAula 06 - o Impacto Geracional No Seu Sucesso Profissional Constelação SistemicaNaddja KellianneAinda não há avaliações
- Avaliação - LudoterapiaDocumento3 páginasAvaliação - LudoterapiaSheila LélisAinda não há avaliações
- A EstrelaDocumento2 páginasA EstrelaJ. FrançaAinda não há avaliações
- A Evolução Da Educação Infantil No BrasilDocumento2 páginasA Evolução Da Educação Infantil No BrasilANTONIO CARLOS DOS SANTOS MONTEIRO JÚNIORAinda não há avaliações
- Animismo MaquínicoDocumento29 páginasAnimismo MaquínicoCadu MelloAinda não há avaliações
- Depressão No IdosoDocumento33 páginasDepressão No IdosoROVARON1956Ainda não há avaliações
- Brincadeiras Demais AtrapalhamDocumento2 páginasBrincadeiras Demais AtrapalhamSegurança do TrabalhoAinda não há avaliações
- ALBERONI Os InvejososDocumento34 páginasALBERONI Os InvejososAlexandre Yuri100% (1)
- Exercicios de Calculo de SalarioDocumento6 páginasExercicios de Calculo de SalarioPedro AugustoAinda não há avaliações