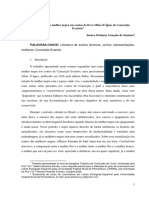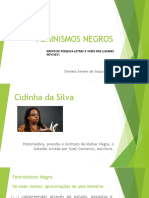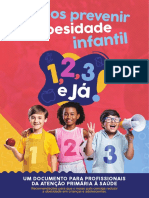Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ser Pardo
Ser Pardo
Enviado por
RobertodeOLiveiraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ser Pardo
Ser Pardo
Enviado por
RobertodeOLiveiraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
ISSN 2525-6904
!29
ARTIGOS
Ser Pardo
O limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação da identidade
Lauro Felipe Eusébio GOMES, Instituto Federal de Minas Gerais
Este artigo busca apontar a necessidade de pensar-se o racismo por meio
da perspectiva dos produtos da miscigenação brasileira: os pardos, já
que o embranquecimento foi, no Brasil, uma estratégia de genocídio da
população negra e indígena. Por isso, o texto é uma confluência entre
teorias sobre a miscigenação e a narrativa do autor, visando construir
um corpo de denúncia ao limbo identitário-racial por intermédio do
entendimento sobre o surgimento do sujeito pardo e de sua situação.
Nesse sentido, o artigo é divido em quatro partes. A primeira trata da
criação do limbo onde a historicidade da miscigenação brasileira é
evocada. A próxima seção, “O limbo e suas características” demonstra as
características da situação do pardo no Brasil e como ela é descrita
socialmente; a terceira, “A saída do limbo”, pretende refletir sobre a
necessidade (ou não) da autodefinição (e reivindicação) racial do pardo,
como negro, e as maneiras possíveis para fazê-lo. A quarta e última seção
apresenta as considerações finais e perspectivas para novas produções
sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: Racismo estrutural. Miscigenação. Identidade racial.
Mulheres negras. Pardo.
!
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !67
Quer dizer mais que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma
presença no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que,
reconhecendo a outra presença como um “não eu” se reconhece como
“si própria”. Presença que se pensa a si mesma, que se sabe presença,
que intervém, que transforma, que fala do que faz mas também do que
sonha, que constata, compara, avalia, valora, que decide, que rompe
(FREIRE, 2018, p.20).
Introdução
Como sabemos, o Brasil é um país miscigenado. Nesse sentido, o
presente artigo foi escrito com a finalidade de apresentar a convergência
entre teorias sobre a miscigenação e a narrativa do autor, visando à
construção de um corpo de denúncia ao limbo identitário-racial por
intermédio do entendimento sobre o surgimento do sujeito pardo e de
sua situação. Nessa acepção, este texto ocorre na perspectiva da
necessidade da pluralidade de vozes brasileiras, e acontece na medida
em que existe uma voz instituída como universal e que, não
surpreendentemente, grita do topo da pirâmide hierárquica de opressão.
Essa voz, que não só grita como cala, é branca, rica, heterossexual,
cisgênero, cristã e masculina, mesmo que não se perceba como tal. As
vivências, existências e vozes que marcam o restante da população,
forçadas ao silêncio, condensam um nó na garganta de cada cidadão que
não se apresenta como padrão. Esses nós precisam ser desatados e
expostos. Por essa razão, este texto não é apenas uma reflexão teórica
feita por intermédio de bibliografias sobre miscigenação e negritude,
mas também deriva das minhas vivências enquanto uma pessoa de cor
parda.
Inicialmente, precisamos entender que pessoas de cor parda são
a maioria da população brasileira, já que o processo de miscigenação
entre diferentes grupos étnico-raciais no Brasil foi/é intenso. E, já que
encontramos racismo em todas as relações brasileiras (o que define seu
estruturalismo), o sujeito pardo não está isento dele. Apesar disso, não é
fora de costume encontrar quem acredite no contrário. A miscigenação
como marca de um país calcado em teorias eugenistas imigratórias e
estupros institucionais foi largamente estudada por autores brasileiros,
no entanto, a situação de seus produtos permanece em uma espécie de
limbo racial-identitário, de onde alguns outros autores tentam resgatá-
los. Como afirmam Silva e Leão (2012, p.131), “a multiplicidade de
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Lauro Felipe Eusébio GOMES !68
significados que a identidade parda pode ter ainda precisa ser
explorada”. Então, esse é o foco deste artigo: construir uma narrativa
sobre a situação parda, a fim de denunciar seu lugar de vulnerabilidade e
a necessidade de seu envolvimento político nas questões raciais,
evocando seu surgimento histórico e as intenções da elite em sua
fabricação. Na verdade, acredito que a historicidade do pardo é, sim,
determinante na compreensão de sua origem, mas, principalmente, de
seu limbo e de sua identidade.
O embranquecimento da população negra e ameríndia existe
como estratégia de genocídio desde o começo da diáspora forçada no
século XVI. Alguns de seus meios, no entanto, alteraram-se durante os
anos – o estupro da mulher negra é descrito como o primeiro. Por isso, o
sujeito miscigenado é, antes de tudo, produto de séculos de estupros
institucionais de mulheres negras e indígenas – da violação dos corpos
de pessoas escravizadas ou, como escreve Abdias do Nascimento (1978,
p.69): “[para solucionar a ameaça da ‘mancha negra’] um dos recursos
utilizados foi o estupro da mulher negra pelos brancos da sociedade
dominante, originando os produtos de sangue misto: o mulato, o pardo,
o moreno, o pardavasco, o homem-de-cor, o fusco”.
Entretanto, a partir do final do século XIX, o genocídio por
branqueamento expressava-se fortemente também nas políticas
imigratórias brasileiras, que estavam justificadas em sua fundação por
teorias eugenistas – a raça branca, como superior, recruzando-se muitas
vezes com a população negra, indígena e miscigenada, acabaria por
exterminá-la. Obviamente, essa pseudociência não se apresenta como
nada além de racismo, e os cruzamentos forçados não exterminaram o
negro e nem o indígena, mas criaram esse limbo em que o pardo está.
Afinal, para documentar esse branqueamento institucional, estatísticas
demográficas foram realizadas e essas pesquisas demonstram a
existência de pressão sobre pessoas de cor: para o negro, a de afirmar-se
como pardo; para o pardo, para afirmar-se como branco. Nas palavras de
Nascimento (1978, p. 74-75), “temos, então, os mulatos claros
descrevendo-se a si mesmos como brancos; os negros identificando-se
como mulatos, pardos ou mestiços, ou recorrendo a qualquer outro
escapismo no vasto arsenal oferecido pela ideologia dominante.”
De imediato, durante a escravidão, o pardo encontrou-se nas
intermediações entre a casa branca e a senzala: “[ele] foi capitão-de-
mato, feitor, usado noutras tarefas de confiança dos
senhores” (NASCIMENTO, 1978, p.69). Sua ascensão social, como
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !69
liberto ou mesmo após a escravidão, era mais possível que aos pretos
livres, justamente por, em uma sociedade regida pela norma branca,
possuir mais tolerabilidade.
Com o desenvolvimento da literatura da sociedade brasileira, o
pardo recebeu consigo dois fardos simbólicos: a democracia racial
brasileira e a sensualidade. O primeiro, defendido por Gilberto Freyre,
citado por outros autores, mostra-se como entendimento da inexistência
de “fronteiras rígidas entre grupos etno-raciais” (SILVA; LEÃO, 2012, p.
120), forçando o afastamento da miscigenação e seus produtos de sua
construção genocida, estupradora, bastarda e de sua imagem promíscua,
para ser entendida então como retrato da tolerância e dos casamentos
inter-raciais. Como escreve Djamila Ribeiro (2018, p.117), “é importante
ressaltar que a miscigenação muitas vezes louvada no país também foi
fruto de estupros cometidos contra elas [mulheres negras]. Essa
tentativa de romantização da miscigenação procura escamotear a
violência”.
Entretanto, o segundo fardo simbólico, perpetuado em ditados
populares como “Branca para casar, Negra p'ra trabalhar, Mulata p'ra
fornicar” (NASCIMENTO, 1978, p.62) e expresso nas obras literárias
como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, foca,
principalmente, na feminilidade. Nesse sentido, termos como “mulata” e
“moreninha” são centrais na denúncia da hipersexualização de corpos
negros miscigenados. Hoje, o termo “cafuçu” (uma variação de “cafuzo”,
mistura de negro e indígena) é recorrentemente usado no âmbito
pornográfico gay brasileiro para sexualizar homens miscigenados – a
exemplo, uma simples pesquisa na plataforma de streaming online de
vídeos adultos mais acessada do mundo, o “XVideos”, com o filtro “gay”,
pelo termo “cafuçu” chega a quantificar quase dois mil resultados..
Insistirei na abdicação desses termos para discorrer sobre a questão
racial no Brasil mais à frente em nossa discussão.
Em suma, a miscigenação surgiu principalmente por intermédio
de duas vias institucionais – o estupro de mulheres negras e indígenas e
as políticas imigratórias –, tornando o pardo intermediador da casa
branca (nunca a seu alcance) e da senzala (ainda propriedade, ainda
serviçal); símbolo da democracia racial e da sensualidade. Nesse sentido,
a herança-realidade do pardo deu início ao que me refiro, aqui, como
limbo racial-identitário.
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Lauro Felipe Eusébio GOMES !70
2. O limbo e suas características
“Negro demais para ser branco, branco demais para ser negro”.
Essa afirmação centraliza qualquer que seja o pensamento sobre a
identidade racial do pardo e simboliza perfeitamente o conflito em que
ele está recorrentemente. O limbo racial-identitário recebe esse nome
pela obviedade do que ele é: um (não) lugar onde pardos estão, cuja
característica principal é a ausência de identidade e consciência racial (a
partir dessa, outras peculiaridades são geradas).
O pardo, desde a infância, encontra-se referido com eufemismos
para “negro” ou “indígena”, sendo eles “moreno”, “moreninho”,
“mulato”, “indiozinho”, “marronzinho”, “café com leite” e tantos outros.
Ele percebe-se, o tempo todo, racializado, mas nunca explicitamente
como negro ou indígena. Então, quando questionado sobre “o que é”,
talvez responda prontamente “pardo”, sem entender que pardo não é
identidade racial, pardo é cor – que marca um processo de genocídio que
estuprou mulheres negras e indígenas e que se baseou em séculos de
teorias eugenistas. Os próprios termos usados na racialização dessas
pessoas são pejorativos: Grada Kilomba, em entrevista a Djamila
Ribeiro, disse:
Em Lisboa também há toda essa hierarquização de termos como
‘mulato’ e ‘mestiço’. E as pessoas usam o termo sem saber o que quer
dizer. São termos ligados a animais híbridos, colocam referências do
corpo negro como animal. São depreciativos (RIBEIRO, 2018, p.110).
Mas, além disso, o pardo é o estágio de transição entre negros,
indígenas e brancos, movendo-se para a branquitude. Nesse sentido,
como, historicamente, o ser negro é associado à escravidão, à falta de
afeto, ao trabalho braçal, à pobreza e à criminalidade, e o ser indígena à
selvageria, à incivilidade e à preguiça, é natural que o pardo tente se
embranquecer. Segundo Fernandes e Souza (2016, p.109),
a identidade presente no imaginário social das pessoas é diferente para
o grupo étnico-racial negro e para o grupo étnico-racial branco. Ambas
são mistificadas socialmente, mas de maneira distinta e contraposta.
Na forma dominante, o branco é mistificado como expressão de
superioridade e universalidade que dispensa especificações. Em
contraposição, o negro é colocado no paradigma de inferioridade,
expressão do que é exótico ou ruim.
Neusa Souza Santos (1983, p.22) completa:
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !71
a inexistência de barreiras de cor e de segregação racial – baluartes da
democracia racial – associada à ideologia do embranquecimento,
resultava num crescente desestímulo à solidariedade do negro que
percebia seu grupo de origem como referência negativa, lugar de onde
teria que escapar para realizar, individualmente, as expectativas de
mobilidade vertical ascendente.
Logo, como estratégia de genocídio, o embranquecimento
transformou-se dentro do contexto racial. Se antes acontecia por meio de
estupros e políticas imigratórias institucionais, agora também nega a
seus produtos a própria identidade. Exatamente por isso, o pardo, como
não se sente negro, nem indígena e tampouco branco, também não se
entende no direito de falar de racismo em nenhuma das três
perspectivas, originando a segunda característica do limbo racial-
identitário dos pardos: seu silêncio. Desse modo, esses sujeitos
percebem-se erroneamente à margem do racismo, por vezes negando o
estruturalismo dele e impedindo que suas vivências componham a massa
de críticas antirracistas necessárias ao rompimento dos instrumentos de
opressão branca sobre a negritude e comunidade indígena. Como
destacam Fernandes e Souza (2016, p.111),
a fábula da democracia racial dissimula tensões raciais e cria a ilusão
de inclusão, silenciando vozes que denunciam a violência real e
simbólica, construindo, de muitas formas, tanto lugares de privilégio
quanto de exclusão e discriminação. As estigmatizações e humilhações
sociais cotidianas, explicitas ou implícitas, sutis ou veladas, levam
muitas vezes à formação de uma identidade negra ambígua e
fragmentada. O ideal do branqueamento conduz alguns negros ao
paradoxo instalado em sua subjetividade – a desejar tudo aquilo que
representa a sua negação, ou seja, a brancura.
Dessa forma, o silêncio do pardo, então, fornece as bases para a
existência da terceira peculiaridade desse espaço: a desorganização
dessas pessoas no combate ao racismo. Essa desorganização é um dos
fatores que permite a perpetuação do mito da democracia racial, que se
encontra abundantemente nesse limbo como a quarta singularidade.
Acredito ser preciso reforçar que o limbo não surgiu
naturalmente das convergências de diferentes povos e desenvolvimento
da sociedade brasileira, ele foi criado pela classe branca dominante, por
meio do embranquecimento de intenções genocidas. Ele é um processo
de aculturação que “invade o negro e o mulato até à intimidade mesma
do ser negro e do seu modo de autoavaliar-se” (NASCIMENTO, 1978, p.
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Lauro Felipe Eusébio GOMES !72
94). Em vista disso, também, é que o pardo é, ao mesmo tempo, marca
de um genocídio e objeto dele.
A problemática do limbo precisa urgentemente ser
desconstruída, e sua chave é, inegavelmente, a consciência racial, já que
“a dificuldade de se pensar a questão racial está ligada ao processo de
desmemorização das vicissitudes históricas da diáspora africana,
principalmente daquelas relacionadas à construção da identidade negra
no Brasil” (FERNANDES; SOUZA, 2016, p.111). O pardo, como ser
racializado que é, não performa na branquitude, ou seja, não é branco. E
as estruturas socioeconômicas e políticas brasileiras, em suas várias
formas de expressão, são excludentes com esse grupo também. Existe,
aqui, a necessidade de enfrentar os eufemismos e o mito democracia
racial para que o sujeito pardo se entenda como corpo vulnerável dentro
de um sistema branco.
3. A saída do limbo
A primeira característica do limbo identitário-racial é a ausência
de identidade racial, como o próprio nome já diz. Isso acontece
justamente pela forma como o pardo é racializado: a partir de
eufemismos de negro ou indígena, criando a imagem de “negro demais
pra ser branco e branco demais para ser negro”. Porém, na verdade, o
pardo não é branco demais para ser negro, já que negritude não é um
fator puramente epidérmico. Grada Kilomba, ao ser questionada por
Djamila Ribeiro sobre democracia racial e pertencimento negro no
contexto brasileiro, afirmou:
[...] Como feminista e lésbica, [Audre Lorde] falou muito sobre a
importância de uma identidade política. Por isso, fizemos vários
cartazes para este evento com a afirmação “Branco não é uma cor”.
Porque branco não é uma cor, é uma afirmação política, assim como
negro. Representa uma história de privilégios, escravatura,
colonialismo, uma realidade cotidiana. A mudança começa pela
autodefinição e pela importância disso. É necessário desmitificar essa
hierarquia. (RIBEIRO, 2018, p.110).
Ainda de acordo com Guimarães (2003, p.106), militantes, por
vezes, “fundem uma ideia de classificação brasileira à política,
entendendo ‘raça’ como uma ascendência biológica e posição política,
enquanto a cor a uma tonalidade de pele considerada objetiva”. Esse
fenômeno é notado por outros autores que também se debruçaram nesse
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !73
sentido. Como exemplo, Silva e Leão (2012, p.122-128), a partir de uma
metodologia de identificação que questionava aos entrevistados, em um
primeiro momento, “Qual sua cor ou raça?” e, em outro, oferecia ao
entrevistado as opções de classificação do IGBE (preto, pardo, amarelo,
indígena ou branco), dividiram a identidade parda em grupos. O
primeiro deles (“negros-pardos”) era formado por pessoas que
identificavam-se espontaneamente como negros e, nos critérios do
IGBE, como pardos. Os autores dessa pesquisa sugerem que esse tipo de
identidade é produto de conscientização racial e ideologia; “a
identificação como pardo é muito menos ressaltada (e mais associada a
fatores que os entrevistados julgam como objetivos) do que a
identificação como negro, que aparece como a mais adequada para esse
grupo de entrevistados.”
Nesse contexto, o racismo brasileiro tem duas peculiaridades que
decifram os motivos de o pardo estar no grupo negro: seu
estruturalismo, isto é, o fato de que está presente em todas as relações da
sociedade. Também, o fato de que ele é de marca, significando isso,
segundo Oracy Nogueira (2006, p.292), que ele “toma por pretexto para
as suas manifestações os traços físicos do indivíduo, a fisionomia, os
gestos, o sotaque”.
Por isso, o pardo, como é racializado, exibe características
negras em seu corpo e, dessa forma, é discriminado por isso, é impedido
de ocupar espaços (principalmente de poder) por essa discriminação e é
sujeito das estatísticas que demarcam o genocídio da população negra –
a cada cem pessoas assassinadas, setenta e uma são negras (FLORES,
2017). Em questões de violência policial, Tarsila Flores (2017. p.16)
postula que a
incoerência entre o discurso vazio de que o Estado que deveria
proteger e a realidade de que é ele o mesmo grande violador de
direitos do povo negro transformou-se na compreensão de que o
racismo estrutural estatal é o que move as relações sociais no Brasil,
assim como promove a tentativa de limpeza racial de forma
incansável, muitas vezes através do suporte institucional.
Por conseguinte, quando se elenca que mais da metade da
população brasileira é negra, na verdade estamos falando de um
contingente grande de pardos e menor de pretos. Como afirmam Silva e
Leão (2012, p.130), “pardos historicamente compartilham uma situação
socioeconômica parecida com a dos pretos, mas sistematicamente
identificam menos discriminação racial do que esse grupo”. Por isso, nos
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Lauro Felipe Eusébio GOMES !74
anos 80, o Movimento Negro Unificado (na política) e estudiosos do
IGBE (analiticamente) reivindicaram o grupo pardo como integrante do
grupo negro, atribuindo, assim, para “negro” o significado de
“afrodescendente” (GUIMARÃES, 2003, p.103).
A descolonização do pensamento do negro brasileiro passa
diretamente pelo combate do mito da democracia racial, um fardo
carregado pelos seus símbolos miscigenados. Dessa forma, a construção
de narrativas das perspectivas de negros-pardos é via de combate ao
racismo estrutural e institucional. Essa desconstrução, então, precisa
resgatar o pardo de seu limbo e atribuir-lhe a identidade que lhe
pertence. Já que, segundo Abdias do Nascimento (1978, p.93), existe
uma
monstruosa máquina ironicamente designada "democracia racial" que
só concede aos negros um único "privilégio": aquele de se tornarem
brancos, por dentro e por fora. A palavra - senha desse imperialismo
da brancura, e do capitalismo que lhe é inerente, responde a apelidos
bastardos como assimilação, aculturação, miscigenação; mas sabemos
que embaixo da superfície teórica permanece intocada a crença na
inferioridade do africano e seus descendentes.
Dessa maneira, se os eufemismos negam ao pardo sua
identidade, eles devem ser negados como forma de identificação,
pertinentemente, já que grande parte dos termos que identificam
(também sexualizam e desumanizam) as pessoas miscigenadas,
principalmente mulheres, são de origem racista. Como diz Grada
Kilomba, “é necessário fazer a historicidade desses termos, porque
muitas vezes as pessoas acham que são palavras positivas, então é
preciso decodificar” (RIBEIRO, 2018, p.110). A exemplo, mulato(a) “era
usado para designar negros de pele mais clara, frutos do estupro de
escravas pelos senhores de engenho. [...]” (RIBEIRO, 2018, p.140). É
uma palavra de origem espanhola que vem de “mula”, isto é,
aquilo que é híbrido, originário do cruzamento entre espécies. Mulas
são animais nascidos da reprodução dos jumentos com éguas ou dos
cavalos com jumentas. Em outra acepção, são resultado da cópula do
animal considerado nobre (equus caballus) com o animal tido de
segunda classe (equus africanus asinus). Sendo assim, trata-se de uma
palavra pejorativa que indica mestiçagem, impureza, mistura
imprópria que não deveria existir (RIBEIRO, 2018, p. 140).
Podemos analisar, também, o termo “cafuçu”, uma variação da
palavra “cafuzo” – pessoa miscigenada de negros e indígenas. Esse termo
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !75
carrega significados pejorativos e que ajudam a perpetuar a
discriminação e os estereótipos de corpos de cor. Por isso, “inútil”,
“preguiçoso”, “trabalhador em condições precárias e isolado
socialmente”, “fisicamente defeituoso” e “homem ausente de qualquer
qualificação” são alguns dos sentidos que esse termo carrega. E, mesmo
sem trazer a luz a sexualização que essa denominação tem, a necessidade
da sua denúncia já é evidente.
Conclusivamente, o pardo se encontra no limbo entre negros e
brancos, movendo-se para a branquitude (alisando o cabelo, rejeitando
suas características negras e cultura). Em outras palavras, encontra-se
em “um processo de autodestruição que se inicia pelo ‘apagamento’ de
marcas físicas (branqueamento físico, mutilações, entre outros) e
psíquicas (negação de sua condição física de negro)” (FERNANDES;
SOUZA, 2016, p.116). Assim, o movimento reverso, em aceitação à sua
estética e em abraço à identidade negra ou indígena é a resistência que
lhe permite colocar-se como sujeito combatente desse processo de
genocídio que é o embranquecimento.
Esse movimento, buscando conciliar o pardo à sua identidade
negra (ou indígena), pode acontecer de várias formas, mas,
principalmente, por meio da busca do sujeito pardo por sua
ancestralidade negra e indígena; pelo consumo de obras de autores
negros e indígenas, buscando a assimilação de visões afro-centradas na
sua vivência; pela valorização de música e teatro negro e indígena; da
participação em eventos que buscam discutir caminhos para o combate
ao racismo; da procura do conhecimento de outras vivências e das várias
formas de ser negro ou indígena no Brasil; do entendimento da sua
situação de vulnerabilidade; do compromisso na construção de
narrativas e pesquisas que aprofundem essa questão, entre outras ações.
Sintetizando, “a reconstrução do ‘ser negro’ passa por um processo de
conscientização e valorização da negritude e pela construção política e
sociocultural de sua identidade” (FERNANDES; SOUZA, 2016, p.116).
Considerações finais
Como o racismo brasileiro é estruturante de nossa sociedade e os
pardos compõem a maior parte dela, é impossível pensar nas dinâmicas
de enfrentamento aos sistemas de opressão branca sem discutir a
condição parda. Por isso, apresento um início de debate sobre o que
representa um sentimento constante do sujeito miscigenado em relação
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Lauro Felipe Eusébio GOMES !76
à sua identidade: o limbo, o não lugar. O limbo é apresentado como
sendo resultado de séculos de estupros institucionais as mulheres negras
e indígenas, de aculturação dessas mesmas comunidades, de políticas
imigratórias racistas, de processos de eugenia e de fardos simbólicos
como a democracia racial.
E, com o suporte de diversos autores, sugeri que se a negação da
identidade negra do pardo é uma estratégia de genocídio da classe
dominante, seu reverso significa resistência, já que esses corpos também
estão expostos a vulnerabilidade de um sistema branco. Em tempo,
entendo que a identidade negra não é uma constante, mas uma variável
que não depende de ter pele retinta1. Dessa forma, existem não uma, mas
várias maneiras de ser negro no Brasil.
Peço licença pelo enfoque que dei ao longo do texto ao
reconhecimento da negritude pelo pardo, em detrimento das dinâmicas
da identidade indígena. Porém, apelo ao leitor que entenda que, apesar
de cruzar algumas mesmas problemáticas, esse debate pode desaguar em
uma discussão profícua e extensa, cujo embasamento teórico e prático eu
não acredito ter.
Reforço, aqui, também, como precisamos abdicar do uso dos
termos “mulata(o)” e “cufuçu” na referência da identidade de pessoas
miscigenadas em geral, justamente pela conotação pejorativa que
carregam.
Como pretendi mostrar ao longo do texto, existe uma
necessidade de construção de bibliografias e pesquisas não apenas sobre
a origem da miscigenação, mas da situação de seus produtos, bem como
da publicação de narrativas nas perspectivas dos pardos. Talvez, as
formas de entendermos melhor as peculiaridades do racismo brasileiro
estejam na exposição das diferenças e semelhanças entre as diversas
identidades negras e indígenas, de retintos a claros. Afinal, para que
arquitetemos estratégias ao combate de uma estrutura tão complexa
como o preconceito étnico e racial no Brasil, é necessário que o
entendamos também nas suas diversas formas e múltiplos níveis de
expressão.
!1 Importante, é claro, reconhecer que numa sociedade onde o racismo é de marca, como a
nossa, negros de pele retinta (ou pretos) estão mais sujeitos a sofrer com suas expressões.
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
Ser Pardo: o limbo identitário-racial brasileiro e a
reivindicação
Lauro da identidade
Felipe Eusébio GOMES !77
Referências
FERNANDES, Viviane B; SOUZA, Maria Cecília C.C. Identidade Negra
entre exclusão e liberdade. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros,
São Paulo, n.63, (p. 103-120), abr. 2016.
FLORES, Tarsila. Cenas de um genocídio: homicídios de jovens negros
no Brasil e a ação de representantes do Estado. 2017. 145 f., il.
Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos e Cidadania) -
Universidade de Brasília, Brasília, 2017.
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática
educativa. 57. ed. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2018.
GUIMARÃES, Antônio S.A. Como trabalhar com raça em sociolocia.
Educação e Pesquisa, São Paulo, v.29, n.1, p. 93-107, jan./jun. 2003.
NASCIMENTO, Abdias do. O genocídio do negro brasileiro: processo de
um racismo mascarado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
NOGUEIRA, Oracy. Preconceito racial de marca e preconceito racial de
origem: Sugestão de um quadro de referência para a interpretação do
material sobre relações raciais no Brasil. Tempo Social, revista de
sociologia da USP, São Paulo, v.19, n.1, p.287-308, nov. 2006.
RIBEIRO, Djamila. Quem tem medo do feminismo negro?. 1. ed. São
Paulo: Companhia das Letras, 2018.
SILVA, Graziela M; LEÃO, Luciana T. S. O paradoxo da mistura:
Identidades, desigualdades e percepção de discriminação entre
brasileiros pardos. Revista brasileira de ciências sociais, São Paulo, v.27,
n.80, p.117-255, out 2012.
SOUZA, Neusa S. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do
negro brasileiro em ascenção social. 1. ed. Rio de Janeiro: Edições Graal,
1983.
Vol 05, N. 01 - Jan. - Mar., 2019 | https://portalseer.ufba.br/index.php/cadgendiv
!78
To be Brown: the Brazilian identitary-racial limbo and
the identity claiming
ABSTRACT: This article seeks to point the need of thinking racism by the
perspective of the products of brazilian miscigenation, the browns,
inasmuch as the racial whitening was, in Brazil, an estrategy of genocide
to black and indigenous population. Therefore, the text is a confluence
between theories about miscigenation and the author’s narrative,
objecting the construction of a body of denounce to the identitary-racial
limbo through the understanding about the emergence of the brown
subject and it’s situation. In this sense, the document is divided in four
parts. The first discuss the limbo creation, where the historicity of the
brazilian miscigenation is evoqued. The next, “The limbo and it’s
characteristics” shows the characteristics of the brown situation in Brazil
and how it is socially described; the third one, “The way out the limbo”
pretends to reflect about the need (or not) of the racial selfdefinition
(and claiming) of the brown, as black, and the ways to make it. The
fourth and last division presents final considerations and perspectives to
new productions about the subject.
KEYWORDS: Structural racism. Miscigenation. Racial identity. Black
women. Brown.
Lauro Felipe Eusébio GOMES
Cursa o Ensino Médio Técnico Integrado em Automação Industrial pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). Na
mesma instituição, é bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Extensão
(PIBEX) pelo projeto Conversation club: oficinas presenciais e produção de
material didático para o ensino e aprendizagem de língua inglesa, atuando
principalmente nos seguintes temas: ensino e aprendizagem, pensamento crítico,
língua inglesa e temas transversais.
Você também pode gostar
- Lugar de negro, lugar de branco?: Esboço para uma crítica à metafísica racialNo EverandLugar de negro, lugar de branco?: Esboço para uma crítica à metafísica racialAinda não há avaliações
- Caderno Atividades Educacao Infantil PDFDocumento93 páginasCaderno Atividades Educacao Infantil PDFcarolina soaresAinda não há avaliações
- Livro Metodologia Da Educação PDFDocumento218 páginasLivro Metodologia Da Educação PDFMAYRA GLEYCIANE NUNES (A)Ainda não há avaliações
- Guia Alimentar para A Pop Brasiliera PDFDocumento156 páginasGuia Alimentar para A Pop Brasiliera PDFcarolina soares100% (1)
- Branquitude Dilema Racial Brasileiro PDFDocumento92 páginasBranquitude Dilema Racial Brasileiro PDFCarolina100% (1)
- Promocao Alimentacao Saudavel Ensino Fundamental IIDocumento140 páginasPromocao Alimentacao Saudavel Ensino Fundamental IIcarolina soares100% (2)
- Bixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesNo EverandBixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesGilmaro NogueiraAinda não há avaliações
- Exercicios de ECG GabaritoDocumento4 páginasExercicios de ECG Gabaritocarolina soaresAinda não há avaliações
- Intoxicação Sexual No Novo Mundo - Casa Grande e SenzalaDocumento19 páginasIntoxicação Sexual No Novo Mundo - Casa Grande e SenzalaJorge Paulo SilverioAinda não há avaliações
- ImunoensaiosDocumento22 páginasImunoensaioscarolina soares100% (1)
- Inflamação Completo PDFDocumento33 páginasInflamação Completo PDFcarolina soaresAinda não há avaliações
- Homo Ludens HuizingaDocumento17 páginasHomo Ludens HuizingaCintia AlvesAinda não há avaliações
- Metodologias Ativas para Uma Educacao Inovadora PDFDocumento11 páginasMetodologias Ativas para Uma Educacao Inovadora PDFAntonio Carlos Dos SantosAinda não há avaliações
- Doenças NeurodegenerativasDocumento65 páginasDoenças Neurodegenerativascarolina soaresAinda não há avaliações
- Por Um Feminismo Afro-Latino-Americano - Lélia GonzalezDocumento11 páginasPor Um Feminismo Afro-Latino-Americano - Lélia GonzalezElaine CamposAinda não há avaliações
- Atividade de Português Classes Gramaticais e Orações Coordenadas 2º Ano Do Ensino Médio Modelo EditávelDocumento4 páginasAtividade de Português Classes Gramaticais e Orações Coordenadas 2º Ano Do Ensino Médio Modelo Editávelpatsilva2524Ainda não há avaliações
- Além de Preto Bicha Uilton Júnior FinalDocumento6 páginasAlém de Preto Bicha Uilton Júnior FinalOnã Rudá CavalcantiAinda não há avaliações
- A Persistência Da RaçaDocumento6 páginasA Persistência Da RaçaPatricia MartinezAinda não há avaliações
- Conceicao EvaristoDocumento15 páginasConceicao EvaristoSilvaFranciscoAinda não há avaliações
- Estágio Ensino FundamentalDocumento32 páginasEstágio Ensino FundamentalDhay100% (2)
- História Da Sexualidade I (Foucault) - FichamentoDocumento5 páginasHistória Da Sexualidade I (Foucault) - Fichamentoaneferrari0% (1)
- Molde para FeltroDocumento5 páginasMolde para Feltrocarolina soaresAinda não há avaliações
- Aula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Documento38 páginasAula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Graziele ArraesAinda não há avaliações
- Antropologia EulaDocumento7 páginasAntropologia Eulaeula.paula.silvaAinda não há avaliações
- Abordagem Conceitual Das Noções de Raça, Racismo, Identidade e EtniaDocumento20 páginasAbordagem Conceitual Das Noções de Raça, Racismo, Identidade e EtniaCarolina Maria Isabella Necho Ng LeeAinda não há avaliações
- O Racismo Na Novela Brasileira - Anderson Caetano Dos SantosDocumento16 páginasO Racismo Na Novela Brasileira - Anderson Caetano Dos SantosMartha Bento100% (1)
- A "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No BrasilDocumento6 páginasA "Democracia Racial" e A Negação Do Racismo No Brasiladriano cesar montagnaAinda não há avaliações
- Racismo No BrasilDocumento4 páginasRacismo No BrasilJonatham Santos LETRASAinda não há avaliações
- Da Silva, Jorge. de Zumbi À Violência CivilDocumento12 páginasDa Silva, Jorge. de Zumbi À Violência CivilDaniela VelasquezAinda não há avaliações
- Angelo Barroso Costa SoaresDocumento14 páginasAngelo Barroso Costa Soaresnathalia.ferrazaranAinda não há avaliações
- TCC - Jéssica Santana - Última Versão (Corrigido)Documento10 páginasTCC - Jéssica Santana - Última Versão (Corrigido)Jéssica SantanaAinda não há avaliações
- Slide Medos e Preconceitos No ParaisoDocumento18 páginasSlide Medos e Preconceitos No ParaisoIvan BarbosaAinda não há avaliações
- Fichamento GONZALES, Lelia. RACISMO E SEXISSMO NA CULTURA BRASILEIRADocumento4 páginasFichamento GONZALES, Lelia. RACISMO E SEXISSMO NA CULTURA BRASILEIRAKaka PortilhoAinda não há avaliações
- Identidade BrasileiraDocumento3 páginasIdentidade Brasileiranemoid123Ainda não há avaliações
- Radiografia - AbdiasDocumento3 páginasRadiografia - AbdiasRodrigo SantosAinda não há avaliações
- Prefácio A Cadernos Negros 5 Lélia Gonzalez: WWW - Letras.ufmg - Br/literafroDocumento3 páginasPrefácio A Cadernos Negros 5 Lélia Gonzalez: WWW - Letras.ufmg - Br/literafroOníricaAinda não há avaliações
- Arruti, José M. - O Pecado Colonial e o Recalque Da MestiçagemDocumento4 páginasArruti, José M. - O Pecado Colonial e o Recalque Da MestiçagemReversoAinda não há avaliações
- Consc. NegraDocumento7 páginasConsc. NegraBeatriz Pereira DinizAinda não há avaliações
- Radiografia-AbdiasDocumento3 páginasRadiografia-AbdiasQualidade SollusAinda não há avaliações
- A Pertinencia Da Raça PDFDocumento6 páginasA Pertinencia Da Raça PDFCarvalho CarvalhoAinda não há avaliações
- Augusto Dos AnjosDocumento3 páginasAugusto Dos AnjosAlvaro Vieira PintoAinda não há avaliações
- Resenha MunangaDocumento4 páginasResenha MunangaSarah NascimentoAinda não há avaliações
- Armadilhas de ExclusãoDocumento10 páginasArmadilhas de ExclusãoMaria Helena RaimundoAinda não há avaliações
- A Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasDocumento17 páginasA Questão Racial Nas Letras Das Canções Populares BrasileirasAyawo NoletoAinda não há avaliações
- Resenha de Casa Grande e SenzalaDocumento15 páginasResenha de Casa Grande e SenzalabrianmedicinaAinda não há avaliações
- 3102 9771 1 PBDocumento7 páginas3102 9771 1 PBAlanAndersonAinda não há avaliações
- (2009) Boechat - Eros, Poder e o Racismo Cordial - Aspectos Da Formação Da Identidade BrasileiraDocumento7 páginas(2009) Boechat - Eros, Poder e o Racismo Cordial - Aspectos Da Formação Da Identidade BrasileiraRaisa CardosoAinda não há avaliações
- Apostila Sobre RacismoDocumento8 páginasApostila Sobre RacismoDay Cunha CunhaAinda não há avaliações
- Texto LerDocumento30 páginasTexto LerGuilherme ClaudinoAinda não há avaliações
- Diasporas Bixa PretaDocumento12 páginasDiasporas Bixa PretaIberê AraújoAinda não há avaliações
- As Diásporas Da Bixa Preta Sobre Ser Negro e Gay No Brasil PDFDocumento12 páginasAs Diásporas Da Bixa Preta Sobre Ser Negro e Gay No Brasil PDFLuiz JonatanAinda não há avaliações
- Genocídio Negro BrasileiroDocumento26 páginasGenocídio Negro BrasileiroLusia SouzaAinda não há avaliações
- Universidade Federal Rural Do Rio de JaneiroDocumento6 páginasUniversidade Federal Rural Do Rio de JaneiroAlexandre ViniciusAinda não há avaliações
- Antirracismo em Pauta - 2021Documento73 páginasAntirracismo em Pauta - 2021Priscila GarciaAinda não há avaliações
- Análise Críticia - Oracy NogueiraDocumento5 páginasAnálise Críticia - Oracy NogueiraJoão PedroAinda não há avaliações
- Paper de Gabriela Bacelar ANPOCSDocumento22 páginasPaper de Gabriela Bacelar ANPOCSlivia.paivaAinda não há avaliações
- O Ideal de Branqueamento No Projeto EducacionalDocumento15 páginasO Ideal de Branqueamento No Projeto EducacionalFlávio CavalcanteAinda não há avaliações
- Minayo 9788575413807 03Documento7 páginasMinayo 9788575413807 03Camilla BoronesyAinda não há avaliações
- O Negro, o Drama e As Tramas Da Masculinidade No Brasil (Cult 242)Documento3 páginasO Negro, o Drama e As Tramas Da Masculinidade No Brasil (Cult 242)Diana PichinineAinda não há avaliações
- Questão Racial e Etnicidade de Lilia MoritzDocumento9 páginasQuestão Racial e Etnicidade de Lilia MoritzTacyane L. MenezesAinda não há avaliações
- Violência Racial e Prostituição Um Debate para Além Do GeneroDocumento12 páginasViolência Racial e Prostituição Um Debate para Além Do GeneroGeógrafa Emico MatsumotoAinda não há avaliações
- O Negro, o Drama e As Tramas Da Masculinidade No BrasilDocumento4 páginasO Negro, o Drama e As Tramas Da Masculinidade No BrasilDiana PichinineAinda não há avaliações
- A Rejeição Da Negra Preta No Pornô BrasileiroDocumento13 páginasA Rejeição Da Negra Preta No Pornô BrasileiroSara Vieira AntunesAinda não há avaliações
- A Racionalidade Do Desejo e Do Relacionamento Inter-Racial Resenha PDFDocumento4 páginasA Racionalidade Do Desejo e Do Relacionamento Inter-Racial Resenha PDFMilton Carvalho FilhoAinda não há avaliações
- TextosDocumento4 páginasTextosElisangela SantosAinda não há avaliações
- Exposição Lélia GonzalezDocumento7 páginasExposição Lélia GonzalezbieelpeixotoAinda não há avaliações
- Oracy Nogueira - Tanto Preto Quanto BrancoDocumento3 páginasOracy Nogueira - Tanto Preto Quanto BrancolmachadocAinda não há avaliações
- FEMINISMO NEGRO - Curso ExtensãoAulaUnipampaDocumento38 páginasFEMINISMO NEGRO - Curso ExtensãoAulaUnipampaProfe Suelen VillanovaAinda não há avaliações
- 2 Ano RacismoDocumento31 páginas2 Ano Racismosaravitoriasousa667Ainda não há avaliações
- O Colorismo Não É Sobre Nós, Mestiços - Guia NegroDocumento1 páginaO Colorismo Não É Sobre Nós, Mestiços - Guia NegroGabriel NascimentoAinda não há avaliações
- PERREIRA PIFFER. Sexualidades Indígenas Two-Spirit e Queer of Colour Enquanto Crítica À ColonialidadeDocumento16 páginasPERREIRA PIFFER. Sexualidades Indígenas Two-Spirit e Queer of Colour Enquanto Crítica À ColonialidadeJeffAinda não há avaliações
- 9 - Racismo II - História, Raça e MitosDocumento6 páginas9 - Racismo II - História, Raça e MitosDaniela CaetanoAinda não há avaliações
- ARQUIVO Artigofazendogenero2010suelymessederDocumento11 páginasARQUIVO Artigofazendogenero2010suelymessederalvesadrianemouraAinda não há avaliações
- A Influência Da Nutrição Na Resposta Inflamatória e No EnvelhecimentoDocumento67 páginasA Influência Da Nutrição Na Resposta Inflamatória e No Envelhecimentocarolina soaresAinda não há avaliações
- (MIOLO) Manual DermatologistaDocumento21 páginas(MIOLO) Manual Dermatologistacarolina soaresAinda não há avaliações
- DISTURBIOSACIDOBASEDocumento23 páginasDISTURBIOSACIDOBASEcarolina soaresAinda não há avaliações
- Folheto Diamundialtrombose 09102014Documento2 páginasFolheto Diamundialtrombose 09102014carolina soaresAinda não há avaliações
- Ruídos CardiacosDocumento46 páginasRuídos Cardiacoscarolina soares100% (1)
- Cartilha - Obesidade - Profissionais de Saúde PDFDocumento14 páginasCartilha - Obesidade - Profissionais de Saúde PDFGabrielly NeivaAinda não há avaliações
- FarmacologiaDocumento2 páginasFarmacologiacarolina soares0% (1)
- A Concepção e o Uso Do Conceito de Fracasso Escolar No Jornal Folha de S.Paulo (1958-2008)Documento102 páginasA Concepção e o Uso Do Conceito de Fracasso Escolar No Jornal Folha de S.Paulo (1958-2008)Vagner de AlencarAinda não há avaliações
- Arte - 3série - Slide Aula 24Documento21 páginasArte - 3série - Slide Aula 24SILVIA LEMES DOS SANTOSAinda não há avaliações
- Didactica de Geografia IDocumento3 páginasDidactica de Geografia ITúrquio José AfonsoAinda não há avaliações
- Revista - Conhecer - e - Produzir - Vol2 (p.32) SESC (2017)Documento58 páginasRevista - Conhecer - e - Produzir - Vol2 (p.32) SESC (2017)flavio benitesAinda não há avaliações
- Arnaldo Antunes Tela e TextoDocumento34 páginasArnaldo Antunes Tela e TextoVívien GonzagaAinda não há avaliações
- 2008 - Carta Itinerarios CulturaisDocumento12 páginas2008 - Carta Itinerarios CulturaisAnna CristinaAinda não há avaliações
- Artes - 3 - Ano - Anual - Natalina GomesDocumento5 páginasArtes - 3 - Ano - Anual - Natalina GomesVitor GomesAinda não há avaliações
- Devir Plasticidade Si Mesmo 2023Documento6 páginasDevir Plasticidade Si Mesmo 2023jzhfAinda não há avaliações
- A Montagem Cinematografica e A Lógica Das ImagensDocumento7 páginasA Montagem Cinematografica e A Lógica Das ImagensLílian de AlcântaraAinda não há avaliações
- Fluxograma Graduacao Curso IntegralECODocumento1 páginaFluxograma Graduacao Curso IntegralECOSpetznazOperativeinRio10Ainda não há avaliações
- FagnaniEduardo Politica Social No Brasil Entre Cidadania e CaridadeDocumento601 páginasFagnaniEduardo Politica Social No Brasil Entre Cidadania e CaridadealtairsgAinda não há avaliações
- Desafios e Oportunidades para As Marcas No Contexto Da Era Digital - Lívia BellatoDocumento14 páginasDesafios e Oportunidades para As Marcas No Contexto Da Era Digital - Lívia BellatoINSTITUTO ALANAAinda não há avaliações
- Cópia de Declaração Universal Dos Direitos HumanosDocumento24 páginasCópia de Declaração Universal Dos Direitos HumanosIan LawsonAinda não há avaliações
- EDGAR MORÍN - Educação e Complexidade - Os Sete Saberes e Outros EnsaiosDocumento50 páginasEDGAR MORÍN - Educação e Complexidade - Os Sete Saberes e Outros EnsaiosAmanda CazadineAinda não há avaliações
- Artigo - 2007 - Design Instrucional Contextualizado - FILATRODocumento17 páginasArtigo - 2007 - Design Instrucional Contextualizado - FILATROMario Luis Tavares Ferreira100% (1)
- Jovens EmbaixadoresDocumento2 páginasJovens EmbaixadorescapAinda não há avaliações
- Port - 080 - DECEx - 07ago2013 - IREC - EB60-IR-05.008 - Reg Curriculo Dos Cursos MilitaresDocumento28 páginasPort - 080 - DECEx - 07ago2013 - IREC - EB60-IR-05.008 - Reg Curriculo Dos Cursos MilitaresAsseJur 14BdaAinda não há avaliações
- Literatura - Aula 06 - HumanismoDocumento7 páginasLiteratura - Aula 06 - HumanismoMonique ParenteAinda não há avaliações
- RIL - Ação Afirmativa - Geral - Joaquim BarbosaDocumento24 páginasRIL - Ação Afirmativa - Geral - Joaquim BarbosaJoão Luzardo NetoAinda não há avaliações
- Gênero Textual - Anúncio PublicitárioDocumento3 páginasGênero Textual - Anúncio PublicitárioSonia DiasAinda não há avaliações
- Funk Carioca Teoria Da Musica e Analise PDFDocumento9 páginasFunk Carioca Teoria Da Musica e Analise PDFSinesio AndradeAinda não há avaliações
- Resumo EmpirismoDocumento2 páginasResumo EmpirismoBruno ThompisAinda não há avaliações
- Interpretação de Texto - 8º Ano - EsopoDocumento5 páginasInterpretação de Texto - 8º Ano - Esopoidelma bandeiraAinda não há avaliações
- I - Brasil, Pátria AmadaDocumento14 páginasI - Brasil, Pátria AmadaAngela EbnerAinda não há avaliações