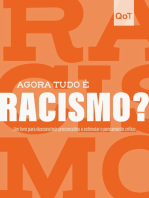Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Colorismo Não É Sobre Nós, Mestiços - Guia Negro
Enviado por
Gabriel Nascimento0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações1 páginaTexto de Gabriel Nascimento , autor de “Racismo linguístico”
Título original
O colorismo não é sobre nós, mestiços - Guia Negro
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoTexto de Gabriel Nascimento , autor de “Racismo linguístico”
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
25 visualizações1 páginaO Colorismo Não É Sobre Nós, Mestiços - Guia Negro
Enviado por
Gabriel NascimentoTexto de Gabriel Nascimento , autor de “Racismo linguístico”
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 1
#
O colorismo não é sobre
nós, mestiços
By GABRIEL NASCIMENTO — 8 de setembro de 2021
! Nenhum comentário " 18 Mins Read
O gatilho
Foi numa conversa com minha amiga, a
antropóloga Sarah Nascimento dos Reis, lá
nas tantas que, após detonar Antônio Risério,
meu esporte número um naquela época, ela
me provocou. “Mas nós temos que, nós
mesmos, teorizar a miscigenação”.
A miscigenação no Brasil gerou uma carga
gigantesca de pressão discursiva e
ontogênica. Sujeitos que até dia desses se
viam como brancos, num país que desde
antes do fim da escravidão vem produzindo
brancos pobres, passaram de uma hora para
outra a se ver como negros, erradicando
heranças anteriores. Isso levou a um surto
tanto na intelectualidade artística quanto no
jornalismo supostamente científico, ambos
imbuídos de um racialismo clássico. O
racialismo clássico, diferente do acadêmico, é
aquele que fez com que Nina Rodrigues
escolhesse seu corpus de análise na Bahia
para afirmar suas teses de degeneração do
negro e, principalmente, seus descendentes
mestiços. O racialismo clássico, que se traduz
em coisas como Não somos racistas, prolifera
no mundo atual a vantagem do acadêmico
positivista, capturado pelo jornalista autor
daquele livro, que é a respeito de usar os
dados frios e sem corpo, isto é, sem
ontologia, para desmascarar e minorizar os
próprios movimentos negros, dizendo que
não pode ser bicolor um país de tantos
morenos, pardos, amarelos, morenos jambos
e marrons bombons.
Eu não podia concordar com os dados ou a
com a discussão justamente pela ausência de
corpo negro na discussão. Por outro lado, eu
localizava aquela discussão no mesmo rol de
um pensamento incomodado com a
institucionalização dos movimentos negros
organizados no país, que lutaram quase que
arduamente para conquistar políticas públicas
que foram concedidas quase que como golpe
de misericórdia por todos os governos de
alguma vertente popular até aqui.
No entanto, e Sarah tinha mesmo razão, era
preciso embarcar na teoria sobre os efeitos
da miscigenação na criação de um limbo no
país, visto que, uma hora ou outra, falsas
polêmicas podiam ser mobilizadas para
resolver antigos problemas. Uma delas logo
se tornou potencializadora. Quando a cantora
Fabiana Cozza foi escolhida para interpretar a
eterna Dona Ivona Lara e várias críticas
passaram a surgir, pelo fato dela ter cor
inegavelmente clara, diferente da cantora
mais velha, muitos dos meus amigos mais
significativos começaram uma corrente nas
redes sociais em apoio à Fabiana. O mais
significativo não era a defesa insistente de
Fabiana ser ou não negra, mas a pecha de
que as pessoas pretas, escuras ou
escurecidas, de traços e trejeitos negroides
passariam a ter desde então, a de raivosas ou
pigmentocráticas. A própria Fabiana, numa
saída pouco honrosa, aludiu ao fato de que
falar de racismo no país tinha se tornado papo
de gente politicamente correta. Ela, que
dormiu negra, diz que acordou “branca” por
causa da polêmica.
Todas essas falam dão o gatilho para estas
palavras. O racismo no país é anti-preto e
suas dimensões fenomenológicas atingem os
descendentes diretos de pessoas pretas, as
pessoas mestiças negras. Por não serem
guardadores de um corpo-espírito negro, as
pessoas mestiças se veem na necessidade de
invocar teorias estrangeiras, como o
colorismo, para justificar sua negritude. Isso
tem se dado mais em termos culturais do que
raciológicos, como se houvesse mesmo a
necessidade de se dizer negro num mundo de
racismo anti-preto apenas por argumentos
culturais.
Fonte: FreePik
Raízes históricas
O Brasil é um país de discussão sobre
mestiços. Antes mesmo de qualquer rumor
sobre colorismo, somos o país que pariu
Virgínia Bicudo ou Guerreiro Ramos. Antes
disso, mestiços ou pardos mais escurecidos
foram responsáveis, como sujeitos já
alforriados, por alianças com escravizados.
Não se pode, sob a pena de nos enganarmos,
esquecer o passado de alguns mestiços que
não se marcavam apenas com discurso, mas
que tinham corpo-espírito negro em suas
lutas.
No auge do racialismo no país, quando Silvio
Romero e Nina Rodrigues divergiam sobre os
rumos da nação livre com esses
“degenerados”, ou quando Euclides da Cunha
fazia experimentações ficcionais anti-pretas e
Monteiro Lobato idealizava um país onde
brancos não fossem tão oprimidos, boa parte
do pensamento social brasileiro se converteu
a apenas uma única religião, a do objetivismo
científico europeu. Lembremos se tratar de
uma época em que São Paulo rompeu com o
país, nas intentonas golpistas, e produziu algo
como a USP. O Varguismo, supostamente
nacionalista, expandiu com sua colonialidade
uma visão que nada diferia da experiência
uspiana divisionista. Foi aí que se radicou o
atual pensamento sudestino que comanda as
bases epistemológicas e profundamente
racistas do pensamento nacional. Essa
“religião” a que me refiro é aquela que, ao
invés de estudar as próprias marcas de
resistência dos escravizados, passou a
racializar o escravizado em oposição ao
racialismo clássico, produzindo um
culturalismo de brancos que, progressistas,
urgiam em entender o que era aquele negro
recém-liberto, ao invés de ouvir dele ou dela
as experiências que deram a luz a
aquilombamentos, guerrilhas, greves ou
irmandades negras.
Aí residem as nossas maiores dificuldades.
Por termos sempre sido teorizados por
brancos progressistas, temos hoje que
responder a esse pensamento, ao invés de
construirmos teorias mais próximas aos
Brasis reais.
Uma voz em contraposição a esse
pensamento, porém, se ergue através de
Guerreiro Ramos (1954), e sua impaciência
com o mestiço nordestino. É precisamente
aqui no Nordeste onde o mestiço ratifica a
visão de que o preto é coisa do passado e
oportunamente temos que pensar no futuro. É
como pregava João Batista de Lacerda no
Congresso Universal das Raças (SCHWARCZ,
2011) ao prever o fim dos negros e mestiços.
Não podemos dizer que a miscigenação deu
certo em sua guinada abertamente genocida,
mas também não podemos afirmar que ela
deu errado. Precisamente porque, como
muito bem lembrou Célia Maria Marinho de
Azevedo (1987), o pós-escravidão foi
exaustivamente debatido por imigrantistas
antes de seu acontecimento real, sendo que
esses estudiosos queriam a todo custo
substituir os pretos que enegreciam o país.
Interessantemente, as pessoas pretas (a
quem me refiro aqui como as de cor retinta,
escura ou escurecida) ainda existem num país
a cada dia menos preto. Sendo a população
mais afetada diretamente com todo o horror
gerado pelo sistema escravocrata, não é a
que mais morre numericamente, mas a que
mais morre proporcionalmente. Porém, como
defendemos até aqui, o racismo antipreto
atinge pardos à medida que ele não consegue
esconder sua descendência num mundo
branco, como o nosso.
No pós-escravidão, o ideal de branqueamento
não pode apenas ser visto como uma figura
de alienação. O mundo branco, muito
poderoso, não oferece direitos, mas
existência em troca de se esquecer o enorme
passado, que é o preto brasileiro. Por isso
mesmo, a razão de ser da miscigenação não é
apenas um desejo infantil pelo branco (que
realmente existe como algo gerado a partir da
corrosão do ser africano pelo saber
ocidental), mas, ainda que não tanto
atualmente, mas muito naquela época, um
desejo de existência naquele mundo livre,
cujos sentidos se confundiam com a
brancura.
Esses são os pontos que me fazem perceber
que temos mais elementos para nos
posicionarmos nessa discussão, que é como
tratamos a miscigenação. Como não
podemos evitar, temos que problematizar o
ser e o saber que são vociferados como
negros em nossa época para decidirmos para
onde ir nessa encruzilhada.
O dizer-se negro e o ser negro
(politicamente)
Eu poderia neste momento invocar, ainda que
rapidamente, o linguista. Mas não preciso me
alongar. Dizer normalmente está associado a
poder pelo ocidente, como se a palavra, essa
que exclui desmedidamente, fosse mesmo
passível de ser politizada ao ponto de deixar
de carregar traços sígnicos de horror para se
tornar, ela própria, libertação.
Porém, muito embora eu defenda isso em
trabalho anterior (NASCIMENTO, 2019), as
visões cosmogônicas africanas não viam na
palavra a ocupação de um lugar de poder,
este colonial que conhecemos, mas um rito
dito e reproduzido por gerações como
guardadores de uma memória ancestral (BÂ,
1982). Por isso, a própria leitura do griô, como
alguém sábio e mitificado, é uma leitura por
vezes romantizada e ocidental, para não
chamar de racista.
É no ocidente, sobretudo a partir da luta pelos
direitos civis dos afroamericanos, que várias
das demandas afetivas pela ocupação efetiva
e representacionista dos espaços nos
atingem em cheio. A palavra para nós,
portanto, ganha novas colorações, que vão
incorporando, nunca sem estratégias, as
próprias visões de raça do colonizador e as
transformando em uma razão negra.
O dizer-se negro, portanto, é um dizer-se de
ocupação do poder, mas não
necessariamente ancestral. Em que pese a
palavra ancestral no país esteja tão carregada
de ascendência como origem, aqui estou me
posicionando através da defesa de um corpo
africano que a cada dia parece mais distante
do saber africano. O dizer-se negro é
resultado de décadas de luta do movimento
negro educador, por exemplo, de onde saíram
expressões insuspeitamente pretas da
intelectualidade nacional que, com seus
corpos africanos, em saber e ser, defenderam
suas vidas em nome de uma política onde
pardos negroides pudessem se enxergar e
passar a lutar pelos direitos dos seus.
A realidade da população mestiça, porém, é
outra. Oprimida pela divisão racial do
trabalho, ela sempre responde em direção ao
mundo branco. Em que pese o dizer-se seja
negro, a disputa do dizer-se com pessoas
pretas, guardadoras desse passado que se
quer esquecer, é um ato ilocucionário branco,
produzido pela ausência de corpo-saber
africano.
Obviamente, eu não estou defendendo que
mestiços não guardem descendência
fenotípica. Porém, à medida que os saberes
africanos passam a ser mitificados, como é o
caso da amefricanidade e do pretuguês
(sendo o primeiro o retrato de uma Améfrica
Ladina culturalmente negra, mas clara em
fenótipo, e o segundo uma língua com falares
africanos em um país marcado pelo genocídio
negro), o ser é dispensável.
Quando o ser é dispensável, o mestiço se
ampara num dizer sem corpo, e passa a agir
num discurso ou manifesto sem provocar o
caminho que o levou até ali, a miscigenação.
Incólume, a miscigenação também é
mitificada. Seria como dizer que ela não
produziu efeitos raciológicos no seio da
própria população negra.
Até aqui não falei sobre colorismo. Isso foi
proposital. O meu interesse aqui é me alongar
sobre a crítica ao mestiço que, ao se assumir
politicamente, não age politicamente como
um negro e passa a disputar o dizer-se com
pessoas que sofrem racismo direto, como é o
caso das manifestações de ódio que
metaforizam na pessoa preta o nome macaco.
Tampouco, como é o caso do uso geral e
irrestrito do colorismo para explicar as várias
colorações de negros brasileiros, vamos
advogar aqui que o mestiço é negro. Durante
séculos, é preciso relembrar, a nomeação
negro não tinha a importância que hoje tem, e
escravizados e seus descendentes reagiam
ao racismo com muita violência.
Seria muito pretensioso de minha parte, no
entanto, negar a importância dos movimentos
negros ao hastearem a luta pelo
reconhecimento de uma população negra
autodeclarada, em tempos onde ser negro era
feio. O problema central aqui colocado é que
essa população negra autodeclarada a cada
dia mais não desenvolve lastros ancestrais e
históricos com os mais velhos pretos, que lhe
pariram, quando ainda continuam a enxergar
a miscigenação como maneira de melhorar,
de ascender ao mundo branco. Aqui se faz
necessário um parêntese: quando defendo
que, no pós-escravidão, as pessoas pretas
enxergavam na miscigenação uma estratégia
política, não acho que ela continue a ser, ou
que ela naquele momento significava apenas
uma estratégia política.
Kassandra Muniz (2015) está entre o grupo
de intelectuais negros que muito
apropriadamente analisam o uso do dizer-se
negro politicamente porque, ao passo em que
defende a identificação racial, não perde de
vista o caráter de marca do racismo no país.
Porém, é preciso ir além da ideia do
preconceito de marca quando falamos de
mestiços entre mestiços. Quase sempre,
como minha narrativa parece delinear, os
mestiços não são comprometidos com
preconceito de marca, mas com parcelas do
preconceito institucional que se utiliza da
marca como seu referente no mundo. Em
outras palavras, o racismo institucional que
atinge mestiços relembra em sua
indexicalização (ou na forma como indicia o
mundo ao redor) a marca de seus ancestrais
(para uma discussão de indexicalização, ver
MILROY, 2011 e MOITA LOPES, 2013).
Isso é muito importante. Estou afirmando que
o racismo age linguisticamente por meios
diretos e indiretos de significação. Quando
uma pessoa preta passa por uma ofensa, ela
recebe diretamente os insultos por pertencer
a um passado que deveria se manter em uma
época distante da nossa, apenas vista em
museu. Ela, em corpo e espírito, está
ultrapassada e o genocídio e o clareamento
da miscigenação são provas abundantes de
que ela já está no passado. O mestiço, ser do
presente, mas não necessariamente do
futuro, ainda relembra o passado. Isto é,
guarda traços que são, eles próprios,
referentes no mundo de um passado que se
quer esquecer. Porém, como já presente em
corpo e espírito no mundo branco, numa linha
limítrofe entre a modernidade e uma imensa
fronteira colonial, o mestiço se engana, se vê
perdido entre o caminho para onde quer
seguir e para onde deveria. As armas
históricas, a oralidade, o segredo e o senso
de justiça na comunicação, vão se perdendo.
O problema do manifesto político
O manifesto político do protesto negro
é inegavelmente um dos grandes alentos do
Brasil. Ele produziu gerações de intelectuais
engajados, de um pensamento negro
contemporâneo vivo.
Entretanto, nenhum manifesto se mantém
invariavelmente sem sofrer mudanças na
história. Aos poucos, com o genocídio e a
miscigenação clareadora, o próprio manifesto
pode vir a não fazer mais sentido daqui a
poucos séculos. Essa é uma das razões para
discutirmos ontoepistemicamente[1] esse
fenômeno, em que a colonialidade do saber
não seja lida como distante da colonialidade
do ser.
Ser e saber se relacionam como Dizer
diferentemente. Quando falamos de mestiços,
o saber se relaciona com o dizer, mas não
necessariamente com o ser. Isto é, a
miscigenação não rouba só as características
fenotípicas, mas também, e isso lentamente,
uma memória ancestral africana que é ativada
na fronteira, na dor, em face do racismo.
O colorismo, como teorização advinda de fora
e de maneira tardia no país, não garante o
jogo problemático aqui trazido.
Historicamente, ele surgiu dentro de uma
historicidade única, incapaz de ser
reproduzida tal qual sem as garantias de
condições de produção de uma dada
realidade histórica. No caso dos Estados
Unidos, onde a genotipia é lida a partir do
branco de maneira mais direta e concisa, o
colorismo é uma discussão bastante oportuna
se imaginarmos que, até mais recentemente,
os privilégios de cor não eram centrais entre
eles. Ou seja, por terem que responder ao
racismo por genotipia ou preconceito de
origem, não teria se observado ainda a
necessidade de analisar como o racismo
sistêmico atravessava, entre elas, e como
variável de cor, a vida das pessoas negras.
No caso do Brasil, a discussão sobre
miscigenação sempre levou em conta, seja
entre racistas ou culturalistas, o que seria o
mestiço no mundo branco. Oliveira e Oliveira
(1974), ao ler o mulato como um obstáculo
epistemológico, coloca melhor essa
discussão, me fazendo vir até este texto
porque, já naquele momento, ele estava
diferenciando a discussão sobre mestiçagem
no Brasil e nos Estados Unidos (Cf.
MUNANGA, 2004, para uma pesquisa
aprofundada).
O enorme problema social com o manifesto
político continua a ser em não provocar as
bases epistêmicas em defesa do corpo preto,
esse que tomba e não dá lugar a um referente
Você também pode gostar
- 01 Por Um Feminismo Afro-Latino-Americano PDFDocumento11 páginas01 Por Um Feminismo Afro-Latino-Americano PDFJuliana HwrrAinda não há avaliações
- Curso Profissional de Secretariado e TrabDocumento3 páginasCurso Profissional de Secretariado e Trabraquel100% (1)
- Lugar de "Cale-Se"! - A TERRA É REDONDADocumento6 páginasLugar de "Cale-Se"! - A TERRA É REDONDAEdsonAinda não há avaliações
- Radiografia-AbdiasDocumento3 páginasRadiografia-AbdiasQualidade SollusAinda não há avaliações
- Trabalho KeilaDocumento6 páginasTrabalho Keilasnrbb2hqb5Ainda não há avaliações
- Radiografia - AbdiasDocumento3 páginasRadiografia - AbdiasRodrigo SantosAinda não há avaliações
- Atividade - Semana Da Consciência NegraDocumento1 páginaAtividade - Semana Da Consciência NegraGabriel Miranda100% (1)
- Racismo e Sexismo Na Cultura Brasileira LÉLIADocumento14 páginasRacismo e Sexismo Na Cultura Brasileira LÉLIAArmando SantosAinda não há avaliações
- 3102 9771 1 PBDocumento7 páginas3102 9771 1 PBAlanAndersonAinda não há avaliações
- O Mito Da Democracia RacialDocumento1 páginaO Mito Da Democracia RacialELIENE CABRALAinda não há avaliações
- Cópia de Atividade Consciência NegraDocumento3 páginasCópia de Atividade Consciência NegraNenemzinho Da aneAinda não há avaliações
- Democracia Racial 2Documento30 páginasDemocracia Racial 2brunalavinyAinda não há avaliações
- Racismo No BrasilDocumento4 páginasRacismo No BrasilJonatham Santos LETRASAinda não há avaliações
- O Que É Consciência Negra?Documento3 páginasO Que É Consciência Negra?Luciane Garcia100% (1)
- Artigo-Racismo No BrasilDocumento3 páginasArtigo-Racismo No BrasilukhoffmeisterAinda não há avaliações
- Da Silva, Jorge. de Zumbi À Violência CivilDocumento12 páginasDa Silva, Jorge. de Zumbi À Violência CivilDaniela VelasquezAinda não há avaliações
- O Movimento Negro e A MiscigenaçãoDocumento5 páginasO Movimento Negro e A MiscigenaçãoConcurseiros de PlantãoAinda não há avaliações
- Aula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Documento38 páginasAula 6. Diversidade Cultural em Cena. Cultura Africana, Afro-Brasileira e I - 20240404 - 103807 - 0000Graziele ArraesAinda não há avaliações
- Consc. NegraDocumento7 páginasConsc. NegraBeatriz Pereira DinizAinda não há avaliações
- ConsciênciaDocumento9 páginasConsciênciaConta QualquerAinda não há avaliações
- Consciência NegraDocumento9 páginasConsciência Negrasjeovanna4Ainda não há avaliações
- Resenha MunangaDocumento4 páginasResenha MunangaSarah NascimentoAinda não há avaliações
- Negros de Pele Clara - Sueli CarneiroDocumento2 páginasNegros de Pele Clara - Sueli CarneiroLaura Gonçalves de LimaAinda não há avaliações
- 2 Marcelle - MeninaDocumento10 páginas2 Marcelle - MeninaMilton BingaAinda não há avaliações
- Questão Racial e Etnicidade de Lilia MoritzDocumento9 páginasQuestão Racial e Etnicidade de Lilia MoritzTacyane L. MenezesAinda não há avaliações
- Rafaela Dos Santos Teixeira, Texto 3Documento5 páginasRafaela Dos Santos Teixeira, Texto 3Rafaela TeixeiraAinda não há avaliações
- BAIRROS, Luiza. Lembrando Lélia Gonzalez PDFDocumento21 páginasBAIRROS, Luiza. Lembrando Lélia Gonzalez PDFWanessa GalindoAinda não há avaliações
- Sueli Carneiro Negros de Pele ClaraDocumento4 páginasSueli Carneiro Negros de Pele ClaraDani MoreiraAinda não há avaliações
- Slide Medos e Preconceitos No ParaisoDocumento18 páginasSlide Medos e Preconceitos No ParaisoIvan BarbosaAinda não há avaliações
- BIKO, Bantu Steve - A Consciência Negra e A Busca de Uma Verdadeira HumanidadeDocumento8 páginasBIKO, Bantu Steve - A Consciência Negra e A Busca de Uma Verdadeira HumanidadeErahsto FelícioAinda não há avaliações
- Bixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesNo EverandBixas Pretas: dissidência, memória e afetividadesGilmaro NogueiraAinda não há avaliações
- Aula - Raça - Cor - EtniaDocumento13 páginasAula - Raça - Cor - EtniaAdriana CerqueiraAinda não há avaliações
- Ser PardoDocumento13 páginasSer Pardocarolina soares100% (1)
- História 03Documento4 páginasHistória 03Rayssa GomesAinda não há avaliações
- Sobre BranquitudeDocumento5 páginasSobre Branquituderosemendes2001hotmailcomAinda não há avaliações
- Consciência NegraDocumento6 páginasConsciência NegraCivone BeneditoAinda não há avaliações
- Anarquismo Negro e Outros Textos PretosniDocumento43 páginasAnarquismo Negro e Outros Textos PretosniMarcos Paulo DinizAinda não há avaliações
- Dia Da Cpnsciência NegraDocumento2 páginasDia Da Cpnsciência NegraEdgleubo MelloAinda não há avaliações
- Artigo de Opinião - LEITURA DO TEXTODocumento1 páginaArtigo de Opinião - LEITURA DO TEXTOOs Seis retardadosAinda não há avaliações
- 2 Ano RacismoDocumento31 páginas2 Ano Racismosaravitoriasousa667Ainda não há avaliações
- 4760 18201 1 PBDocumento19 páginas4760 18201 1 PBPatricia Chmielewski CandidoAinda não há avaliações
- Branquitude Dilema Racial Brasileiro PDFDocumento92 páginasBranquitude Dilema Racial Brasileiro PDFCarolina100% (1)
- A Dívida Dos FaraósDocumento2 páginasA Dívida Dos FaraóseoslaveAinda não há avaliações
- Nem Preto Nem Branco Muito Pelo Contrário-Cor e Raça Na IntimidadeDocumento17 páginasNem Preto Nem Branco Muito Pelo Contrário-Cor e Raça Na IntimidadeThiene Rodrigues100% (1)
- Lembrando Lelia Gonzalez Luiza-BairrosDocumento14 páginasLembrando Lelia Gonzalez Luiza-BairrosCristiano RodriguesAinda não há avaliações
- REIS, J. C. Historiografia e Quilombo em Beatriz Nascimento (TCC)Documento21 páginasREIS, J. C. Historiografia e Quilombo em Beatriz Nascimento (TCC)Gabriel GonzagaAinda não há avaliações
- Olavo de Carvalho - A Divida Dos FaraosDocumento6 páginasOlavo de Carvalho - A Divida Dos FaraosRerisson Cavalcante50% (2)
- Cultura Brasileira Trab M ADocumento3 páginasCultura Brasileira Trab M ANathália Lira100% (3)
- Consciencia NegraDocumento3 páginasConsciencia Negra00001095819422spAinda não há avaliações
- 1995 - 2 - Carlos HasenbalgDocumento11 páginas1995 - 2 - Carlos Hasenbalgjuliana anacletoAinda não há avaliações
- Abordagem Conceitual Das Noções de Raça, Racismo, Identidade e EtniaDocumento20 páginasAbordagem Conceitual Das Noções de Raça, Racismo, Identidade e EtniaCarolina Maria Isabella Necho Ng LeeAinda não há avaliações
- A Existência Difamada Da Gente Negra - GeledésDocumento5 páginasA Existência Difamada Da Gente Negra - GeledésAlberto Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- O Negro É Povo No Brasil - Afirmação Da Negritude e Democracia Racial em Alberto Guerreiro Ramos (1948-1955) - Luiz Augusto Campos PDFDocumento20 páginasO Negro É Povo No Brasil - Afirmação Da Negritude e Democracia Racial em Alberto Guerreiro Ramos (1948-1955) - Luiz Augusto Campos PDFMurilo MangabeiraAinda não há avaliações
- Alma Negra em Pele Branca - Bantu Steve Biko (OK)Documento6 páginasAlma Negra em Pele Branca - Bantu Steve Biko (OK)Marcos CarvalhoAinda não há avaliações
- 9382934d-2c15-46e6-af6a-f8105ba9c35bDocumento1 página9382934d-2c15-46e6-af6a-f8105ba9c35bPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Quadrinhos e Cartuns Na Memoria AfrobrasileiraDocumento21 páginasQuadrinhos e Cartuns Na Memoria AfrobrasileiraLuís RafaelAinda não há avaliações
- Artigo de Opinião - Modelo Tema: Racismo. Proposta de Redação: A Persistência Do Racismo Na Sociedade BrasileiraDocumento1 páginaArtigo de Opinião - Modelo Tema: Racismo. Proposta de Redação: A Persistência Do Racismo Na Sociedade BrasileiraPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Ebook - INTERPRETACAO DE TEMA DE REDAÇÃO PROTAGONISTA OKDocumento38 páginasEbook - INTERPRETACAO DE TEMA DE REDAÇÃO PROTAGONISTA OKWilza LimaAinda não há avaliações
- MX5 Avaliacao Outubro2023 VersaoAlunoDocumento4 páginasMX5 Avaliacao Outubro2023 VersaoAlunocarlosferreirajorgeAinda não há avaliações
- A Possessao e A Construcao Ritual Da PessoaDocumento211 páginasA Possessao e A Construcao Ritual Da PessoaronaldotrindadeAinda não há avaliações
- Apostila Transtornos de Aprendizagem X DesenvolvimDocumento23 páginasApostila Transtornos de Aprendizagem X DesenvolvimPatriciaAinda não há avaliações
- Curriculo Edson GonçalvesDocumento2 páginasCurriculo Edson GonçalvesEdson GonçalvesAinda não há avaliações
- 10 Citações CoringasDocumento18 páginas10 Citações CoringasWanderley100% (1)
- Manual Do GestorDocumento122 páginasManual Do GestorMarise Bonin100% (1)
- Metodologia Do Ensino Da Matematica UnoparDocumento196 páginasMetodologia Do Ensino Da Matematica UnoparThiago Laurindo 2100% (1)
- AVA 2 - Organização Da Educação EscolarDocumento5 páginasAVA 2 - Organização Da Educação EscolarBeatriz BragaAinda não há avaliações
- Course NJ F8 MTYy MQDocumento1 páginaCourse NJ F8 MTYy MQFelipe LucasAinda não há avaliações
- Diversidade e ComunidadeDocumento14 páginasDiversidade e ComunidadeANNA PAULA AIRES DE SOUZAAinda não há avaliações
- Planner 2021Documento14 páginasPlanner 2021Ailton AlcântaraAinda não há avaliações
- Programas Do 2º Ciclo Do ENSINO PRIMARIODocumento263 páginasProgramas Do 2º Ciclo Do ENSINO PRIMARIOamiltonAinda não há avaliações
- Módulo 01 - Aula 04 - Fórmula de Contação de Histórias.Documento8 páginasMódulo 01 - Aula 04 - Fórmula de Contação de Histórias.Nelba CarlaAinda não há avaliações
- ProfileDocumento4 páginasProfileAna Carla Castilho PagliocoAinda não há avaliações
- Tutorial Localizao Migrao Editar Excluir Cancelar Seleo e Validao de Concluinte Na Sed PDFDocumento20 páginasTutorial Localizao Migrao Editar Excluir Cancelar Seleo e Validao de Concluinte Na Sed PDFPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- Ebook JadeDocumento22 páginasEbook JadeJoice AndradeAinda não há avaliações
- Relatório Do Projeto de Leitura 2017 - Versão FinalDocumento4 páginasRelatório Do Projeto de Leitura 2017 - Versão FinalAnderson KerllyAinda não há avaliações
- A Sexualização de Crianças e Adolescentes Na MídiaDocumento11 páginasA Sexualização de Crianças e Adolescentes Na MídiaMaria Tereza Buss WesslerAinda não há avaliações
- Presença Dos Negros Na Historiografia Alagoana Ulisses-NevesDocumento17 páginasPresença Dos Negros Na Historiografia Alagoana Ulisses-NevesSheyla FariasAinda não há avaliações
- Políticas Curriculares: Entre o Bacalhau e A Feijoada!: Meta Da AulaDocumento13 páginasPolíticas Curriculares: Entre o Bacalhau e A Feijoada!: Meta Da Aulavalnei de andradeAinda não há avaliações
- Concreto Auto AdensávelDocumento5 páginasConcreto Auto AdensávelMatheusM.FerreiraAinda não há avaliações
- Anexo 2 Curso Educação AmbientalDocumento4 páginasAnexo 2 Curso Educação AmbientalLurdinha NunesAinda não há avaliações
- 2 Rec Sem 7º Ano - GeoDocumento2 páginas2 Rec Sem 7º Ano - GeoSandra SantosAinda não há avaliações
- Trabalho de Iniciação - Solos DispersivosDocumento6 páginasTrabalho de Iniciação - Solos DispersivosCarlosFBMonteiroAinda não há avaliações
- Avaliação de Pesquisa - Base Histórica e Legal Da EducaçãoDocumento5 páginasAvaliação de Pesquisa - Base Histórica e Legal Da Educaçãolillianfran6Ainda não há avaliações
- Cópia de Atividade Avaliativa Da Unidade IIDocumento5 páginasCópia de Atividade Avaliativa Da Unidade IIWadna AmorAinda não há avaliações
- Seis Regras para PersuadirDocumento2 páginasSeis Regras para PersuadirGinamagalhãesAinda não há avaliações
- PROLICEN - VII Congresso de Pesquisa Ensino e Extensao-Conhecimento e Desenvolvimento SustentavelDocumento536 páginasPROLICEN - VII Congresso de Pesquisa Ensino e Extensao-Conhecimento e Desenvolvimento SustentavelJuliana Moral PereiraAinda não há avaliações