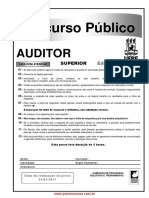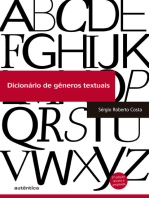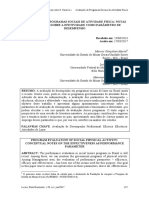Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Norma e Prescrição Lingüística
Enviado por
G.Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Norma e Prescrição Lingüística
Enviado por
G.Direitos autorais:
Formatos disponíveis
Norma e Prescrição Lingüística
Maria Helena de Moura Neves
O temo norma tem duas significações básicas, quando o campo é o da linguagem.
Na primeira, entende-se norma como a modalidade lingüística "normal", "comum".
Em princípio essa modalidade seria estabelecida pela freqüência de uso, e, se se
contempla, realmente, o uso lingüístico, essa visão, sem fazer valoração, reparte a
noção de norma por estratos sociais (variação de uso diastrática), por períodos de
tempo (variação de uso diacrônica) por regiões (variação de uso diatópica). A
ressalva é que pode tratar-se de uma língua idealizada como "normal", "comum",
e, então, a noção é de uma única modalidade, aquela concebida e tida como usual,
como "média dos falares", abstraindo-se, por aí, a freqüência e a modalidade de
uso.
Na segunda significação, o termo norma é entendido como o uso regrado, como a
modalidade "sabida" por alguns, mas não por outros. Também neste caso, se se
contempla a real inserção de tal modalidade "padrão" no uso lingüístico, a noção de
norma se reparte diastrática, diacrônica e diatopicamente, entretanto com juízo de
valor sobre as modalidades, em cada zona de variação: umas são mais prestigiadas
que outras. De outro lado, se há uma - e apenas uma - modalidade estabelecida
como representação de um padrão desejável, a concepção é ainda mais arbitrária,
e sempre se sustenta por autoridade.
Nas duas concepções insere-se a norma na sociedade. Na primeira, o que está em
questão é o uso, e, então, a relação com a sociedade aponta para a aglutinação
social. Na segunda, trata-se de bom-uso, e a relação com a sociedade aponta para
a discriminação, criando-se, por aí, estigmas e exclusões. É crucial a diferença.
No domínio interno da organização lingüística, outras noções se oferecem a reflexão
- por exemplo, a pureza, a vernaculidade, ou mesmo, o logicismo, na língua - mas
qualquer uma dessas noções só se liga a norma prescritivista por via de uma
relação com parâmetros sociais, aí incluída a autoridade de usuários considerados
os sábios da língua (especificamente, os gramáticos). Com efeito, não haveria
qualidades internas ao sistema da língua capazes de responder pela fidelidade do
uso lingüístico a padrões considerados puros ou elevados (purismo), ou pela
fidelidade da organização da língua à organização do pensamento (logicismo).
Na compreensão da necessária relação entre propriedades lingüísticas e parâmetros
sociais fica implicado que ela se faz em duas direções: na direção da língua para a
realidade social e na direção desta para a língua. Assim, de um lado, é possível
entender-se que a língua (especialmente se tida como monolítica) pode sustentar a
identidade de uma sociedade e frear sua fragmentação, mas, por outro lado, pode-
se entender que a diversidade social há de configurar uma língua não monolítica, a
serviço da diversidade, sem se estabelecer uma relação necessária com
fragmentação. Já observei, em um artigo, que, afinal, já em 1935 Firth
desmanchava o mito da existência de uma língua monolítica e homogênea.
Foi à escola, como espaço institucional privilegiado de parametrização social, que
tradicionalmente se confiou o papel de guardiã da norma regrada e valorizada,
daquele bom-uso que tem o poder de qualificar o usuário para a obtenção de
passaportes sociais, e, portanto, para o trânsito ascendente nos diversos estratos.
Foi por aí que se perpetuou, na educação escolar, aquele esquema medieval de
associação de modelo de uso com autoridade e com urbanidade, ligando-se sempre
2
bom-uso lingüístico a fixidez de parâmetros, e corrupção lingüística a alteração e
mudança.
Obviamente o bom-uso se fixou na modalidade escrita, entendendo-se a linguagem
falada como território que, por menor, podia abrigar todas as tolerâncias e
"transgressões", como se língua falada não tivesse norma, quase como se não
tivesse gramática. Criou-se, na escola, um tal abismo entre as duas modalidades
que, no fundo, instituiu-se que a fala (em princípio, a modalidade do aluno) é
imperfeita por natureza, e que língua escrita (em princípio, a modalidade do
professor) é a meta a ser atingida, como se não houvesse modalidade-padrão
também na fala e como se o conhecimento de um padrão prestigiado, na língua
falada, não fosse também desejável.
A marcada imprecisão que se observa no equacionamento das relações entre fala e
escrita nas escolas talvez possa ser apontada como um dos maiores fatores dos
maus resultados do ensino de língua materna, tanto no que se refere ao
desempenho eficiente quanto no que se refere à adequação da linguagem aos
padrões socialmente valorizados. Ignora-se a diferente natureza das duas
modalidades, ignorância que parte da diferença básica entre a co-autoria que
caracteriza a produção falada típica - a conversação - e a responsabilidade pessoal
e individual do texto escrito. Obviamente, essa é a primeira fonte da menor pressão
prescritivista sobre a língua falada: tal pressão se liga, fortemente, às
características propriamente lingüísticas da produção escrita, e não se dá apenas
por motivação social, embora esta seja obviamente relevante, especialmente
porque o texto escrito tem perenidade, o que o deixa sob constante observação.
Ora, não há como não ver que, na produção escrita, diferentemente do que ocorre
na produção oral, ficam muito evidentes as marcas - e a ausência de marcas - de
concordância, de regência, de flexão, etc., e, assim, ficam testemunhadas as
quebras sintáticas, Numa conversação, que é uma construção coparticipativa, a
completude sintática nem é esperada, e, muitas vezes, nem mesmo é desejável, já
que repetições, digressões, inserções, correções e, mesmo, hesitações, que, em
princípio, truncariam, atropelariam e subverteriam orações, constituem valiosos
recursos para encadeamento temático da seqüência, para relevo de segmentos,
afinal, para condução do fluxo de informação. Além disso, o texto escrito traz, ao
menos virtualmente, um fechamento semântico que vem na direção do autor para
o leitor, configurado pela intenção do produtor do texto, por mais que este tenha a
consciência ¾ e a esperança ¾ de que o leitor seja o construtor final do sentido
daquilo que ele "diz", e, por aí, "interaja" com ele, seja o seu "interlocutor", para
que a finalidade maior da criação do texto se cumpra.
Apesar de a língua escrita ser o território em que mais se evidencia a obediência,
ou não, a modelos prestigiados de uso, pode-se afirmar que em qualquer
modalidade de língua se constituem normas que emergem naturalmente da média
dos usos nas diferentes situações. A mesma teoria que mostrou que variação e
mudança são propriedades constitutivas da linguagem, e que, portanto, existem
diferentes e legítimos modos de uso da língua em diferentes lugares, em diferentes
tempos e em diferentes situações, mostra, também, que a funcionalidade desses
diferentes usos, e, portanto, a sua adequação, inclui a existência de normas,
inclusive de uma norma-padrão, socioculturalmente definida e valorizada.
A grande questão ainda mal compreendida, e não apenas na visão leiga, é o
estabelecimento da fonte de legitimação do prestígio de determinados padrões, isto
é, a fixação de quais sejam as razões pelas quais uma determinada construção é,
ou não, abonada pelas lições normativas.
3
Assim, por exemplo, muitas vezes se aponta como modelar um uso porque ele é
corrente em escritores "clássicos" da língua, correndo-se o risco de propor lições
que ignoram o princípio básico de variabilidade e evolução das línguas. Na verdade,
esse modo de estabelecimento de padrões é insustentável. Observe-se que as
obras prescritivistas atuais recomendam a regência indireta para o verbo obedecer
(com complemento iniciado pela preposição a), que não é, entretanto, a regência
usada por clássicos (não se esqueça que Vieira escreveu "Quem ama obedecerá e
guardará meus preceitos" e que Vieira e Euclides da Cunha escreveram "obedecê-
los").
Outras vezes, sem apelar para a autoridade da antigüidade (uetustas), considera-
se prestigiado um uso porque ele ocorre em alguns grandes escritores (urbanitas),
reconhecendo-se, aparentemente, o princípio básico de variabilidade das línguas,
mas ainda permanecendo-se no erro de vencer essa ignorância apenas quanto à
variabilidade no tempo. De qualquer modo, haverá, ainda, a enfrentar a dificuldade
de estabelecer as exatas fronteiras de "legitimidade" e prestígio, já que se
encontrarão outros bons escritores que não adotam os mesmos parâmetros.
O simples reconhecimento dessa dificuldade - e a conseqüente relativização do
valor propriamente lingüístico de uma norma prescritivista - já seria um grande
avanço, e a própria proposição da norma de prestígio já se formularia mais como
uma orientação para adequação sociocultural de uso do que como uma receita de
"legitimidade" e de "pureza" lingüística de determinadas construções. Essas
construções, na verdade, em geral se erigiram em modelo porque
socioculturalmente representam o uso de uma elite intelectual do momento, e não
porque são as "legítimas" e "puras" construções da língua portuguesa, qualidades
difíceis de verificar, na quase totalidade dos casos. Não esqueçamos que, dentro de
(centenas de) anos, com certeza não serão as mesmas as prescrições, e que, por
exemplo, uma preposição que hoje se diz ser exigida no complemento de um
verbo, sob pena de cometimento de pecado mortal, pode ser o diabo da vez dentro
de algum tempo! Ou vice-versa.
Maria Helena de Moura Neves é lingüista e professora da Unesp de Araraquara
(SP).
Retirado de http://www.comciencia.br/reportagens/linguagem/ling12.htm
Você também pode gostar
- Monteiro José Lemos - Multidialetalismos e Ensino Maria Helena Moura Neves Norma e Prescrição LinguísticaDocumento10 páginasMonteiro José Lemos - Multidialetalismos e Ensino Maria Helena Moura Neves Norma e Prescrição LinguísticaclaragadiolaAinda não há avaliações
- Estudos gramaticais de portuguêsDocumento22 páginasEstudos gramaticais de portuguêsGiovanni FaglioniAinda não há avaliações
- Texto I - Subordinação OracionalDocumento34 páginasTexto I - Subordinação OracionalAguiarAinda não há avaliações
- DSDDocumento11 páginasDSDLuciano AlmeidaAinda não há avaliações
- Norma Lingüística e Preconceito Social - Bagno PDFDocumento13 páginasNorma Lingüística e Preconceito Social - Bagno PDFBarbara PaivaAinda não há avaliações
- Compreensão de textos em portuguêsDocumento83 páginasCompreensão de textos em portuguêseldmaras100% (1)
- A Língua Na MídiaDocumento5 páginasA Língua Na MídiaMarcelo LimaAinda não há avaliações
- Bechara (2014)Documento8 páginasBechara (2014)LuisaAinda não há avaliações
- Ensino de línguas sem estigmasDocumento3 páginasEnsino de línguas sem estigmasLú Cia100% (1)
- Ensino de língua e variação linguísticaDocumento18 páginasEnsino de língua e variação linguísticaMara RúbiaAinda não há avaliações
- Língua Culta e PopularDocumento14 páginasLíngua Culta e PopularPiter CostaAinda não há avaliações
- História do Pensamento Linguístico: evolução da linguística como ciênciaDocumento2 páginasHistória do Pensamento Linguístico: evolução da linguística como ciênciaCARLOS EDUARDO MARCONDES BROMOLDAinda não há avaliações
- 08 Engenheiro CivilDocumento20 páginas08 Engenheiro Civilsalomaojunior02Ainda não há avaliações
- Mudança linguística: Uma abordagem baseada no usoNo EverandMudança linguística: Uma abordagem baseada no usoAinda não há avaliações
- O que é a língua padrão e suas característicasDocumento3 páginasO que é a língua padrão e suas característicasDebora SousaAinda não há avaliações
- Corpo do Trabalho FinalDocumento21 páginasCorpo do Trabalho FinaltatiiprataAinda não há avaliações
- Concurso Público para PsicólogoDocumento17 páginasConcurso Público para PsicólogobrunopsirhAinda não há avaliações
- A Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanNo EverandA Estrutura Potencial do Gênero: Uma Introdução às Postulações Sistêmico-Funcionais de Ruqaiya HasanAinda não há avaliações
- Níveis de Linguagem e Conceitos de NormaDocumento96 páginasNíveis de Linguagem e Conceitos de NormaBruna FerreiraAinda não há avaliações
- Fichamento Norma Culta Brasileira Desatando Alguns NosDocumento5 páginasFichamento Norma Culta Brasileira Desatando Alguns NosGabriela Schwartz VitórioAinda não há avaliações
- A abordagem comunicativa na perspectiva da natureza da linguagemDocumento20 páginasA abordagem comunicativa na perspectiva da natureza da linguagemDANIELA SILVA SANTOSAinda não há avaliações
- BAGNO - Tarefas Da Educação Linguística No BrasilDocumento4 páginasBAGNO - Tarefas Da Educação Linguística No BrasilAlexandre FernandesAinda não há avaliações
- 03 AuditorDocumento18 páginas03 AuditorAndreia AlmeidaAinda não há avaliações
- Descrição x Prescrição linguísticaDocumento11 páginasDescrição x Prescrição linguísticaDayse BenícioAinda não há avaliações
- Variação Da Língua PortuguesaDocumento9 páginasVariação Da Língua PortuguesaGrazielaAinda não há avaliações
- 01 - Preconceito Linguístico e Gêneros TextuaisDocumento27 páginas01 - Preconceito Linguístico e Gêneros TextuaisEduardo CesarAinda não há avaliações
- CAMACHO Sobre Sociolinguistica PDFDocumento22 páginasCAMACHO Sobre Sociolinguistica PDFTiago MouraAinda não há avaliações
- Estilo ou vício linguísticoDocumento8 páginasEstilo ou vício linguísticoBruno Souza Teixeira PouchainAinda não há avaliações
- Sistema, Norma e FalaDocumento4 páginasSistema, Norma e FalaPilarCordeiroAinda não há avaliações
- Leitura Produção TextoDocumento54 páginasLeitura Produção TextoRusso Tattooer100% (1)
- Português - Aula 1Documento11 páginasPortuguês - Aula 1Clotilde CamposAinda não há avaliações
- A norma oculta e o preconceito lingüístico no BrasilDocumento5 páginasA norma oculta e o preconceito lingüístico no BrasilRubens MMaiaAinda não há avaliações
- ESCRITA FORMAL E ESCRITA VIRTUAL: Orgulho e PreconceitoDocumento6 páginasESCRITA FORMAL E ESCRITA VIRTUAL: Orgulho e PreconceitoAdriane de AndradeAinda não há avaliações
- Língua falada e escrita: como se processa a construção textualDocumento16 páginasLíngua falada e escrita: como se processa a construção textualPaulo de ToledoAinda não há avaliações
- QUESTÃO DA HISTÓRIA NA LITERATURA POS COLONIALDocumento13 páginasQUESTÃO DA HISTÓRIA NA LITERATURA POS COLONIALRegina EstevesAinda não há avaliações
- Ling Port IVDocumento32 páginasLing Port IVGeorge Gileno0% (1)
- Artigo - Todo Jogo Tem RegrasDocumento14 páginasArtigo - Todo Jogo Tem RegrasDarcilia SimoesAinda não há avaliações
- Bourdieu e a competência comunicativaDocumento6 páginasBourdieu e a competência comunicativaJoão Gabriel Sampaio Messias RibeiroAinda não há avaliações
- Linguagem Coloquial x CultaDocumento18 páginasLinguagem Coloquial x CultaEder JunioAinda não há avaliações
- Crimes contra a dignidade sexual: A memória jurídica pela ótica da estilística léxicaNo EverandCrimes contra a dignidade sexual: A memória jurídica pela ótica da estilística léxicaAinda não há avaliações
- norma explícita e implícita em sentido diversoDocumento7 páginasnorma explícita e implícita em sentido diversomarcelolimaguerraAinda não há avaliações
- O letramento e a oralidade na sociedadeDocumento10 páginasO letramento e a oralidade na sociedadeNivea InesAinda não há avaliações
- Texto e gramática: Uma visão integrada e funcional para a leitura e a escritaNo EverandTexto e gramática: Uma visão integrada e funcional para a leitura e a escritaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)
- Gramática, coesão e colocaçãoDocumento8 páginasGramática, coesão e colocaçãoRaquel EhlersAinda não há avaliações
- Ensino da gramática na escolaDocumento3 páginasEnsino da gramática na escolaTiago ValenteAinda não há avaliações
- Resenha - Da Fala para A Escrita: Atividades de RetextualizaçãoDocumento2 páginasResenha - Da Fala para A Escrita: Atividades de RetextualizaçãoAline Cristina MazieroAinda não há avaliações
- Normas linguísticas brasileirasDocumento7 páginasNormas linguísticas brasileirasHélder BrinateAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Disciplina de Comunicação - Monique Santos NeivaDocumento7 páginasAtividade 1 - Disciplina de Comunicação - Monique Santos NeivaMonique NeivaAinda não há avaliações
- Fala e EscritaDocumento11 páginasFala e Escritavirtual odysseyAinda não há avaliações
- Gêneros textuais: teoria e conceitosDocumento14 páginasGêneros textuais: teoria e conceitosMenina_Emilia100% (2)
- Resenha Norma Culta BrasileiraDocumento6 páginasResenha Norma Culta BrasileirasuhgarciaAinda não há avaliações
- Gramática e LinguísticaDocumento2 páginasGramática e LinguísticaLucas LisbôaAinda não há avaliações
- Texto Lingua e DialetoDocumento8 páginasTexto Lingua e DialetoMilene MacielAinda não há avaliações
- Ensinando escrita no século XXIDocumento15 páginasEnsinando escrita no século XXIednarimAinda não há avaliações
- Livro Comunicaçãõ e ExpreessaoDocumento12 páginasLivro Comunicaçãõ e ExpreessaoCaroline MoraisAinda não há avaliações
- Normas Linguísticas em FaracoDocumento5 páginasNormas Linguísticas em FaracoROSANA CRISTINA PINHEIRO BRAZAinda não há avaliações
- A Norma Padrão Como Uma Das Variedades Da LínguaDocumento2 páginasA Norma Padrão Como Uma Das Variedades Da LínguakyleAinda não há avaliações
- A Evolução Do Cérebro HumanoDocumento2 páginasA Evolução Do Cérebro Humanojoao100% (1)
- Vamos Patinar Versao em PortuguesDocumento39 páginasVamos Patinar Versao em PortuguesVitor Gomes Lopes100% (1)
- Maternal I 01 08Documento2 páginasMaternal I 01 08Sandra SilvaAinda não há avaliações
- Orientações de Plano de Trabalho Docente 22Documento7 páginasOrientações de Plano de Trabalho Docente 22SimoneHelenDrumondAinda não há avaliações
- Vocabulary - The World of WorkDocumento2 páginasVocabulary - The World of WorkLurdes Moura100% (1)
- TEMA 6 - O Patrimônio Histórico e Cultural em Questão No BrasilDocumento2 páginasTEMA 6 - O Patrimônio Histórico e Cultural em Questão No BrasilJhonatan PerottoAinda não há avaliações
- Cap 30 - Curso de Umbanda Básica-Evolução e RegressãoDocumento2 páginasCap 30 - Curso de Umbanda Básica-Evolução e RegressãoAngelica PatricioAinda não há avaliações
- Fundamentos e Fontes Dos Direitos HumanosDocumento7 páginasFundamentos e Fontes Dos Direitos HumanosJosy Portela100% (1)
- Automatização de Verbos Exercícios Usando Verbos Regulares e Irregulares No Presente Do Indicativo Presente Do Indicativo Fevereiro 16 de 2023Documento12 páginasAutomatização de Verbos Exercícios Usando Verbos Regulares e Irregulares No Presente Do Indicativo Presente Do Indicativo Fevereiro 16 de 2023MARIA TERESA RENGIFO MAMIANAinda não há avaliações
- Ds Romi GL Ab 140509 - Linha Romi GLDocumento8 páginasDs Romi GL Ab 140509 - Linha Romi GLCarlos Correia de BritoAinda não há avaliações
- BA20230558379 877wDDocumento1 páginaBA20230558379 877wDengenhariadosreisAinda não há avaliações
- Apqp - QS9000Documento98 páginasApqp - QS9000Tutu GuriAinda não há avaliações
- Erich Von Daniken Crepusculo Dos DeusesDocumento176 páginasErich Von Daniken Crepusculo Dos Deusesrtmargareth100% (2)
- Atividade avaliativa de fraçõesDocumento3 páginasAtividade avaliativa de fraçõesGlaucia Mendes Prates Carvalho100% (1)
- Críticas ao campo jornalístico e necessidade de avanços epistemológicosDocumento4 páginasCríticas ao campo jornalístico e necessidade de avanços epistemológicosLorena AndradeAinda não há avaliações
- CaligrafiaDocumento56 páginasCaligrafiaRoberta FraguasAinda não há avaliações
- UFSCar Física Experimental B Anotações 2014Documento103 páginasUFSCar Física Experimental B Anotações 2014geniunetAinda não há avaliações
- Avaliação de programas de atividade físicaDocumento28 páginasAvaliação de programas de atividade físicamarcosgmacielAinda não há avaliações
- Senântica Do Inglês-Prova Av2Documento7 páginasSenântica Do Inglês-Prova Av2Kelly SantosAinda não há avaliações
- Pensar na adequação da linguagemDocumento35 páginasPensar na adequação da linguagemLuciene Cardoso0% (2)
- Normalização Telecurso2000Documento37 páginasNormalização Telecurso2000Taiane Cabral100% (1)
- Modelo AbntDocumento3 páginasModelo Abntkamila ribeiroAinda não há avaliações
- Projeto de pesquisa de mestrado em engenharia civilDocumento5 páginasProjeto de pesquisa de mestrado em engenharia civilManuel NetoAinda não há avaliações
- Estágio de Regência No Curso de Letras-1Documento22 páginasEstágio de Regência No Curso de Letras-1Luciana DiasAinda não há avaliações
- TAREFA 1 TCCDocumento10 páginasTAREFA 1 TCCDayvid MachadoAinda não há avaliações
- Obras 2a Fase OABDocumento4 páginasObras 2a Fase OABTatiana OliveiraAinda não há avaliações
- Simulado de Vespera PmceDocumento29 páginasSimulado de Vespera PmceHumberto WilleAinda não há avaliações
- A Transposição Manual de PeixesDocumento6 páginasA Transposição Manual de Peixeslilianelionco4407Ainda não há avaliações
- História Da Matemática Relacionada À ArquiteturaDocumento16 páginasHistória Da Matemática Relacionada À ArquiteturaAlessandra Vitti100% (4)
- Regras fichas leitura bibliográficaDocumento3 páginasRegras fichas leitura bibliográficaMoza TechAinda não há avaliações