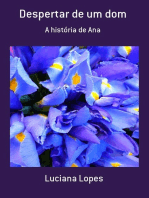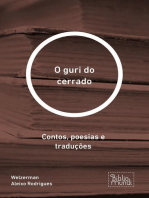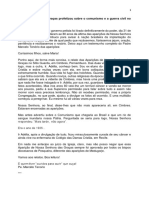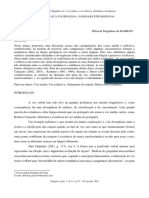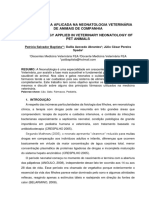Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LUIZ ALMEIDA - Conto - Primeira Comunhão
Enviado por
Luiz Almeida0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
53 visualizações5 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
53 visualizações5 páginasLUIZ ALMEIDA - Conto - Primeira Comunhão
Enviado por
Luiz AlmeidaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
LUIZ ALMEIDA
Primeira Comunhão
Para:
BRENDAN THOMAS MURPHEY
Eles nasceram no mesmo dia, uma segunda-feira, 28 de janeiro de 1831, e se
encontram uma única vez, no primeiro domingo de dezembro de 1840, dia 6, quando
fizeram a Primeira Comunhão na Matriz de Nosso Senhor dos Passos, na freguesia do
mesmo nome.
Até então, uma grande distância ― para a época ― os separava: duas léguas —
duas horas a cavalo, três de liteira!
Ele saiu da fazenda com o escuro, junto com a mãe, dois escravos que
conduziam a liteira, e um capataz, armado como de costume. A missa solene começaria
às 8 horas, era preciso andar sempre o mais rápido possível, porque o trecho de serra
dificultava sobremaneira a viagem. Felizmente, como transcorreram alguns dias sem
chuva, o terreno seco ajudou na longa descida até o vale do rio, e alcançaram a vila
meia hora antes do início do Santo Ofício.
A mãe, como de outras vezes, chegara indisposta, apesar dos cuidados com a
alimentação que se impusera durante toda a véspera. O balanço da liteira causava-lhe
uma sucessão de náuseas que a muito custo pudera suportar sem interromper a marcha.
Doutro modo, teriam sido necessárias várias paradas a fim de que ela se recompusesse,
descendo da liteira, andando de um lado para o outro, respirando fundo por alguns
minutos. E, mesmo assim, prosseguia a viagem não de todo aliviada do renitente enjoo.
O padre os recebeu na sacristia e, sabedor do sacrifício que era, para a mãe, a
difícil jornada, veio recebê-los com largo sorriso, abraçando-os, oferecendo a ela uma
cadeira de palhinha para que repousasse, enquanto conduzia o menino pela mão ao
confessionário. Nos dois últimos meses, ele fora à fazenda toda semana para
acompanhar o ensino do catecismo, com que a mãe preparava o filho. E, tão dedicada
era ela, o padre surpreendia-se com a formação cristã que um menino de nove anos ia
demonstrando. Arguia-lhe sobre a história sagrada, os mandamentos, os dogmas, e o
pequeno não titubeava nas respostas, nas quais o vigário reconhecia a devoção materna.
Outras famílias vinham chegando, trazendo os filhos, e a sacristia foi sendo
tomada por um murmurinho crescente até que o padre, já paramentado, exortasse os
adultos a se dirigirem à nave da Matriz e, reunindo as crianças aos pares, menino e
menina, deu-lhes as recomendações finais de como se portarem na celebração litúrgica.
Assim foi que ele e ela, escolhidos pela mão do acaso para formar um par,
deram-se as mãos e trocaram um sorriso, no qual emoções desconhecidas se
atropelavam no júbilo do momento.
— Você tem mais de dez? — ela lhe perguntou, porque ele era o menino mais
alto de todos.
— Vou fazer mês que vem.
— Mês que vem? Que dia? — ela havia pegado na mão dele, que era levemente
cálida.
— Vinte e oito.
— Vinte e oito? — ela agora lhe dirigia um olhar de espanto e graça, os olhos
fixos, negros, cheios de um brilho límpido.
Formou-se a procissão de entrada: a cruz à frente, os acólitos empunhando os
castiçais dourados com as velas acesas, o sacristão com o turíbulo, as crianças duas a
duas, por fim o sacerdote.
A menina fixou-se no Cristo vergado sob a cruz, o manto roxo, a coroa de
espinhos, manchas de sangue pelo rosto. E a imagem tão sofrida lhe trouxe não o pesar
de outras vezes, mas uma felicidade interior como se fosse uma obrigação dela, naquele
momento, recompensar as dores do Deus-homem com uma intensa alegria infantil. Era
uma cerimônia luminosa, de cânticos e flores, o Cristo presente era outro, refeito do
martírio, vivo e feliz — assim, ela sublimava o calvário divino. No momento da
eucaristia, quis fechar os olhos, mas não conseguia renunciar à luz dourada que banhava
o altar, e não distinguia mais o Crucificado. Em Seu lugar, encontrava o milagre da
ressurreição, prêmio divino aos puros de coração, ao qual ela agora se sentia
merecedora. O padre havia dito que a hóstia tinha gosto de pão, pois era feita de trigo.
Ela, porém, nem de pão sentiu o gosto: algo sem peso ou sabor, nem frio nem quente,
apenas branco e puro, fazia com que ela se esquecesse de quem era, onde estava, e
poderia, como os anjos, voar se quisesse, bastava um leve impulso dos pés. E durou
tanto tempo essa sensação que ela teve medo de se encontrar sozinha, num lugar
distante, alto, muito alto, entre as nuvens talvez. Quando voltou a si, olhando ao lado, o
menino a observava, um leve sorriso como se indagasse aonde ela havia ido, tão
distraída ficara.
— Parecia que voava bem alto, como os pássaros… — ela lhe disse, sussurrando
ao ouvido.
— Preste atenção à missa! — ele respondeu, com ternura.
Ela trazia sobre o véu uma grinalda com algumas flores de laranjeira, que, a
custo, a mãe conseguira, já que a florada das laranjeiras havia passado. O menino
compreendeu que ela, entre todas as meninas, era a mais bonita, e seu perfume, que ele
logo reconheceu, dava-lhe a impressão de nunca ter aspirado o aroma de flores de
laranjeira. Era como se fosse a primeira vez, ele não sabia dizer quando, talvez quando
era muito pequeno e nem soubesse ainda que ele seria ele, que, um dia, aquele perfume
distante cobriria de encantos uma menina tão linda, fazendo com que ele tremesse por
dentro ao aspirá-lo.
Ite, missa est! E formou-se um tumulto na igreja, os familiares procurando pelos
filhos. Ela pegou na mão do menino, foi arrastando-o para a capela do lado direito, onde
se abria a porta da saída lateral, que dava para o grande campo gramado do Cruzeiro.
Queria mostrar-lhe onde ficava sua casa, ali, do outro lado do campo, queria convidá-lo
para ir tomar o café com bolo junto com ela.
Ele procurou explicar: haviam trazido um bolo em fatias, só de lembrar dava
água na boca, estava morrendo de fome, levantara-se muito cedo, a mãe passava mal na
viagem, eles iam comer o bolo na sacristia, o pai não viera, não era religioso, mas era
amigo do vigário, que ia sempre à fazenda, passavam a noite caçando.
A essa altura, ela se viu cercada pelo pai e a mãe, duas tias, e pôs-se
afobadamente a contar à mãe sobre o menino, queria que ele fosse à sua casa para o
café, estava em jejum desde a madrugada, já não podia mais com tanta fome.
O pai, então, mandou que seguissem para casa: ia procurar a mãe do menino ―
eram conhecidos de longa data ―, ele a convenceria a acompanhá-los. E, assim feito,
logo estavam todos ao redor da grande mesa, a menina com gracioso vestido branco, o
menino de terno também branco, calças curtas, cada um com seu terço e o pequeno
missal ao lado sobre a mesa, não queriam se separar deles.
Após o café, a mãe do menino, agradecendo a gentileza, começou a se despedir,
precisavam retornar logo à fazenda.
A menina protestou: mal conhecera seu companheiro de Primeira Comunhão, o
vigário dissera que passavam a ser como verdadeiros irmãos, ela queria brincar com ele,
pedia que o pai intercedesse, implorava à sua mãe, à mãe do menino, almoçassem
juntos, depois seguiriam. O vigário havia combinado de vir almoçar com eles, ficaria
feliz de revê-los ainda juntos.
O menino também se mostrava contrafeito, pedia também à mãe para ficarem
mais um pouco, ainda era muito cedo, ela ia se sentir mal de novo.
E travou-se uma discussão entre os adultos, as argumentações e contra-
argumentações, mas é sempre o destino que escolhe os caminhos, e eles chegaram a
uma solução: a mãe mandou que o capataz voltasse à fazenda, levasse o burro da
dianteira da liteira, trocasse por outro que pudesse dar mais conforto na andadura, de
passada mais leve, ela instruía. Dissesse ao senhor seu patrão que estavam na casa do
comerciante, onde almoçariam, os filhos foram colegas de Primeira Comunhão, queriam
ficar um pouco mais juntos. Voltariam ao entardecer, o tempo estava firme, com a
fresca da tarde a viagem seria mais amena, que ele compreendesse e não se preocupasse.
A menina levou o amigo aos fundos da casa. Ali havia um pátio mourisco,
calçado de lajes de pedra, bem-aparelhadas, tendo ao centro um tanque circular, também
de pedra. Pela manhã, todos os dias, os escravos esvaziavam o taque, esfregavam bem
as paredes e o fundo e o enchiam com água pura de mina, que transportavam em tonéis.
Essa era a água de que se fazia uso na casa.
Os dois puseram-se a correr em volta do lago, ela cantava uma quadrinha
aprendida com a mucama, ele ria do jogo de palavras, no qual o amor se disfarçava num
feiticeiro sagaz. O que ela sabia sobre o amor era o que essa cantiga informava: alguém,
um forasteiro, que vinha bater à porta do coração, um negro banto, alto e faceiro, de
largo sorriso, um negro tropeiro, corria mundo inteiro, ladino e veloz, qualquer isso o
espantava, e voltar, não voltava.
Ofegantes, sentaram-se na borda do lago, o dia estava muito quente, a água
refrescava a atmosfera, uma leve viração soprava do pomar, trazendo uma competição
de fragrâncias e o alarido sinfônico dos pássaros. O menino, então, molhou as mãos na
água e acariciou o rosto da pequena branca de neve, recém-despertada para as coisas do
coração. Ela fechou lentamente os olhos, e, quando os abriu, já eram outros, mais
negros, de um brilho fulminante, ele piscou seguidamente, ela perguntou se havia lhe
caído um cisco na vista. Então, ela retribui-lhe o carinho, aproximou-se dele e foi
beijando seu rosto, apenas o leve roçar dos lábios sobre a penugem invisível da pele. De
olhos fechados, ele cavalgava um potro selvagem, disparado pelo vargedo, e, num salto,
cruzava o grande rio, sumindo no mundo das fadas.
Quem tem o seu condão em seis milhões que mais necessita que acenar? ― era
um provérbio que a mãe vivia dizendo sobre ela, não simplesmente uma criança, mas
um tesouro de bem-aventuranças. Lembrando-se desse dito, ela pôs-se a repeti-lo,
bailando e acenando em torno do menino, que também cantarolava como um refrão de
uma quadrinha infantil.
A mesa do almoço tinha mais flores que iguarias. O vozerio dos convidados que
vieram celebrar a efeméride pareceria, a quem se detivesse na frente da casa, um coro
vibrante de uma ópera festiva, os talheres retinindo nos pratos como instrumentos de
confusa orquestra.
Ele e ela comiam em silêncio, nada ouviam, ouvindo doces melodias de sinos ao
longe, que tocam apenas para os corações puros.
A mãe os obrigou a descansar nas redes da varanda, os homens fumavam, as
mulheres teciam suas infindáveis confabulações, o meio-dia vibrava suas luzes de fogo.
Os dois, nas suas redes, teriam uma leve sonolência, tão próprio das crianças, um
devaneio enevoado, duas horas se passaram como se não houvesse relógios. Ela
despertou ansiosa: “Venha, venha! Vamos brincar!”. E, como o sol castigasse o pátio,
foram para o pomar, entre as mangueiras e as laranjeiras-da-terra, que eram também
muito altas e de copa fechada. Num ramo de amoreira, descobriram uma borboleta que
se desprendia lentamente do casulo, desenrolando as asas até formarem duas longas
pétalas amarelas, logo se movendo com elegância, experimentando a possibilidade do
voo, fugindo, a seguir, em zigue-zague pela longa nave sombreada que as árvores
formavam.
Há uma tarde, uma única e distante tarde na infância, em que as horas
condescendem de reter as rédeas do tempo, e o sol se arrasta lentamente, regateando, ao
crepúsculo sempre faminto, sua dourada luz.
Assim, os dois companheiros corriam de um lado para o outro, dois pequenos
flocos de nuvem branca navegando no azul da tarde de domingo.
Quando um pajem veio ao quintal para chamá-los, eles estavam sentados sob um
caramanchão coberto de ramas de jasmim vermelho, que a mãe dizia ser o símbolo da
virgindade, detalhe esse que nada lhes significava naquele momento. Mas a menina
olhou pra cima, porque queria apanhar uma daquelas campânulas perfumadas e dar a
ele. Mas estavam tão altas, que desistiu, sem nada dizer.
Lá dentro, a mãe avisou que deviam se despedir, era hora do menino e sua mãe
partirem. Lavassem as mãos para tomar o chá, porque já estava tarde.
À saída, eles se abraçaram, a menina com os olhos úmidos, mas sem choro no
rosto, prometiam se reencontrar brevemente. Ela acompanhou a comitiva pôr-se em
marcha, a liteira balançando, contornando a praça e perdendo-se na esquina da rua de
cima. Nesse momento, uma dor fina percorreu-lhe o ventre, subindo ao peito, algo que a
apertava por dentro, um vazio, a primeira sensação de perda e saudade.
A mãe, vendo que ela desfalecia, pálida, gritou pelo marido, que trouxesse
correndo o vidrinho de sais para ela cheirar. O pai tomou-a nos braços, todos correram,
afobados. Logo que voltou a si, deram-lhe um cálice de Água Inglesa. Mandou chamar
o médico com urgência, mas quando este chegou, ela já se havia recuperado.
À noite, no quarto, ela ficou observando uma graciosa mariposa rodopiar em
torno da manga de vidro do pequeno lampião. Sentia-se melhor, mas a dor por dentro
ainda lhe dizia da separação do menino. Uma dor de angústia que, agora, descobria e
que sentiria muitas vezes ao longo da longa vida, sabendo que era a forma, ainda que
cruel, de reencontrar o menino que nunca mais encontraria.
***
Você também pode gostar
- Yemanjá Quer Hablar ContigoDocumento111 páginasYemanjá Quer Hablar ContigoPatri Nievas100% (2)
- Autobiografia de infânciaDocumento111 páginasAutobiografia de infânciaTotus Tuus Mariae VarginhaAinda não há avaliações
- Guia para provas de postulantes à convenção estadual evangélicaDocumento95 páginasGuia para provas de postulantes à convenção estadual evangélicaChris Iung100% (1)
- Folder TDAHDocumento2 páginasFolder TDAHJoel VarisaAinda não há avaliações
- Uma Carta para Deus: Home Artigos Arte E Cultura Contos InfantisDocumento4 páginasUma Carta para Deus: Home Artigos Arte E Cultura Contos InfantisAliana Calistro BoniattiAinda não há avaliações
- O guri do cerrado: Contos, poesias e traduçõesNo EverandO guri do cerrado: Contos, poesias e traduçõesAinda não há avaliações
- Contos SertanejosDocumento32 páginasContos SertanejoscifrasetabsAinda não há avaliações
- Beata Anna Maria Taigi - Uma santa escondidaDocumento4 páginasBeata Anna Maria Taigi - Uma santa escondidaengenAinda não há avaliações
- 5 Lendas de Natal para Contar Às CriançasDocumento9 páginas5 Lendas de Natal para Contar Às CriançasTalita HunntterAinda não há avaliações
- Um Amor Do Passado (Psicografia Marlene Saes - Espirito Natasha)Documento124 páginasUm Amor Do Passado (Psicografia Marlene Saes - Espirito Natasha)AntoniaLimaAinda não há avaliações
- Alan Paton Chora, Terra Bem AmadaDocumento194 páginasAlan Paton Chora, Terra Bem AmadaGustavo Hanke100% (1)
- Conto de NatalDocumento4 páginasConto de NatalAlessandra Daniela Marchi CarrascoAinda não há avaliações
- O Irmão do Terceiro Grau: Um romance ocultistaDocumento115 páginasO Irmão do Terceiro Grau: Um romance ocultistaLincoln Mansur CoelhoAinda não há avaliações
- Santa Teresa Do AndesDocumento5 páginasSanta Teresa Do AndesGennifer OliveiraAinda não há avaliações
- Boanerges Ribeiro - O Apóstolo Dos Pés SangrentosDocumento72 páginasBoanerges Ribeiro - O Apóstolo Dos Pés SangrentosAgnes Rocha BarbosaAinda não há avaliações
- A Festa de Babette e Outras Anedotas Do DestinoDocumento64 páginasA Festa de Babette e Outras Anedotas Do DestinoBabette HersantAinda não há avaliações
- A última históriaDocumento9 páginasA última históriaUilsonAinda não há avaliações
- Um amor do passado revela lições de vidaDocumento129 páginasUm amor do passado revela lições de vidaPercy Enrique100% (1)
- 25 O Caminho Oculto PDFDocumento22 páginas25 O Caminho Oculto PDFAldo Pacheco Ferreira100% (1)
- 25 - Chico Xavier Veneranda - O Caminho OcultoDocumento22 páginas25 - Chico Xavier Veneranda - O Caminho OcultotepclsAinda não há avaliações
- A Mãe da SabedoriaDocumento19 páginasA Mãe da SabedoriamarianaAinda não há avaliações
- 33 LarDocumento12 páginas33 Larandreluisalves50Ainda não há avaliações
- Pastorinhos de FátimaDocumento102 páginasPastorinhos de FátimaAlisson MirandaAinda não há avaliações
- A dança das cabeças - Uma história de reaproximação entre pai e filhaDocumento8 páginasA dança das cabeças - Uma história de reaproximação entre pai e filhaMiolo de PodAinda não há avaliações
- Vida de São Paulo da CruzDocumento340 páginasVida de São Paulo da Cruzjulianovm100% (1)
- Primeiro CrimeDocumento5 páginasPrimeiro CrimeMari PrincesaAinda não há avaliações
- O Grande Passeio - Clarice LispectorDocumento7 páginasO Grande Passeio - Clarice LispectorRebeca EstrelaAinda não há avaliações
- A AfilhadaDocumento174 páginasA AfilhadaTiago Albino Borges SouzaAinda não há avaliações
- Os Contos H C Andersen 396 401Documento6 páginasOs Contos H C Andersen 396 401Max TorrezanAinda não há avaliações
- História da aparição da Senhora Aparecida contada a criançasDocumento53 páginasHistória da aparição da Senhora Aparecida contada a criançasoivagnerlemos100% (2)
- ReflexãoDocumento33 páginasReflexãoCarlos CarvalhoAinda não há avaliações
- Cartas guia para a felicidade: Um legado transmitido de geração em geraçãoNo EverandCartas guia para a felicidade: Um legado transmitido de geração em geraçãoAinda não há avaliações
- Cimbres, 1936Documento9 páginasCimbres, 1936tupi2009100% (3)
- A Grande Jornada Versão FinalDocumento84 páginasA Grande Jornada Versão FinalHaynaAinda não há avaliações
- Mãe ChicoXavier EspiritosDiversosDocumento135 páginasMãe ChicoXavier EspiritosDiversosFlávio CohenAinda não há avaliações
- Romancistas Essenciais - Júlia Lopes de AlmeidaNo EverandRomancistas Essenciais - Júlia Lopes de AlmeidaAinda não há avaliações
- Almocreve 2012Documento50 páginasAlmocreve 2012Almocreve100% (1)
- Nossa Senhora de Lourdes - Arautos Do EvangelhoDocumento4 páginasNossa Senhora de Lourdes - Arautos Do EvangelhoEdnardo SilvaAinda não há avaliações
- Um Natal DiferenteDocumento2 páginasUm Natal DiferenteAlexandre MontenegroAinda não há avaliações
- Salve, Rainha Santa A Mae de de - Scott HahnDocumento122 páginasSalve, Rainha Santa A Mae de de - Scott HahnEduarda Suassuna100% (2)
- A Face Feminina de DeusDocumento271 páginasA Face Feminina de DeusOsvaldo Luiz MarmoAinda não há avaliações
- Devocionário Nossa Senhora de Lourdes: História, novena e oraçõesNo EverandDevocionário Nossa Senhora de Lourdes: História, novena e oraçõesAinda não há avaliações
- Um Conto de Natal - Miguel TorgaDocumento1 páginaUm Conto de Natal - Miguel TorgamfnacAinda não há avaliações
- Halevy - A-Vida-de-NietzscheDocumento127 páginasHalevy - A-Vida-de-NietzscheVlkaizerhotmail.com KaizerAinda não há avaliações
- A Escrita de Michel Leiris - Marcelo CastroDocumento135 páginasA Escrita de Michel Leiris - Marcelo CastroLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Igreja Do Diabo - 50Documento6 páginasA Igreja Do Diabo - 50Luiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 01 - Thurber - A Vida Secreta de Walter Mitty CópiaDocumento1 página01 - Thurber - A Vida Secreta de Walter Mitty CópiaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Ciência Do Olhar - João Moreira SallesDocumento8 páginasA Ciência Do Olhar - João Moreira SallesLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 00 - Uma Preposição PortuguesaDocumento130 páginas00 - Uma Preposição PortuguesaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Circulação amorosa e poesiaDocumento1 páginaCirculação amorosa e poesiaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Igreja do Diabo - Conto de Machado de AssisDocumento3 páginasA Igreja do Diabo - Conto de Machado de AssisLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- O Infinitivo Pessoal Flexionado1Documento2 páginasO Infinitivo Pessoal Flexionado1AmandaAinda não há avaliações
- Dicionário Crítico Das Escritoras BrasileirasDocumento2 páginasDicionário Crítico Das Escritoras BrasileirasLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Grieco - Dom CasmurroDocumento8 páginasGrieco - Dom CasmurroCarlos LopesAinda não há avaliações
- Comentário CafeteriasDocumento1 páginaComentário CafeteriasLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A voz média e a voz reflexiva: os principais traços formais e semânticosDocumento19 páginasA voz média e a voz reflexiva: os principais traços formais e semânticosLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Entrevista sobre livro e influências literáriasDocumento2 páginasEntrevista sobre livro e influências literáriasLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Terceira Via de Melsohn: Bento Prado JRDocumento1 páginaA Terceira Via de Melsohn: Bento Prado JRLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Análise crítica revela deficiências linguísticas em livro de Paulo CoelhoDocumento1 páginaAnálise crítica revela deficiências linguísticas em livro de Paulo CoelhoLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Bento Prado Defende Conflito de Extremos: Bernardo CarvalhoDocumento2 páginasBento Prado Defende Conflito de Extremos: Bernardo CarvalhoLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Carta a Mário de AndradeDocumento3 páginasCarta a Mário de AndradeLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Texto 10Documento1 páginaTexto 10Luiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A polêmica literária no suplemento Letras da FolhaDocumento7 páginasA polêmica literária no suplemento Letras da FolhaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Uma década perdida: o desempenho econômico do Brasil entre 2003-2012Documento137 páginasUma década perdida: o desempenho econômico do Brasil entre 2003-2012Luiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Letra Escarlate e A Alma Profunda Norte-AmericanaDocumento6 páginasA Letra Escarlate e A Alma Profunda Norte-AmericanaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- A Noite Do IguanaDocumento3 páginasA Noite Do IguanaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 01 - Asturias - O Espelho de Lida SalDocumento1 página01 - Asturias - O Espelho de Lida SalLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 01 - Jackson - A LoteriaDocumento1 página01 - Jackson - A LoteriaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 00 - Locução Verbal Voz Ativa PassivaDocumento1 página00 - Locução Verbal Voz Ativa PassivaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- 01 - Bierce - Um Incidente Na Ponte Owl CreekDocumento1 página01 - Bierce - Um Incidente Na Ponte Owl CreekLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- NotasDocumento5 páginasNotasLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- O Beijo em Praça PúblicaDocumento3 páginasO Beijo em Praça PúblicaLuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Lembranças de SJP - IDocumento1 páginaLembranças de SJP - ILuiz AlmeidaAinda não há avaliações
- Cachaça e Propriedades Das ErvasDocumento12 páginasCachaça e Propriedades Das ErvasRenan LimaAinda não há avaliações
- Carcinoma diferenciado da tireoide: fatores prognósticos e terapiaDocumento55 páginasCarcinoma diferenciado da tireoide: fatores prognósticos e terapiaJoice Azevedo100% (1)
- Bioeletrogênese e potencial de repousoDocumento9 páginasBioeletrogênese e potencial de repousoDenise Barth RebescoAinda não há avaliações
- AntiviraisDocumento3 páginasAntiviraisGisvaldoAinda não há avaliações
- Farmacologia na neonatologia de animais de estimaçãoDocumento6 páginasFarmacologia na neonatologia de animais de estimaçãoPatricia SalvadorAinda não há avaliações
- Arteterapia e Expressão CorporalDocumento26 páginasArteterapia e Expressão CorporalFelipe Salles Xavier100% (1)
- Apostila Anatomia e Fisiologia HumanaDocumento145 páginasApostila Anatomia e Fisiologia HumanaNetúnio Naves da SilvaAinda não há avaliações
- ICA 100-21 - Licenças e Certificados de Habilitação Técnica para Pessoal de OCOAM - 2006Documento32 páginasICA 100-21 - Licenças e Certificados de Habilitação Técnica para Pessoal de OCOAM - 2006kassilva62Ainda não há avaliações
- Anatomia Radiológica Da Coluna VertebralDocumento36 páginasAnatomia Radiológica Da Coluna VertebralTonyParente100% (1)
- Eu Me Rendo - Renascer Praise-1Documento5 páginasEu Me Rendo - Renascer Praise-1Gelson Costa da SilvaAinda não há avaliações
- 4 CicloCelular (Odisseia)Documento39 páginas4 CicloCelular (Odisseia)Isis PensoAinda não há avaliações
- 2 Pulverizadores 3.0Documento114 páginas2 Pulverizadores 3.0Peças01 Caiaponia0% (1)
- Lectio DivinaDocumento9 páginasLectio DivinaSemearAinda não há avaliações
- Atividade para QuaresmaDocumento2 páginasAtividade para QuaresmaBarbara SobralAinda não há avaliações
- Cafeína en Alimentos y BebidasDocumento14 páginasCafeína en Alimentos y BebidasalejandrajriveroAinda não há avaliações
- Folha 3. Caixa - DáguaDocumento1 páginaFolha 3. Caixa - DáguaJuciane SouzaAinda não há avaliações
- Codigo Tributario DivinopolisDocumento107 páginasCodigo Tributario DivinopolisRegilan RibeiroAinda não há avaliações
- 2 Série - LPDocumento16 páginas2 Série - LPNicolas Calizotti Moura0% (2)
- Plano de aula aborda família em pré-escolaDocumento6 páginasPlano de aula aborda família em pré-escolacarolineAinda não há avaliações
- POSITIVISMO X MARXISMODocumento32 páginasPOSITIVISMO X MARXISMOVictor Simões100% (2)
- PR Tica 4Documento4 páginasPR Tica 4Lucas MahiaAinda não há avaliações
- Relatorio Acesso 2018-V.finalDocumento330 páginasRelatorio Acesso 2018-V.finalAnonymous 3IXEzFqSAinda não há avaliações
- Gestão Da Qualidade e Produtividade ProvaDocumento5 páginasGestão Da Qualidade e Produtividade ProvaTabata OliveiraAinda não há avaliações
- Construção vedações verticaisDocumento108 páginasConstrução vedações verticaisBimacon EngenhariaAinda não há avaliações
- Orientação sobre prova prática do RevalidaDocumento51 páginasOrientação sobre prova prática do Revalidalucas fiuzaAinda não há avaliações
- Razões trigonométricas no triângulo retânguloDocumento13 páginasRazões trigonométricas no triângulo retânguloDavi AraujoAinda não há avaliações
- Curso Qualificação Técnica EletrônicaDocumento42 páginasCurso Qualificação Técnica EletrônicaLuan Lemos de SouzaAinda não há avaliações
- Other KinsDocumento6 páginasOther KinsWisley Lopes de AlmeidaAinda não há avaliações
- Física - Revista Superinteressante - A Maior Teoria Do Século (Mecânica Quântica)Documento1 páginaFísica - Revista Superinteressante - A Maior Teoria Do Século (Mecânica Quântica)edurafaelsantosAinda não há avaliações