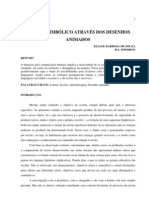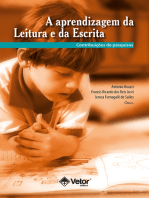Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Luiz Faria Alfabetização Especial para o Como Educar Seus Filhos
Enviado por
almeidaebezerra0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações7 páginaseducação
Título original
LUIZ FARIA ALFABETIZAÇÃO ESPECIAL PARA O COMO EDUCAR SEUS FILHOS
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoeducação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
5 visualizações7 páginasLuiz Faria Alfabetização Especial para o Como Educar Seus Filhos
Enviado por
almeidaebezerraeducação
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
Até os oito anos?
Comecemos assinalando um fato cuja relevância para a ALFABETIZAÇÃO é
desconhecida por não especialistas: para sustentar o funcionamento de
todas as ações nela envolvidas, inclusive a coordenação de movimentos de
grupos musculares, a comunicação oral faz ao cérebro uma demanda de
processamento informacional muito superior à apresentada no caso da
comunicação escrita. Se é assim, por que nós aprendemos a falar sem
necessidade de instrução, enquanto o aprendizado da leitura e da escrita
exige o apoio de um professor?
Em 1877, Adolphe Kaussmaul identificou a word-blindness (cegueira para
palavras), condição na qual o leitor adulto perdia capacidade de ler
palavras, mesmo quando a visão, em geral, e a capacidade de ver,
identificar e distinguir letras e números, em especial, permaneciam
preservadas.
Não obstante a evidência de que a fala estava implicada na leitura,
permaneceu, durante grande parte do século XX, a abordagem de que o x
da questão, para o ato de ler, estava no funcionamento ocular e/ou no
processamento visual.
No campo da Psicologia o chamado efeito de superioridade da palavra,
segundo o qual reconhece-se mais rapidamente uma letra no contexto de
palavra do que isoladamente ou no contexto de uma pseudopalavra,
demonstrado pela primeira vez em 1866, deu suporte empírico às
afirmações segundo as quais, durante a leitura, reconhecemos palavras, ou
pelo menos estruturas de palavras, e não letras isoladas.
No campo da Pedagogia, ideias segundo as quais as crianças aprendem
globalmente, do todo para a parte, e segundo as quais as atividades de
ensino devem privilegiar a ação, o sentido, o significado, disseminaram-se
pelo mundo da educação durante a expansão e consolidação dos sistemas
nacionais públicos de instrução escolar desde o início do século XX.
Assim, procedimentos de ensino de leitura que pouco a pouco passaram a
privilegiar a ação do educando, o reconhecimento da palavra inteira, a
apreensão do significado, tornaram-se muito prestigiosos. Sobretudo a
partir da segunda década do século XX. Isso em contraposição a
procedimentos que caracterizavam a prática pedagógica de alfabetização,
antes da segunda metade do século XIX, quando ela, predominantemente,
enfatizava o conhecimento das letras e do alfabeto, dava relevo às regras
de decodificação e ao domínio do código ortográfico, se servia de textos
que não tinham a preocupação de responder aos interesses infantis.
A partir dos anos 1960 e 1970, hipóteses ligadas à ênfase no tratamento
visual da informação durante a leitura, influenciadas pela revolução
cognitiva que devastou o prestígio do behaviorismo, foram retomadas. Elas
resultaram no desenvolvimento de teorias psicolinguísticas inovadoras. Nos
anos 1990, uma ideia disseminada entre tipógrafos pesquisadores do
problema da legibilidade, segundo a qual leríamos reconhecendo a forma
das palavras, reforçou tais hipóteses.
O cérebro do leitor prestaria atenção à forma inteira da palavra escrita. E
trataria as informações do todo para a parte, globalmente. Na hipótese que
veio da tipografia, por exemplo, uma linha imaginaria circundaria a palavra
escrita, acompanhando os altos e baixos das letras. Daria, assim, uma forma
a cada palavra. A apreensão dessa forma levaria ao reconhecimento da
palavra, isto é, à percepção de que aquela forma gráfica representava uma
palavra da língua oral que o leitor já conhecia e usava. Ademais, ao integrar
informações do texto e do contexto, o cérebro construiria o sentido do
texto. Sem ser atrapalhado por atividades repetitivas e fastidiosas que
tiravam a motivação das crianças para a leitura. A leitura seria, então, como
um jogo psicolinguístico de adivinhação.
Didaticamente isso se traduziu em diminuição dos exercícios de instrução
fônica. Deu-se ênfase tanto à exposição das crianças a um ambiente leitor
estimulante quanto às hipóteses, formuladas pelas próprias crianças, a
respeito do funcionamento do sistema de escrita. Houve, também, a
valorização do conhecimento linguístico que a criança trazia de casa,
qualquer que fosse a variante sociolinguística, frente aos formalismos da
variante de maior prestígio da norma culta.
Os experimentos que testaram, em sala de aulas reais, com crianças de
carne e osso, de vários países, falantes de várias línguas, de diversas
condições sociais, conduzidas por tipos distintos de professores, a
produtividade didática dessas hipóteses, logo as desautorizariam. Restou
demonstrada a improcedência das abordagens globais, hoje chamadas
ideovisuais, que levaram ao conceito de letramento, termo para o qual há
tantas definições quanto o seu úmero de usuários, e ao abandono da
ALFABETIZAÇÃO.
Confrontada por um lado com os números desastrosos do desempenho de
crianças e adolescentes em leitura nos testes nacionais e internacionais
após mais de 30 anos de hegemonia incontrastável de suas teses nas
políticas educacionais brasileiras e na formação de professores no país, e,
por outro, com as evidências científicas que, por toda parte, negam suporte
empírico à teoria e práticas de ensino de leitura por ela elaborada,
preconizada e aplicada no Brasil, a intelligentsia educacional universitária
brasileira lançou uma cortina de fumaça sobre o problema ao se
reposicionar e postular: alfabetizar letrando.
As evidências científicas, há quase meio século, indicam que a escrita
alfabética se baseia em um código. Nele, unidades gráficas de escrita
representam unidades fonológicas da fala. O modo pelo qual essas
unidades gráficas de escrita envelopam unidades fonológicas da fala é tudo,
menos transparente ou conscientemente percebido. E nisso reside a
dificuldade. Tanto para quem ensina quanto para quem aprende a ler.
Na fala, unidades contínuas de energia acústica, presentes nos sinais
sonoros que a compõem, carregam unidades discretas de significação
fonológica. A descrição desse processo, bem como a compreensão dessa
descrição, exige conhecimentos que vão da Física à Psicologia, passando
pela Matemática, Linguística e Medicina. Detê-los e familiarizar-se com eles
é crucial para entender o que entra em jogo quando uma criança tem que
aprender a ler.
No Brasil raros educadores dominam o ciclo completo de informações
necessárias ao desvendamento do que é o aprendizado inicial da leitura e
de seus pontos cruciais. Isso cria dificuldades e gera equívocos. Nem a
formação universitária de docentes para os anos iniciais do Ensino
Fundamental nem a formação de Pedagogos integram estudos
aprofundados em todas essas áreas de saber.
Quanto aos pais, a dificuldade é maior. Eles não possuem os conhecimentos
específicos. E entregam seus filhos em confiança a profissionais cujo nível
de desconhecimento é, muitas vezes, nesse aspecto, comparável ao deles.
Na mesma situação, também se encontra, desinformada e desamparada, a
sociedade: civil e política. Longe de todos está a percepção de que, no
aprendizado da leitura, é crucial o papel do processamento cerebral de
informações sonoras portadoras de valor linguístico.
A manipulação consciente dos elementos fonológicos que compõem a fala,
bem como o conhecimento das regras que põem em funcionamento os
códigos alfabéticos referem-se, predominantemente, à linguagem oral.
Mas diferentemente do que ocorre na comunicação oral, altamente
produtiva, entre outras coisas porque a gestão da relação entre os
elementos fonológicos e acústicos se faz de modo automático e
inconsciente, o uso da escrita obriga à manipulação mecanizada e
consciente desses elementos. Isso sobrecarrega a memória fonológica de
trabalho, componente do sistema de funções executivas centrais do
cérebro. Em consequência, a comunicação escrita perderia produtividade
se nunca pudesse dar tratamento automatizado e inconsciente aos
aspectos fonológicos e acústicos que lhe são intrínsecos.
Acontece que ler não é aprender a ler. O aprendizado da leitura é longo e
difícil. Começa-se na condição de analfabeto, entra-se na condição de leitor
iniciante, passa-se pela condição de leitor hábil e chega-se à condição de
leitor expert. E a condição de leitor expert não se refere somente à perícia
com que se domina aspectos psicofísicos da atividade leitora, mas ao uso
que se pode fazer da escrita. Aí a produtividade da leitura e da escrita
atingem seu ponto máximo. Em sistemas educacionais eficazes a maioria
dos alunos é leitor hábil aos 10/11 anos. Ainda não é leitor expert.
Ser leitor hábil significa ter deixado para trás a fase em que o tratamento
dos aspectos fonológicos e acústicos da fala, codificados na escrita, era
mecânico e consciente. No leitor hábil, esse tratamento, a exemplo do que
ocorre na fala, passa a ser automatizado e inconsciente, inclusive porque a
prática controlada da leitura na fase de leitor iniciante faz uma reciclagem
nas redes neuronais que tratam a informação visual e sonora.
Por que essa reciclagem? Porque nosso cérebro foi provido, no curso do
desenvolvimento da espécie, de recursos para tratar, especifica e
isoladamente, informações visuais e informações sonoras, mas não dispõe
de recursos destinados especificamente ao tratamento de informações
sonoras portadoras de valor linguístico envelopadas em informações
visuais, característica da escrita, particularmente a escrita alfabética.
Ler não é natural, como falar. Mas também não é sobrenatural, uma
espécie de jogo de adivinhação que se pode fazer com custo atencional
zero.
Na fase inicial do aprendizado da leitura, a saber, a ALFABETIZAÇÃO, o
esforço principal tem que estar no ensino explícito e sistemático do
princípio alfabético e nas regras de decodificação. A compreensão não deve
ser negligenciada. Mas as atividades de leitura e compreensão precisam ser
didática e cronologicamente distintas: ensina a ler e a compreender
simultaneamente, e com os mesmos materiais é ineficaz. É o que dizem as
melhores evidências disponíveis.
Ora, a ALFABETIZAÇÃO demanda, por um lado, e insistamos, esse ponto é
crucial, o desenvolvimento da linguagem oral. Por outro lado, ela demanda
o desenvolvimento de habilidades ligadas ao sistema de funções executivas
do cérebro: controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de
trabalho.
Nos dois casos o foco é a tomada de consciência das unidades fonológicas
mínimas das palavras faladas codificadas em palavras escritas com base nas
estruturas psicolinguísticas que envolvem tanto os aspectos fonéticos
(sílaba, ataque, rima e coda) quanto os aspectos fonológicos (fonema,
grafema) das mesmas. Isso se faz pelo treino do uso consciente de um
mecanismo cognitivo: a memória fonológica de trabalho. E exige
concentração consciente da atenção, além de flexibilidade cognitiva para
mudanças de foco na atenção.
Didaticamente falando: controle corporal, ritmo, desenvolvimento da
consciência fonológica, capacidade de manipulação de fonema (dividida em
substituição, adição, inversão e supressão de fonemas), treino oral com a
rememoração de listas de palavras. Poderíamos falar aqui em PRÉ-
ALFABETIZAÇÃO.
Desde que a criança fale, e desde que seu sistema executivo central esteja
em dia, ela pode ser ALFABETIZADA. Nada impede que seja aos quatro
anos. Ou aos cinco. Isso vai depender de outros fatores. Inclusive o nível de
transparência da relação grafema/fonema na escrita da língua nativa da
criança. E da complexidade silábica dessa língua. Além da motivação para
aprender a ler.
No que diz respeito ao nosso tema, a saber, a propriedade ou
impropriedade da ALFABETIZAÇÃO em tenra idade, esses esclarecimentos
sobre a centralidade do desenvolvimento da linguagem oral como pré-
requisito para a ALFABETIZAÇÃO, bem como os esclarecimentos sobre o
processo do desenvolvimento cerebral ganham significado especial quando
postos contra o pano de fundo pintado com auxílio de informações
empíricas, coletadas em pesquisa científica de alta qualidade, a respeito da
experiência linguística dos diversos grupos socioeconômicos de crianças
entre o nascimento e o quarto ano de vida.
Um experimento célebre deu base para uma estimação: no período que vai
do nascimento aos quatro anos de vida as crianças acumulam experiência
linguística com 45, 26 e 13 milhões de palavras, conforme vivam em famílias
da alta, média e baixa condição socioeconômica, respectivamente. O
grande problema? Como se vê, é alarmante o déficit de experiência
linguística e conhecimento de palavras entre crianças oriundas de famílias
cujo nível socioeconômico é baixo. O baixo nível de experiência linguística
tem implicações para o desenvolvimento das capacidades de prestar
atenção consciente aos aspectos fonológicos da fala. E vimos que isso é
central para aprender a ler. A consequência? O risco de fracasso na
ALFABETIZAÇÃO é alto nessa população.
Por isso as creches e pré-escolas das redes públicas de ensino, em sua
maioria frequentada por crianças desse tipo familiar, deveriam dar atenção
especial à experiência linguística. Tanto em quantidade quanto em
qualidade. E criar as condições para que elas passem pelo processo de
alfabetização sem ter que lutar tanto para quebrar o código alfabético.
Por fim, a ALFABETIZAÇÃO não pode se afastar de procedimentos de ensino
cuja efetividade e eficácia sejam suportadas pelas melhores evidências
científicas disponíveis. E os professores alfabetizadores precisam conhecer
não somente os fundamentos teórico-científicos do processo, mas,
também, os procedimentos didáticos e materiais realmente eficazes. E o
Brasil está inacreditavelmente atrasado nesses dois quesitos.
A Ciência tem mostrado que a antecipação exagerada da ALFABETIZAÇÃO
não rende muitos frutos. Mas conduzi-la equivocada e tardiamente
aumenta, e muito, o risco de tropeço na trajetória escolar, sobretudo dos
que vão iniciar a ALFABETIZAÇÃO com experiência linguística precária e
desfavorável. É preciso lembrar aqui que 90% dos maus leitores ao final do
primeiro ano serão maus leitores ao final do quinto. E que chegar ao quinto
ano com baixo desempenho em leitura caracteriza risco de evasão. Com
todas as más consequências a ela associadas.
Em horizonte que vai até 2024, conforme o Plano Nacional de Educação,
sabendo-se que mais de 80% das crianças brasileiras frequentam escolas
públicas nas quais a maior parte dos alunos é proveniente de famílias que
apresentam baixo nível socioeconômico, propor que elas entejam
ALFABETIZADAS até os oito anos de idade, quando também se sabe que
mais de 80% já frequenta escola desde os quatro, é contratar o aumento
futuro do mau desempenho e do fracasso escolar.
Algum pai de classe média ou alta aceita essa meta para seu filho?
Prof. Luiz Carlos Faria da Silva.
Universidade Estadual de Maringá.
Dr. Em Educação pela UNICAMP.
Membro ad hoc do Grupo de Estudos sobre Aprendizagem Infantil.
Academia Brasileira de Ciências.
Você também pode gostar
- Linguagem e Cognição: Enfoque psicolinguístico para compreender e superar as dificuldades em leitura e escritaNo EverandLinguagem e Cognição: Enfoque psicolinguístico para compreender e superar as dificuldades em leitura e escritaAinda não há avaliações
- Linguagem escrita e alfabetização na era digitalNo EverandLinguagem escrita e alfabetização na era digitalAinda não há avaliações
- Texto Aula Do Dia 28 de MarçoDocumento6 páginasTexto Aula Do Dia 28 de MarçoHenrique Eduardo Guarani-kaiowáAinda não há avaliações
- Linguagem e educação – Fios que se entrecruzam na escolaNo EverandLinguagem e educação – Fios que se entrecruzam na escolaNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Linguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasNo EverandLinguística de Nosso Tempo: Teorias e PráticasAinda não há avaliações
- As Contribuicoes Da Psicogenese Da Lingua Escrita e Algumas Reflexoes Sobre A Pratica Educativa de AlfabetizacaoDocumento8 páginasAs Contribuicoes Da Psicogenese Da Lingua Escrita e Algumas Reflexoes Sobre A Pratica Educativa de Alfabetizacaonaedleste100% (4)
- Desenvolvimento de Fala, Linguagem e AprendizagemDocumento19 páginasDesenvolvimento de Fala, Linguagem e Aprendizagemdeia.avsAinda não há avaliações
- Letramento e Capacidades de Leitura para A Cidadania - Roxane RojoDocumento8 páginasLetramento e Capacidades de Leitura para A Cidadania - Roxane Rojopsilve100% (2)
- Origem e campos da PsicolinguísticaDocumento3 páginasOrigem e campos da Psicolinguísticaversusinteresse100% (2)
- Dislexia MÉTODO-FONOMÍMICO-Paula-Teles®Documento18 páginasDislexia MÉTODO-FONOMÍMICO-Paula-Teles®deuseAinda não há avaliações
- Projeto de Intervenção Pedagógica Nos Anos IniciaisDocumento20 páginasProjeto de Intervenção Pedagógica Nos Anos Iniciaisrutharmaduras2619100% (5)
- Projeto de Intervenção Pedagógica Nos Anos IniciaisDocumento20 páginasProjeto de Intervenção Pedagógica Nos Anos Iniciaisrutharmaduras2619100% (2)
- Psicologia da linguagem: Da construção da fala às primeiras narrativasNo EverandPsicologia da linguagem: Da construção da fala às primeiras narrativasAinda não há avaliações
- Da Escuta de Textos A LeituraDocumento28 páginasDa Escuta de Textos A LeituraCarolVasconcelosAinda não há avaliações
- Consciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetizaçãoNo EverandConsciência fonológica na educação infantil e no ciclo de alfabetizaçãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Antigas Praticas de Leitura Presentes NaDocumento5 páginasAntigas Praticas de Leitura Presentes Naérika KohleAinda não há avaliações
- Psicolinguística - Escrita e LeituraDocumento8 páginasPsicolinguística - Escrita e LeituraZefaniasAinda não há avaliações
- Dislexia Paula TellesDocumento28 páginasDislexia Paula TellesPsicologia RodoviáriaAinda não há avaliações
- Ler antes de saber ler: Oito mitos escolares sobre a leitura literáriaNo EverandLer antes de saber ler: Oito mitos escolares sobre a leitura literáriaAinda não há avaliações
- Alfabetização de Jovens e Adultos: questões fundamentaisDocumento33 páginasAlfabetização de Jovens e Adultos: questões fundamentaisElisa Maria GomideAinda não há avaliações
- A psicogênese da linguagem oral e escritaDocumento11 páginasA psicogênese da linguagem oral e escritaJunior John Erich Da SilvaAinda não há avaliações
- Texto e gramática: Uma visão integrada e funcional para a leitura e a escritaNo EverandTexto e gramática: Uma visão integrada e funcional para a leitura e a escritaNota: 4.5 de 5 estrelas4.5/5 (2)
- Letras e educação: encontros e inovações: - Volume 4No EverandLetras e educação: encontros e inovações: - Volume 4Ainda não há avaliações
- Alfabetização e Letramento Sob A Perspectiva Da NeurociênciaDocumento13 páginasAlfabetização e Letramento Sob A Perspectiva Da NeurociênciaanatreinAinda não há avaliações
- As contribuições da psicogênese da língua escritaDocumento8 páginasAs contribuições da psicogênese da língua escritaluferraz13Ainda não há avaliações
- A Leitura e A Escrita No Processo de AlfabetizaçãoDocumento13 páginasA Leitura e A Escrita No Processo de AlfabetizaçãoluziaciaAinda não há avaliações
- Cursos de Alfabetizacao e Letramento para ProfessoresDocumento62 páginasCursos de Alfabetizacao e Letramento para ProfessoresCristianeAinda não há avaliações
- Língua: Modalidade Oral/escritaDocumento15 páginasLíngua: Modalidade Oral/escritarebeca_borges_1Ainda não há avaliações
- O Poder Simbólico Através Dos Desenhos AnimadosDocumento14 páginasO Poder Simbólico Através Dos Desenhos AnimadosMarcia MarafigoAinda não há avaliações
- Consciência fonológica e dislexiaDocumento7 páginasConsciência fonológica e dislexiaSilvane Waldow MedeirosAinda não há avaliações
- Aprendizagem da leitura e da escrita: Contribuições de pesquisasNo EverandAprendizagem da leitura e da escrita: Contribuições de pesquisasAinda não há avaliações
- Leitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensNo EverandLeitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensAinda não há avaliações
- Nas entrelinhas das tiras cômicas: uma abordagem de leitura de tiras cômicas por meio da identificação de pressupostos e implícitosNo EverandNas entrelinhas das tiras cômicas: uma abordagem de leitura de tiras cômicas por meio da identificação de pressupostos e implícitosAinda não há avaliações
- Ler e Escrver - Ensinar para Melhor AprenderDocumento19 páginasLer e Escrver - Ensinar para Melhor Aprenderraquel_krikaAinda não há avaliações
- Ensino de leitura por meio de gêneros textuaisDocumento19 páginasEnsino de leitura por meio de gêneros textuaisCla Pardim100% (1)
- Literacia EmergenteDocumento8 páginasLiteracia EmergenteLeandro RodriguesAinda não há avaliações
- Fundamentacao Teorica Abecedario e SilabarioDocumento9 páginasFundamentacao Teorica Abecedario e SilabarioSusana MartinsAinda não há avaliações
- Jornal Digital na Educação Básica: Um Exercício de AutoriaNo EverandJornal Digital na Educação Básica: Um Exercício de AutoriaAinda não há avaliações
- EBook MetodoFonico MarianeAssisDias CompressedDocumento28 páginasEBook MetodoFonico MarianeAssisDias CompressedvaniabastollopesAinda não há avaliações
- Aula 05Documento63 páginasAula 05Arethusa DantasAinda não há avaliações
- Texto Base - Concepções de Leitura e Implicações PedagógicasDocumento6 páginasTexto Base - Concepções de Leitura e Implicações PedagógicasSamuel CostaAinda não há avaliações
- As artes cênicas na formação educacional da criança surdaNo EverandAs artes cênicas na formação educacional da criança surdaAinda não há avaliações
- A alfabetização como processo discursivo: 30 anos de A criança na fase inicial da escritaNo EverandA alfabetização como processo discursivo: 30 anos de A criança na fase inicial da escritaAinda não há avaliações
- Alfabetização: processo de aprendizagem do sistema alfabéticoDocumento74 páginasAlfabetização: processo de aprendizagem do sistema alfabéticomigadivAinda não há avaliações
- Aprendizagem da leitura e da escritaNo EverandAprendizagem da leitura e da escritaAinda não há avaliações
- Alfabetização: A criança e a linguagem escritaNo EverandAlfabetização: A criança e a linguagem escritaAinda não há avaliações
- Artigo - 1Documento8 páginasArtigo - 1Claudia RegisAinda não há avaliações
- Aaaa Sinopse Da Obra Colomer e Teerosky para Imprimir para o FundamentalDocumento4 páginasAaaa Sinopse Da Obra Colomer e Teerosky para Imprimir para o FundamentalNéia MouraAinda não há avaliações
- Alfabetização: aprendizagem do sistema alfabéticoDocumento74 páginasAlfabetização: aprendizagem do sistema alfabéticoCleunice Almeida0% (1)
- Dislexia e DisortografiaDocumento15 páginasDislexia e DisortografiafabioatilaAinda não há avaliações
- Aprendendo a ler: mais do que decodificar palavrasDocumento26 páginasAprendendo a ler: mais do que decodificar palavrasGuilherme Bastos SantosAinda não há avaliações
- Educação Sem Distância Volume 3: as múltiplas linguagens na educaçãoNo EverandEducação Sem Distância Volume 3: as múltiplas linguagens na educaçãoAinda não há avaliações
- Emilia FerreiroDocumento7 páginasEmilia FerreiroCharles AlvesAinda não há avaliações
- Alfabetização Letramento e Consciencia FonológicaDocumento6 páginasAlfabetização Letramento e Consciencia FonológicaMaria Nancy Nunes de MatosAinda não há avaliações
- Josef Pieper - Virtudes Fundamentais PDFDocumento288 páginasJosef Pieper - Virtudes Fundamentais PDFVictor Barboza93% (14)
- Dr. Enéas em BrasíliaDocumento208 páginasDr. Enéas em Brasíliaarquivoprona100% (4)
- Preparo de Doces e SalgadosDocumento7 páginasPreparo de Doces e SalgadosalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Frege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciaDocumento26 páginasFrege (1892, 2011) - Sentido e ReferênciagustavobertolinoAinda não há avaliações
- SACHERI Carlos Alberto. A Ordem Natural PDFDocumento6 páginasSACHERI Carlos Alberto. A Ordem Natural PDFalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Filocalia - Tomo IDocumento137 páginasFilocalia - Tomo IMatheus de AndradeAinda não há avaliações
- Livro Guarda Roupa Livro PDFDocumento11 páginasLivro Guarda Roupa Livro PDFcinthia14% (7)
- TeologiaDocumento3 páginasTeologiaalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento16 páginasFilosofiaalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Ral - Carência.Vínculos Urbanos - Superior 120 DiasDocumento3 páginasRal - Carência.Vínculos Urbanos - Superior 120 DiasalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Suma TeológicaDocumento15 páginasSuma TeológicaalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Marco ZinganoDocumento23 páginasMarco ZinganoFabiano FidelisAinda não há avaliações
- FilocaliaDocumento26 páginasFilocaliaalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Dano Moral Decorrente Do Prejuízo FinanceiroDocumento1 páginaDano Moral Decorrente Do Prejuízo FinanceiroalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Definições de Termos Específicos em AristótelesDocumento15 páginasDefinições de Termos Específicos em AristótelesalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Aula 1, Doc. 1 - Javan e A Origem Do Povo JônioDocumento12 páginasAula 1, Doc. 1 - Javan e A Origem Do Povo JônioChristiano SantosAinda não há avaliações
- Comentários Ao Livro Temas Da Psicologia TomistaDocumento4 páginasComentários Ao Livro Temas Da Psicologia TomistaalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Origem do homem e conceitos filosóficos antigosDocumento3 páginasOrigem do homem e conceitos filosóficos antigosalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Penal 00Documento39 páginasPenal 00almeidaebezerraAinda não há avaliações
- Penal 03Documento41 páginasPenal 03almeidaebezerraAinda não há avaliações
- Penal 04Documento49 páginasPenal 04almeidaebezerraAinda não há avaliações
- Penal 05Documento129 páginasPenal 05almeidaebezerraAinda não há avaliações
- Processo Penal Aula 00Documento32 páginasProcesso Penal Aula 00Michell Lopes BarbosaAinda não há avaliações
- Penal 02Documento64 páginasPenal 02almeidaebezerraAinda não há avaliações
- MEB Veronica Marques TrabPraticosDocumento81 páginasMEB Veronica Marques TrabPraticosalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Proc. Penal 01Documento37 páginasProc. Penal 01almeidaebezerraAinda não há avaliações
- Resumo Medicina Legal - Larissa Oliveira PDFDocumento26 páginasResumo Medicina Legal - Larissa Oliveira PDFalmeidaebezerraAinda não há avaliações
- Reconhecimento de lesões elementares da peleDocumento68 páginasReconhecimento de lesões elementares da pelealmeidaebezerraAinda não há avaliações
- A construção da dignidade humana no personalismo de MounierDocumento806 páginasA construção da dignidade humana no personalismo de MounieralmeidaebezerraAinda não há avaliações
- O Núcleo Teórico do Novo InstitucionalismoDocumento3 páginasO Núcleo Teórico do Novo InstitucionalismomarcosmortoniAinda não há avaliações
- Livro de Massoterapia - Marilena Dreyfuss ArmandoDocumento116 páginasLivro de Massoterapia - Marilena Dreyfuss ArmandoCristianoAinda não há avaliações
- Sala de Aula Invertida Uma Metodologia ADocumento5 páginasSala de Aula Invertida Uma Metodologia AAlisson da silva rochaAinda não há avaliações
- Problemas de Aprendizagem: Diagnóstico e TratamentoDocumento5 páginasProblemas de Aprendizagem: Diagnóstico e TratamentorizzademoraisAinda não há avaliações
- Alfabetização SegmentaçãoDocumento3 páginasAlfabetização SegmentaçãoJuliana DiasAinda não há avaliações
- ANEXO 1 Lista Direito GeralDocumento12 páginasANEXO 1 Lista Direito GeralLuiz FilipeAinda não há avaliações
- Aula05 Leitura01 PuberdadeESuasMudancasCorporaisDocumento5 páginasAula05 Leitura01 PuberdadeESuasMudancasCorporaisIcoGamesAinda não há avaliações
- Farmácia de ManipulaçãoDocumento6 páginasFarmácia de ManipulaçãoLaura FerreiraAinda não há avaliações
- Admissão na Pediatria: Procedimento de AtendimentoDocumento2 páginasAdmissão na Pediatria: Procedimento de AtendimentoThaysa SouzaAinda não há avaliações
- Flexão Nórdica e Flexão Nórdica Reversa Efeitos Do TreinamentoDocumento13 páginasFlexão Nórdica e Flexão Nórdica Reversa Efeitos Do TreinamentoAnderson RodriguesAinda não há avaliações
- 2024-03-05-18-59-45-95206545-classificacao-dos-agentes-toxicos-e1709675985Documento61 páginas2024-03-05-18-59-45-95206545-classificacao-dos-agentes-toxicos-e1709675985Fefa GomesAinda não há avaliações
- História Da Educação 4Documento22 páginasHistória Da Educação 4Luana MarquesAinda não há avaliações
- Resenha Fupea Dezembro 2017Documento4 páginasResenha Fupea Dezembro 2017MárcioCReisAinda não há avaliações
- Psicopedagogo: Concurso Público EDITAL TA #001/2023Documento15 páginasPsicopedagogo: Concurso Público EDITAL TA #001/2023Junior Blumenau -SCAinda não há avaliações
- Reunião Geral TardeDocumento4 páginasReunião Geral Tardemarinescotrim05Ainda não há avaliações
- Declaração de SalamancaDocumento47 páginasDeclaração de Salamancaedgarcavaco100% (1)
- Ementa POEB USPDocumento6 páginasEmenta POEB USPPauloAinda não há avaliações
- O Canto Coral Como Prática Sócio Cultural e Educativo Musical - Rita Fucci AmatoDocumento22 páginasO Canto Coral Como Prática Sócio Cultural e Educativo Musical - Rita Fucci AmatoRomulo SilvaAinda não há avaliações
- Edital Instituto de Ciencias de Saude 2024 PDFDocumento9 páginasEdital Instituto de Ciencias de Saude 2024 PDFMicheque FelixAinda não há avaliações
- Matemática Enunciado PCT1 2019Documento2 páginasMatemática Enunciado PCT1 2019Joao RibeiroAinda não há avaliações
- A Gestalt e o Behaviorismo Surgem Praticamente Na Mesma ÉpocaDocumento6 páginasA Gestalt e o Behaviorismo Surgem Praticamente Na Mesma ÉpocaClayton BorgesAinda não há avaliações
- Edson Casagrande e Graziela Oliveira UPFDocumento21 páginasEdson Casagrande e Graziela Oliveira UPFapi-3720110Ainda não há avaliações
- AD1 - 2023.2 - Jean Jackson Oliveira Cabral - ÉticaDocumento2 páginasAD1 - 2023.2 - Jean Jackson Oliveira Cabral - ÉticaJean JacksonAinda não há avaliações
- Técnicas de Aprendizado e Habilidades MetacognitivasDocumento2 páginasTécnicas de Aprendizado e Habilidades MetacognitivasMirieli LídiaAinda não há avaliações
- AGON, ALEA, MIMICRY E ILINX - Artigo Prof. LeoDocumento12 páginasAGON, ALEA, MIMICRY E ILINX - Artigo Prof. LeoLeonardo AndradeAinda não há avaliações
- Técnica de cortes seriados de peças anatômicasDocumento1 páginaTécnica de cortes seriados de peças anatômicas16fernandoAinda não há avaliações
- Projeto EmpreendedorismoDocumento4 páginasProjeto EmpreendedorismolascarmoAinda não há avaliações
- Aula 01 - Saep Segurança Do PacienteDocumento8 páginasAula 01 - Saep Segurança Do PacienteefcuadrosAinda não há avaliações
- Escola Municipal “Dr. Jacinto Campos” Atividades Remotas de Matemática para 4o anoDocumento5 páginasEscola Municipal “Dr. Jacinto Campos” Atividades Remotas de Matemática para 4o anoLucilene RamosAinda não há avaliações
- A Construção Do Significado de Tekoha PDFDocumento264 páginasA Construção Do Significado de Tekoha PDFnairAinda não há avaliações