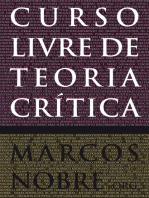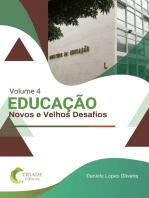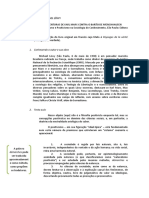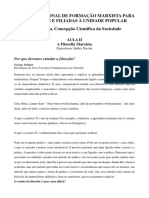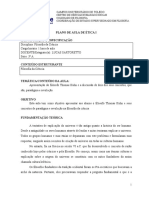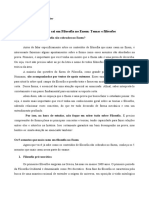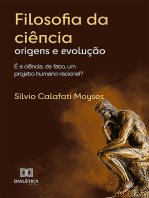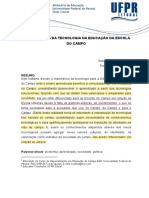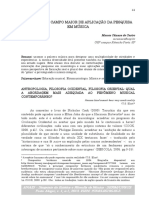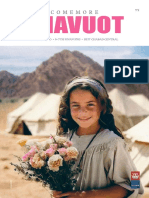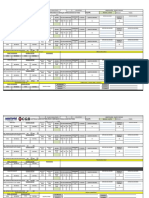Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Previsao Profecia Nas Ciencias Sociais
Enviado por
Bartolomeu Dos Santos Costa0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações11 páginasTítulo original
previsao profecia nas ciencias sociais
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações11 páginasPrevisao Profecia Nas Ciencias Sociais
Enviado por
Bartolomeu Dos Santos CostaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 11
Historicismo: Previsão e Profecia nas Ciências Sociais
KARL R. POPPER (1902-1969)
Fonte: Teorias da História, ed. Patrick Gardiner, Lisboa, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1994, pp. 334-346.
Karl R. Popper nasceu em 1902 em Viena, cuja universidade frequentou de 1919 a
1928. Tendo publicado vários artigos e um livro sobre o método científico, foi
conferencista em diversos congressos filosóficos e em algumas universidades
inglesas. Foi em 1937 para Canterbury College da Universidade da Nova Zelândia,
primeiro como Lecturer, mais tarde como Senior Lecturer de Filosofia. Em 1945,
quando se encontrava ainda na Nova Zelândia, Popper foi nomeado Reader de
Lógica e Método Científico na Universidade de Londres (London School of
Economics and Political Science). Recebeu, em 1948, o grau de Doutor em Letras
desta Universidade e, em 1949, foi elevado ao cargo de Professor de Lógica e
Método Científico. Foi ele quem fez, em 1950, as Conferências William James na
Universidade de Harvard, tendo sido igualmente conferencista em várias outras
universidades da América e da Europa. Popper foi membro do corpo diretivo do
British Journal for the Philosophy of Science e foi ele o presidente da Secção de
Filosofia da Ciência da Sociedade Britânica para a História da Ciência de 1951 a
1953. Foi desde 1948, membro da Academia internacional para a Filosofia da
Ciência e membro do Conselho da Associação de Lógica Simbólica desde 1951. As
conhecidas obras de Popper são Logik der Forschung (1935) e The Open Society
and its Enemies (1945). O artigo seguinte, que ainda não tinha sido publicado,
baseia-se num discurso feito na Sessão Plenária do Décimo Congresso Internacional
de Filosofia em Amsterdam, em 1948. No livro do Professor Popper The Poverty of
Historicism (1957), encontrar-se-á uma discussão mais pormenorizada do problema
de que aqui se ocupa, bem como de uma série de problemas com ele relacionados.
Deixou a carreira universitária em 1969, e faleceu em 17 de Setembro de 1994.
Previsão e profecia nas ciências sociais
O tema da minha palestra é «Previsão e Profecia nas Ciências Sociais». É minha
intenção criticar a doutrina segundo a qual faz parte das atribuições das ciências
sociais apresentar profecias históricas, e que as profecias históricas nos são
necessárias se é nosso desejo orientar a política de um modo racional. Darei a esta
doutrina o nome de «historicismo». Considero o historicismo a relíquia de uma velha
superstição, embora quem nela acredita esteja geralmente convencido de que ela é
uma teoria muito nova, progressista, revolucionária e científica.
Os princípios do historicismo — que faz parte da tarefa das ciências sociais
apresentar profecias históricas e que estas profecias históricas são indispensáveis a
qualquer teoria racional são hoje correntes porque constituem uma parte muito
importante da filosofia que gosta de se atribuir a si próprio o nome de «Socialismo
Científico» ou «Marxismo». Poder-se-ia, pois, definir a minha análise do papel da
previsão e da profecia como uma crítica do método histórico do Marxismo. Mas na
realidade, ela não se ocupa apenas dessa variante económica do historicismo que
caracteriza o Marxismo, pois visa criticar a doutrina historicista em geral. Decidi,
no entanto, falar como se o Marxismo fosse o objeto principal, ou o único, do meu
ataque, já que é meu desejo evitar a acusação de que estou a atacar sub-repticiamente
o Marxismo sob o nome de «historicismo». Gostaria, contudo, de que vos
lembrásseis que, sempre que menciono o Marxismo, tenho também em mente muitas
outras filosofias da história, pois vou tentar criticar um determinado método
histórico, considerado válido por muitos filósofos, antigos e modernos, de ideias
políticas muitíssimo diferentes das de Marx.
Como crítico do Marxismo, tentarei imprimir à minha tarefa um espírito liberal.
Tomarei a liberdade não só de criticar o Marxismo mas também de defender certos
dos seus argumentos; e permitir-me-ei também simplificar radicalmente as suas
doutrinas.
Um dos pontos em que me sinto de acordo com os marxistas é a sua insistência em
que são prementes os problemas sociais do nosso tempo e que o dever dos filósofos
é fazer face às questões em debate; que não nos devemos limitar a interpretar o
mundo, mas devemos ajudar a transformá-lo. Estou perfeitamente de acordo com tal
atitude, o tema escolhido pela presente assembleia, «O Homem e a Sociedade»,
mostra que é geralmente reconhecida a necessidade de discutir estes problemas. É
preciso que os filósofos não ignorem o perigo mortal em que a humanidade veio cair
-- sem dúvida o perigo mais grave da sua história.
Mas que espécie de contribuição podem os filósofos dar — não apenas como
homens, não apenas como cidadãos, mas como filósofos? Insistem alguns marxistas
em que os problemas são demasiado urgentes para que se continue a refletir e que é
nosso dever tomar imediatamente partido. Mas se -- como filósofos — nos é
realmente possível dar alguma contribuição, então devemos, decerto, recusar-nos a
aceitar precipitada e cegamente conclusões já feitas, por maior que seja a premência
da hora; como filósofos, melhor não podemos fazer senão submeter a uma crítica
racional os problemas que nos fazem frente e as soluções defendidas pelos vários
partidos. Eu creio para ser mais específico -- que o melhor que posso fazer, como
filósofo, é abeirar-me dos problemas munido das armas de uma crítica de métodos.
É isto o que me proponho fazer.
Direi talvez, à laia de introdução, por que escolhi exatamente este tema. Sou
racionalista, e com isto quero dizer que acredito no debate e na discussão. Do mesmo
modo acredito na possibilidade, tanto quanto na conveniência, de aplicar a ciência
aos problemas que se levantam no campo social. No entanto, acreditando, como
acredito, na ciência social, não posso deixar de encarar com apreensão a
pseudociência social.
A maior parte dos meus colegas racionalistas são marxistas; na Inglaterra, por
exemplo, um número considerável de excelentes físicos e biólogos insiste na sua
adesão à doutrina marxista. Atrai-os o Marxismo com as suas pretensões (a) de que
é uma ciência, (b) de que é progressiva, (c), de que adopta os métodos de previsão
praticados pelas ciências naturais. Tudo depende, evidentemente, desta terceira
pretensão. Procurarei, pois, provar que tal pretensão não se justifica e que a espécie
de profecias que o Marxismo tem para nos oferecer estão, no seu carácter lógico,
mais próximas das do Velho Testamento do que das da física moderna.
Começarei por uma breve exposição e uma crítica do método histórico da suposta
ciência do Marxismo. Terei de simplificar exageradamente as matérias, o que é
inevitável; mas as minhas exageradas simplificações poderão talvez servir o objetivo
de pôr em foco os pontos decisivos.
As ideias centrais do método historicista, e mais especificadamente do Marxismo,
parecem ser as seguintes:
a. É um facto que podemos profetizar eclipses solares com um elevado grau de
precisão e com longa antecedência. Porque não havemos de poder prever as
revoluções? Se, em 1780, um perito em ciências sociais tivesse sabido tanto sobre a
sociedade como os astrólogos da velha Babilónia sabiam de astronomia, ter-lhe-ia
sido possível prever a Revolução Francesa.
A ideia fundamental de que deve ser possível prever as revoluções exatamente como
é possível prever os eclipses solares dá origem à seguinte concepção do objetivo das
ciências sociais:
b. O objetivo das ciências sociais é fundamentalmente o mesmo das ciências naturais
-- fazer previsões e, mais especificamente, fazer previsões históricas, isto é,
previsões acerca da evolução social e política da humanidade.
c. Uma vez de posse destas previsões, facilmente se determina a tarefa da política.
Consiste ela em mitigar as «dores de parto» (como Marx lhes chama)
inevitavelmente relacionadas com as revoluções políticas cuja iminência se previu.
A estas ideias simples, especialmente àquele segundo a qual a tarefa das ciências
sociais consiste em fazer previsões históricas, tais como previsões de revoluções
sociais, chamarei eu a doutrina historicista das ciências sociais. À ideia que atribui
à política a tarefa de mitigar as dores do parto de revoluções políticas iminentes
chamarei a doutrina historicista da política. Ambas estas doutrinas se podem
considerar partes de um esquema filosófico mais amplo ao qual se pode dar o nome
de historicismo -- a tese de que a história da humanidade tem um enredo e de que,
se lograrmos desenreda-lo, teremos nas mãos a chave do futuro.
Esbocei sumariamente duas doutrinas historicistas relativas à tarefa das ciências
sociais e da política. Defini como marxistas tais doutrinas. Contudo, elas não são
peculiares do Marxismo. Estão, pelo contrário, entre as mais velhas doutrinas do
mundo. No tempo do próprio Marx, defendiam-nas, exatamente na forma descrita,
não só Marx que as recebera de Hegel, mas também John Stuart Mill que as recebeu
de Comte. E em tempos remotos, defendeu-as Platão, e antes dele Heráclito e
Hesíodo. Parecem ser de origem oriental; de facto, a ideia judaica do povo eleito é
uma ideia tipicamente historicista — a de que a história tem um enredo cujo autor é
Javé, e que esse enredo pode, em parte, ser deslindado pelos profetas. Estas ideias
exprimem um dos mais velhos sonhos da humanidade — o sonho da profecia, a ideia
de que nos é possível conhecer o que o futuro nos reserva, e de que nos é possível
tirar proveito desse conhecimento, orientando por ele a nossa atuação política.
Apoiou esta velhíssima ideia o facto de serem bem-sucedidas as profecias dos
eclipses e dos movimentos dos planetas. A íntima relação entre a doutrina
historicista e o conhecimento astronómico claramente se manifesta na concepção de
astrologia.
Estes pormenores históricos não têm, evidentemente, qualquer papel decisivo
quanto à questão sobre se é ou não defensável a doutrina historicista relativa ao
objetivo das ciências sociais. A questão pertence à metodologia das ciências sociais.
A doutrina historicista que nos ensina que a tarefa das ciências sociais é prever
revoluções históricas é, segundo creio, insustentável.
Admite-se que todas as ciências teoréticas são capazes de prever. Admite-se que
existem certas ciências sociais que são teoréticas. Mas implicarão estas admissões
como é crença dos historicistas — que a função das ciências sociais é a profecia
histórica? Assim parece: mas tal impressão desaparece logo que se estabeleça uma
distinção nítida entre aquilo a que chamaremos, por um lado, «previsão científica»
e, por outro, «profecias históricas incondicionais». O historicismo não faz esta
importante distinção.
Em ciência, as previsões vulgares são condicionais. Afirmam elas que certas
transformações (digamos, da temperatura da água numa chaleira) serão
acompanhadas de outras transformações (digamos, do ferver de água). Ou, para
tirarmos um exemplo simples das ciências sociais: tal como, com um físico,
aprendemos que urna caldeira explode em certas circunstâncias, do mesmo modo
podemos aprender com o .economista que, em certas circunstâncias -- tais como
escassez de artigos, preços tabelados e, digamos, a ausência de um sistema punitivo
eficiente -- se originará um mercado negro.
As previsões científicas incondicionais podem por vezes derivar destas previsões
científicas condicionais, acrescidas de afirmações históricas que asseveram a
realização de tais condições. Destas premissas podemos nós obter a previsão
condicional pelo modus ponens). Se um médico diagnosticou a escarlatina, poderá
então, com o auxílio das previsões condicionais da sua ciência, fazer a previsão
incondicional de que o seu doente contrairá uma erupção de certo tipo. Mas é,
evidentemente, possível fazer tais profecias incondicionais sem qualquer
justificação desta natureza numa ciência teorética, ou -- por outras palavras -- em
previsões condicionais científicas. Podem, por exemplo, basear-se num sonho e, por
um acaso qualquer, podem até vir a confirmar-se.
São duas as minhas objecções.
A primeira é que o historicista não faz, realmente, derivar as suas profecias históricas
de previsões científicas condicionais. A segunda (de que deriva a primeira) é que ele
não pode de modo algum fazê-lo, porque as profecias a longo prazo só podem
derivar de previsões condicionais científicas se se referirem a sistemas que possam
ser definidos como bem isolados, estacionários e periódicos. Tais sistemas são
raríssimos na natureza, e a sociedade moderna não é com certeza um deles.
Permitas-me desenvolver um pouco mais este ponto. As profecias relativas aos
eclipses, e mesmo as profecias baseadas na regularidade elas estações (talvez as mais
velhas das leis naturais conscientemente compreendidas pelo homem), só são
possíveis porque o nosso sistema solar é um sistema estacionário, de repetição; o
que acontece devido ao acaso que o mantém isolado da influência de outros sistemas
mecânicos por meio de regiões imensas de espaço vazio e assim o conserva
relativamente livre de influências do exterior. Contrariamente ao que vulgarmente
se pensa, a análise de tais sistemas de repetição não é típica das ciências naturais.
Estes sistemas de repetição são casos especiais em que a previsão científica se torna
particularmente impressionante, mas isso é tudo. Fora deste caso excepcionalíssimo
— o sistema solar — todos os sistemas periódicos ou cíclicos se encontram
especialmente no campo da biologia. Os ciclos vitais de organismos fazem parte de
uma cadeia biológica de fenómenos, semiestacionária ou de muito lentas
transformações. Só é possível fazerem-se previsões científicas acerca de ciclos vitais
de organismos na medida em que abstrairmos dessas lentas transformações
evolucionárias, isto é, na medida em que considerarmos estacionários os sistemas
biológicos em causa.
Não pode, pois, encontrar-se, em exemplos desta natureza, qualquer base para a
afirmação de que nos é permitido aplicar à história humana método da profecia
incondicional a longo prazo. A sociedade está em evolução. A sua evolução não é,
de um modo geral, de repetição. Em boa verdade, na medida em que ela é repetitiva,
podemos talvez fazer certas profecias. Há, por exemplo, indubitavelmente, certa
repetição no modo como surgem novas religiões, ou novas tiranias; e quem se dedica
à história verificará talvez que lhe é possível prever, até certo ponto, tais evoluções,
comparando-as com exemplos anteriores, i. e. estudando as condições em que elas
surgem. Mas não nos leva muito longe esta aplicação do método da previsão
condicional. É que não são de repetição os aspectos mais flagrantes da evolução
histórica. As condições vão-se alterando, e (em consequência, por exemplo, de
novas descobertas científicas) vão surgindo situações que são muito diferentes de
tudo quanto até agora aconteceu. O facto de podermos profetizar eclipses não nos
fornece, portanto, uma razão válida para esperarmos poder prever revoluções.
Estas considerações valem, não só para a evolução do homem, mas também para a
evolução da vida em geral. Não existe qualquer lei da evolução; existe apenas o facto
histórico de que as plantas e os animais se transformam ou, mais exatamente, que se
têm transformado. A concepção de uma lei que determine a direção e o carácter da
evolução é um erro característico do século XIX, oriundo da tendência para atribuir
à «Lei Natural» as funções tradicionalmente atribuídas a Deus.
A compreensão do facto de que as ciências sociais não podem profetizar evoluções
históricas futuras levou alguns autores modernos a desesperarem da razão e a
advogarem o irracionalismo político.
Ao identificarem a faculdade de previsão com a utilidade prática, denunciam eles a
inutilidade das ciências sociais. Numa tentativa para analisar a possibilidade de
prever evoluções históricas, escreve um dos irracionalistas modernos (H.
Morgenthau, Scientific Man and Power Politics, Londres, 1947, p. 122): «O mesmo
elemento de incerteza de que sofrem as ciências naturais afeta as ciências sociais,
apenas ainda em maior grau. Devido à sua extensão quantitativa, afeta ele aqui não
só a estrutura teorética, mas também a utilidade prática».
Não é, contudo, ainda, de modo algum, necessário desesperar da razão. Somente
aqueles que não distinguem entre previsão vulgar e profecia histórica, por outras
palavras, somente os historicistas (historicistas desiludidos) podem vir a tirar
conclusões tão desesperadas. A utilidade principal das ciências físicas não consiste
na previsão dos eclipses; do mesmo modo, não depende a utilidade prática das
ciências sociais do seu poder de profetizar evoluções históricas ou políticas. Só um
historicista desiludido, quer dizer, aquele que acredita na doutrina historicista do
objetivo das ciências sociais como dado imediato, será realmente levado a
desesperar da razão ao dar-se conta de que as ciências sociais não podem de facto
profetizar; e poderá até ser levado a odiar a razão.
Qual é então a tarefa das ciências sociais, e qual a utilidade delas? Para responder a
esta pergunta, mencionarei brevemente duas ingénuas teorias da sociedade de que é
preciso libertarmo-nos antes de podermos compreender a função das ciências
sociais.
A primeira é a teoria de que as ciências sociais estudam o comportamento de
conjuntos sociais, tais como grupos, nações, classes, sociedades, civilizações, etc.
Estes conjuntos sociais são concebidos como sendo objetos empíricos que as
ciências sociais estudam do mesmo modo que a biologia estuda os animais e as
plantas.
Tal opinião deve rejeitar-se por ingénua. Negligencia por completo o facto de que
os chamados conjuntos sociais são antes, em grande parte, postulados de teorias
sociais populares do que objetos empíricos; e se é de admitir que existem objetos
empíricos tais como a multidão de gente aqui reunida, é completamente falso que
nomes como «classe média» designem tais grupos empíricos. O que eles designam
é urna espécie de objeto ideal cuja existência depende de hipóteses teóricas.
Consequentemente, a crença na existência empírica de conjuntos ou eletivos sociais,
que pode definir-se como coletivismo ingénuo, tem de ser substituída pela exigência
de que os fenómenos sociais, incluindo os coletivos, sejam analisados em termos de
indivíduos e suas ações e relações.
Mas esta exigência facilmente poderá dar origem a outra opinião errada, a segunda
e a mais importante das duas opiniões a pôr de parte. Pode esta definir-se como a
teoria da conspiração da sociedade. É o ponto de vista segundo o qual tudo quanto
acontece na sociedade -- incluindo aquilo que, em regra, desagrada às pessoas, como
a guerra, o desemprego, a pobreza, a escassez de géneros — é o resultado direto dos
desígnios de poderosos indivíduos ou grupos de indivíduos. Está largamente
divulgada esta opinião, embora em meu entender, ela não passe de urna espécie de
superstição um tanto ou quanto primitiva. É mais velha do que o historicismo que
pode mesmo considerar-se um derivado da teoria da conspiração — e, na sua forma
moderna, é o resultado típico da secularização das superstições religiosas.
Desapareceu já a crença nos deuses homéricos cujas conspirações foram
responsáveis pelas vicissitudes da Guerra de Tróia. Mas o lugar dos deuses do
Olimpo de Homero é hoje ocupado pelos Velhos Sábios de Zião, ou pelos
monopolistas, ou pelos capitalistas, ou pelos imperialistas.
Contra a teoria da Conspiração da Sociedade, não vou, evidentemente, alegar que as
conspirações nunca acontecem. Afirmo, no entanto, duas coisas. Em primeiro lugar,
que elas não são muito frequentes nem alteram o carácter da vida social. Partindo do
princípio de que as conspirações iam deixar de existir, opor-se-nos-iam ainda,
fundamentalmente, os mesmos problemas que sempre se nos opuseram. Em segundo
lugar, afirmo que muito raramente as conspirações alcançam êxito. Regra geral, os
resultados obtidos diferem largamente dos resultados que se pretendia alcançar.
Considere-se a conspiração nazi.
Porque é que, em geral, os resultados alcançados por uma conspiração diferem tanto
daqueles que se pretendia alcançar? Porque é isso o que normalmente acontece na
vida social, haja ou não conspiração. E esta observação permite-nos enunciar a
função principal das ciências sociais teóricas. Consiste ela em definir as
involuntárias repercussões sociais das ações humanas intencionais. Vou dar um
exemplo fácil. Se um homem deseja urgentemente comprar uma casa em
determinado bairro, nós podemos, com absoluta segurança, partir do princípio de
que ele não deseja elevar os preços de mercado das casas nesse bairro. Contudo, o
simples facto de ele se apresentar no mercado como comprador contribuirá para
elevar esses preços. Para o vendedor são válidas afirmações análogas. Ou, para
tomar um exemplo dum campo muito diferente, se um homem decide fazer um
seguro de vida, não é provavelmente porque tenha a intenção de encorajar outras
pessoas a aplicarem o seu dinheiro em apólices de seguro. E, apesar disso, ele fá-lo-
á.
Verificamos aqui claramente que nem todas as consequências das nossas ações
estavam cm nossas intenções; e que, consequentemente, a teoria da conspiração da
sociedade não pode ser verdadeira, visto que acarreta a afirmação de que todos os
acontecimentos, mesmo aqueles que á primeira vista não parecem resultar das
intenções de ninguém, são realmente os resultados de ações de pessoas que têm
interesse nesses resultados.
Neste contexto, dever-se-á mencionar que o próprio Karl Marx foi um dos primeiros
a salientar a importância, para as ciências sociais, destas consequências que não
dependem de intenções. Nas suas mais amadurecidas afirmações, Marx diz que
todos nós estamos presos na rede do sistema social. O capitalista não é um
conspirador demoníaco, mas um homem que é forçado pelas circunstâncias a agir
como age; não é mais responsável pelo estado de coisas do que o proletário.
Abandonou-se esta opinião de Karl Marx — talvez por razões de propaganda, talvez
porque os homens a não compreenderam — e foi em grande parte substituída por
uma teoria da Conspiração Marxista Vulgar. É uma queda — a queda de Marx para
Goebbels. Mas é evidente que dificilmente poderão evitar a adopção da teoria da
conspiração aqueles que acreditam saber como construir o céu na terra. A única
explicação para o seu fracasso são as malignas intenções do diabo que tem interesses
criados no inferno.
A opinião de que é função das ciências teóricas descobrir as consequências
involuntárias das nossas ações muito aproxima estas ciências das ciências naturais
experimentais. A analogia não pode aqui desenvolver-se em pormenor, mas é de
observar que ambas nos conduzem à enunciação de regras tecnológicas práticas que
afirmam aquilo que não podemos fazer.
A segunda lei da termodinâmica pode exprimir-se sob a forma da seguinte
admoestação tecnológica: «Não se pode construir uma máquina 100 % eficiente».
Uma regra semelhante para as ciências sociais seria: «Não se podem elevar os lucros
reais da população operária sem se aumentar a produção». Exemplo de uma hipótese
prometedora neste campo que de modo algum é universalmente aceite -- ou, por
outras palavras, problema ainda em aberto -- é o seguinte: «Não é possível uma
política de pleno emprego sem inflação». Estes exemplos podem mostrar-nos como
são importantes sob o ponto de vista prático as ciências sociais. Não nos autorizam
a fazer profecias históricas, mas podem dar-nos uma ideia acerca daquilo que, em
política, é ou não possível fazer-se.
Verificámos que a doutrina historicista é insustentável, mas este facto não nos leva
a perder a fé na ciência ou na razão. Pelo contrário, vemos agora que ele dá origem
a uma perspectiva mais nítida quanto ao papel da ciência na vida social. Sob o
aspecto prático, ela tem o modesto papel de nos ajudar a compreender até as
consequências mais remotas ele possíveis ações; ajudar-nos, por outras palavras, a
escolher com mais prudência as no nossas ações.
A eliminação da doutrina historicista destrói por completo o Marxismo no que
respeita às suas pretensões científicas. Não destrói, contudo, ainda as pretensões
marxistas de ordem mais técnica ou política: que só uma revolução social - uma
remodelação total do nosso sistema social--- é capaz de produzir condições sociais
adequadas à vida humana.
Não vou discutir aqui o problema das intenções humanitárias do Marxismo. Verifico
que há nestas intenções muita coisa que me é possível aceitar. Inspirou Marx e
muitos dos seus continuadores, creio eu, a esperança de reduzir a miséria e a
violência, e de aumentar a liberdade; é uma esperança que inspira a maior parte de
nós.
Estou, porém, convencido de que é impossível realizar estas intenções por métodos
revolucionários. Pelo contrário, estou convencido de que os métodos
revolucionários só podem tornar pior o estado de coisas — estou convencido de que
eles aumentarão sofrimentos desnecessários, conduzirão a uma violência cada vez
maior, e destruirão sem dúvida a liberdade.
O facto torna-se evidente se virmos que uma revolução destrói sempre a estrutura
tradicional e institucional da sociedade. Ao destrui-la, faz necessariamente perigar
o próprio conjunto de valores para cuja realização tinha sido empreendida. Com
efeito, um conjunto de valores só pode ter significado social na medida em que exista
uma tradição social que os sustenha. Isto é tão verdade para os objetivos de uma
revolução como para quaisquer outros valores.
Mas, uma vez que se começa a revolucionar a sociedade e a extirpar as suas
tradições, já não é possível deter esse processo, se se quiser e quando se quiser.
Numa revolução, tudo é posto em dúvida, incluindo as intenções dos revolucionários
bem intencionados; intenções essas que se desenvolvem a partir da sociedade que a
revolução destrói e da qual faziam necessariamente parte.
Algumas pessoas dizem que não se importam; que o seu maior desejo é limpar a tela
bem limpa criar uma tabula rasa social, e começar a pintar de fresco um sistema
social novinho em folha. Não se admirem eles, no entanto, se vierem a verificar que,
destruída a tradição, a civilização desaparece com ela. Hão-se ver que a humanidade
retrocedeu então até ao ponto em que Adão e Eva começaram — ou, para usar uma
linguagem menos bíblica, que os seres humanos regressaram à condição de animais.
Tudo quanto estes progressistas revolucionários poderão então fazer será recomeçar
o lento processo da evolução humana (e assim alcançar talvez cm alguns milhares
de anos um outro período capitalista, que os conduzirá a outra revolução
devastadora, seguida de o outro retorno à animalidade, e por aí fora, para todo o
sempre). Por outras palavras, não há qualquer razão terrena para que, por iniciativa
própria, se venha a tornar melhor uma sociedade cujos valores tradicionais tenham
sido destruídos — a não ser que se acredite em milagres políticos ou se confie em
que, uma vez desmantelada a conspiração dos malditos capitalistas, a sociedade
passará naturalmente a ser bela e boa.
É claro que os marxistas não querem admitir isto. Contudo, a teoria marxista, isto é,
a teoria de que a revolução social conduzirá a um mundo melhor, só se entende à luz
das hipóteses historicistas do Marxismo. Se, com base na profecia histórica,
soubermos qual o resultado que a revolução social irá ter, e se soubermos que esse
resultado é tudo aquilo por que ansiamos, podemos nesse caso, mas só nesse caso,
considerar a revolução social, com todos os seus indizíveis sofrimentos, um meio
para alcançar o fim da felicidade indizível. Mas uma vez eliminada a doutrina
historicista, a teoria da revolução passa a ser completamente insustentável.
A teoria de que a função da revolução é libertar-nos da conspiração capitalista — e,
por conseguinte, da oposição à reforma social --, embora largamente divulgada, é
insustentável, mesmo que por momentos admitamos que existe tal conspiração. É
que qualquer revolução se arrisca a substituir velhos por novos senhores, e quem
nos garante que os novos serão melhores? A teoria da revolução passa em claro o
aspecto mais importante da vida social — que aquilo de que temos mais precisão é,
não tanto de homens bons, como de boas instituições. O poder é capaz de corromper
até o melhor dos homens; mas as instituições que permitam aos governados
exercerem uma vigilância eficiente sobre os governantes obrigarão até os maus
governantes a fazerem aquilo que os governados considerem do seu interesse. Ou
noutros termos: nós bem gostaríamos de ter bons governantes, mas a experiência
histórica mostra-nos que não é fácil obtê-los. Eis porque é tão importante conceber
instituições que impeçam mesmo os maus governantes de causarem demasiados
prejuízos.
Existem somente duas espécies de instituições governamentais: aquelas em que é
possível mudança de governo sem derramamento de sangue e aquelas em que isso
não é possível. Mas se o governo não pode ser mudado sem derramamento de
sangue, nada então o afastará, na maior parte dos casos. Não é preciso discutirmos
por causa de palavras, ou por causa ele pseudoproblemas acerca do significado
verdadeiro ou essencial da palavra «democracia». Podeis escolher o nome que vos
aprouver para os dois tipos de governo. Pessoalmente, prefiro dar ao tipo de governo
que pode ser retirado sem violência o nome de «democracia», ao outro, o de
«tirania». Porém, como já disse, não se trata aqui de uma questão de palavras, mas
de uma importante instituição entre dois tipos de instituições.
Os marxistas ensinaram-nos a pensar não em termos de instituições, mas em termos
de classes. As classes, contudo, nunca governam, tal como as nações. Os
governantes são sempre pessoas determinadas. E, seja qual for a classe a que tenham
outrora pertencido, uma vez que sejam governantes, pertencerão à classe
governante.
Hoje em dia os marxistas não pensam em termos de instituições; depositam as suas
esperanças em determinadas personalidades, ou talvez no facto de certas pessoas
terem sido outrora proletários -- consequência da sua crença na exagerada
importância das classes e da lealdade de classes. Os racionalistas, pelo contrário,
inclinam-se mais a fiar em instituições para orientar os homens. Esta é a diferença
capital.
Mas o que devem os governantes fazer? Em oposição à maior parte dos historicistas,
eu creio que esta pergunta está longe de ser vã; é uma pergunta que devemos discutir.
É que, numa democracia, o perigo de uma demissão compele os governantes a
fazerem aquilo que a opinião pública quer que eles façam. E a opinião pública é uma
coisa que pode ser influenciada por toda a gente, especialmente por filósofos. Em
democracias, muitas vezes as ideias dos filósofos influenciaram evoluções futuras
— a longuíssimo prazo, evidentemente. A política social britânica é atualmente a de
Bentham, e a de John Stuart Mill, que resumiu do seguinte modo os fins que ela
visava: «assegurar a toda a população operária pleno emprego e salários elevados».
Creio que os filósofos devem continuar a discutir os verdadeiros objetivos da política
social á luz da experiência dos últimos cinquenta anos. Em vez de se limitarem a
discutir a «natureza» da ética, ou o sumo bem, etc., devem refletir sobre questões
éticas e políticas tão fundamentais e tão complexas como as suscitadas pelo facto de
que a liberdade política é impossível sem um princípio de igualdade perante a lei;
de que, visto que é impossível a liberdade absoluta, é nosso dever exigir, com Kant,
em seu lugar, uma igualdade conforme ás limitações de liberdade, que são as
inevitáveis consequências da vida em sociedade; e de que, por outro lado, a busca
de igualdade, particularmente no sentido económico, por mais desejável que seja,
pode vir a constituir ameaça para a própria liberdade.
E do mesmo modo devem eles discutir o facto de que o princípio da máxima
felicidade dos Utilitaristas pode facilmente servir de pretexto a uma ditadura
benévola, e ainda encarar a proposta de o substituirmos por um princípio mais
modesto e mais realista — o princípio de que a luta contra a miséria evitável deve
ser um objetivo reconhecido da política do Estado, enquanto o aumento de felicidade
se deve deixar, de uma maneira geral, à iniciativa particular.
Você também pode gostar
- Introdução À Ciência PolíticaDocumento282 páginasIntrodução À Ciência PolíticaJean Jorge Ferreira Silva100% (2)
- A Fé Que Vence o MundoDocumento5 páginasA Fé Que Vence o MundoEduardo Toledo100% (1)
- O conservadorismo clássico: Elementos de caracterização e críticaNo EverandO conservadorismo clássico: Elementos de caracterização e críticaAinda não há avaliações
- Como Fazer Revisao SistematicaDocumento7 páginasComo Fazer Revisao SistematicaCarlos FerreiraAinda não há avaliações
- Estrelas Que Vigiam Fabio Del SantoroDocumento42 páginasEstrelas Que Vigiam Fabio Del Santoroc_chuva100% (6)
- As ideias de Popper sobre o método científico e a sociedade abertaDocumento58 páginasAs ideias de Popper sobre o método científico e a sociedade abertaLennow100% (5)
- Pensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalNo EverandPensamento científico: A natureza da ciência no ensino fundamentalAinda não há avaliações
- O Círculo de Viena e o Empirismo LógicoDocumento12 páginasO Círculo de Viena e o Empirismo LógicoAhmad Moore100% (1)
- Didática e Prática de Ensino na construção dos saberes docentesDocumento13 páginasDidática e Prática de Ensino na construção dos saberes docentesMaciel VieiraAinda não há avaliações
- A análise da obra de Marx e as múltiplas interpretações do marxismoDocumento334 páginasA análise da obra de Marx e as múltiplas interpretações do marxismoandrade_alencar7562100% (1)
- HONNETH, Axel. Luta Por ReconhecimentoDocumento147 páginasHONNETH, Axel. Luta Por Reconhecimentocalendargirl86% (7)
- A Filosofia Como Arma Revolucionaria Louis AlthusserDocumento20 páginasA Filosofia Como Arma Revolucionaria Louis AlthusserVinicius SiqueiraAinda não há avaliações
- A COLEÇÃO RECL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIADocumento111 páginasA COLEÇÃO RECL DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIAAlessandro Valério DiasAinda não há avaliações
- Pierre Bourdieu e A Educação - PublicadoDocumento8 páginasPierre Bourdieu e A Educação - PublicadoBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- O Materialismo Dialético e suas OrigensDocumento77 páginasO Materialismo Dialético e suas OrigensperyfalconAinda não há avaliações
- Koselleck Ums História Dos Conceitos Problemas Teóricos e PráticosDocumento13 páginasKoselleck Ums História Dos Conceitos Problemas Teóricos e PráticosPaulo SoaresAinda não há avaliações
- Declaração Universal dos Direitos HumanosDocumento5 páginasDeclaração Universal dos Direitos HumanosRodrigo SudarioAinda não há avaliações
- Língua Portuguesa Anos FinaisDocumento88 páginasLíngua Portuguesa Anos FinaisDiego Jose Solis Pacheco100% (1)
- Previsão e Profecia nas Ciências SociaisDocumento18 páginasPrevisão e Profecia nas Ciências SociaisAnthony Christino Dutra RodriguesAinda não há avaliações
- A Viragem Da Filosofia Moritz Schlick PDFDocumento14 páginasA Viragem Da Filosofia Moritz Schlick PDFrenanmaiaAinda não há avaliações
- A Tese Central Do Livro A Miséria Do HistoricismoDocumento10 páginasA Tese Central Do Livro A Miséria Do HistoricismoJennifer JonesAinda não há avaliações
- Tradução Marxist Sociology - Tom BottomoreDocumento25 páginasTradução Marxist Sociology - Tom BottomoreJP HaddadAinda não há avaliações
- TRIVINOS - FenomenologiaDocumento5 páginasTRIVINOS - FenomenologiaMarcel PesseyAinda não há avaliações
- A Favor Da Educação, Contra A Positivação Da Filosofia - M. WardeDocumento7 páginasA Favor Da Educação, Contra A Positivação Da Filosofia - M. WardeSandra La Cava AmadoAinda não há avaliações
- Teoria Social, Sociologia e MetateoriaDocumento25 páginasTeoria Social, Sociologia e MetateoriaLina LinouAinda não há avaliações
- Unidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisDocumento28 páginasUnidade VI - O Marxismo e A Política Como PráxisBraspav UsinaAinda não há avaliações
- A influência do positivismo na sociologia e nas ciências sociaisDocumento3 páginasA influência do positivismo na sociologia e nas ciências sociaismarcus souzaAinda não há avaliações
- Portfólio - Atividade Ciclo 2 - Intro Fil.Documento6 páginasPortfólio - Atividade Ciclo 2 - Intro Fil.Carlos ZimbherAinda não há avaliações
- Razão enquanto dialética: Marxismo como socialismo científicoDocumento15 páginasRazão enquanto dialética: Marxismo como socialismo científicoJogador NbaAinda não há avaliações
- Karl Popper, o filósofo da ciênciaDocumento5 páginasKarl Popper, o filósofo da ciêncialex-fsAinda não há avaliações
- A sociologia do positivismo e do historicismoDocumento7 páginasA sociologia do positivismo e do historicismoJulia PupinAinda não há avaliações
- Horkheimer - A Função Social Da FilosofiaDocumento12 páginasHorkheimer - A Função Social Da FilosofiaBrenda VilelaAinda não há avaliações
- O FALIBILISMO E A CONTINGÊNCIA NA OBRA DE KARL POPPERDocumento4 páginasO FALIBILISMO E A CONTINGÊNCIA NA OBRA DE KARL POPPERJeronimo FatimaAinda não há avaliações
- 5-O Historicismo e o PositivismoDocumento7 páginas5-O Historicismo e o Positivismoleandro.squallAinda não há avaliações
- Zhdanov_ O Marxismo é a Revolução Na FilosofiaDocumento25 páginasZhdanov_ O Marxismo é a Revolução Na FilosofialuizfpdeoAinda não há avaliações
- Introdução à SociologiaDocumento65 páginasIntrodução à SociologiaAline MonteiroAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre Neutralidade Axiologica de Max WeberDocumento2 páginasEnsaio Sobre Neutralidade Axiologica de Max Webersebastianvalmontx3928100% (2)
- Teoria da História: PositivismoDocumento22 páginasTeoria da História: PositivismoVera H. ParksAinda não há avaliações
- MICHAEL LÖWY Paisagens Da Verdade PEMM PDFDocumento8 páginasMICHAEL LÖWY Paisagens Da Verdade PEMM PDFAntonio Marcelo CamposAinda não há avaliações
- M. de Luz. O Convencionalismo de PoincaréDocumento16 páginasM. de Luz. O Convencionalismo de PoincaréHelioAinda não há avaliações
- Revisão Sociologia UELDocumento8 páginasRevisão Sociologia UELLuiz Octavio Da CunhaAinda não há avaliações
- 105_NEOPOSITIVISMO_095804Documento3 páginas105_NEOPOSITIVISMO_095804Joana uetelaAinda não há avaliações
- Thomas Kuhn e a Revolução CientíficaDocumento6 páginasThomas Kuhn e a Revolução CientíficaNayara FrabioAinda não há avaliações
- 1 - Introdu oDocumento282 páginas1 - Introdu oSasaki KyoukaAinda não há avaliações
- Os 5 assuntos e filósofos mais cobrados em Filosofia no EnemDocumento5 páginasOs 5 assuntos e filósofos mais cobrados em Filosofia no Enemedsonjunior1806Ainda não há avaliações
- Resenha - Teoria Da História - II - Os Primeiros Paradigmas-Positivismo e HistoricismoDocumento8 páginasResenha - Teoria Da História - II - Os Primeiros Paradigmas-Positivismo e HistoricismoHarrison Miranda100% (1)
- Características Do PositivismoDocumento4 páginasCaracterísticas Do PositivismoJessé Alves de AraujoAinda não há avaliações
- Filosofia Contemporânea: As Principais Correntes Analítica e ContinentalDocumento17 páginasFilosofia Contemporânea: As Principais Correntes Analítica e ContinentalLudmilla Elyseu RochaAinda não há avaliações
- Positivismo e Marxismo: análise comparativaDocumento11 páginasPositivismo e Marxismo: análise comparativaJorgeLuisAinda não há avaliações
- O Materialismo como Base do MarxismoDocumento6 páginasO Materialismo como Base do MarxismoNatalia DinizAinda não há avaliações
- Cap 21 Positivismo - Auguste Comte (Para Compreender A Ciência)Documento20 páginasCap 21 Positivismo - Auguste Comte (Para Compreender A Ciência)Kamile RabeloAinda não há avaliações
- Plano de Aula Filosofia Da Ciencia IntervencaoDocumento7 páginasPlano de Aula Filosofia Da Ciencia IntervencaoSartoretto LucasAinda não há avaliações
- Filosofia Enem - Temas e FilósofosDocumento6 páginasFilosofia Enem - Temas e Filósofosedsonjunior1806Ainda não há avaliações
- O Positivismo, "Historiografia Positivista" e História Do DireitoDocumento24 páginasO Positivismo, "Historiografia Positivista" e História Do DireitoBruna PortellaAinda não há avaliações
- DAVIS, Ângela - Os legados de MarcuseDocumento6 páginasDAVIS, Ângela - Os legados de MarcusegouvedelAinda não há avaliações
- A Fabricação Da Ciência 01Documento6 páginasA Fabricação Da Ciência 01sandrosnogueiraAinda não há avaliações
- Resumo Crítico Da ObraDocumento4 páginasResumo Crítico Da ObraAdelino JairosseAinda não há avaliações
- O Neopositivismo e a LinguagemDocumento6 páginasO Neopositivismo e a LinguagemJesus NetoAinda não há avaliações
- A filosofia crítica de KantDocumento82 páginasA filosofia crítica de KantMario HenriqueAinda não há avaliações
- Filosofia da ciência: origens e evolução: é a ciência, de fato, um projeto humano racional?No EverandFilosofia da ciência: origens e evolução: é a ciência, de fato, um projeto humano racional?Ainda não há avaliações
- Filosofia Política, tolerância e outros escritosNo EverandFilosofia Política, tolerância e outros escritosAinda não há avaliações
- Uma Breve Análise Acerca Das Distinções Entre Teoria Tradicional e Teoria Crítica em Max HorkheimerDocumento6 páginasUma Breve Análise Acerca Das Distinções Entre Teoria Tradicional e Teoria Crítica em Max HorkheimerBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Resenha - Estado Democrático de Direito Estado Pósdemocrático e Sua Relação Com o NeoliberalismoDocumento5 páginasResenha - Estado Democrático de Direito Estado Pósdemocrático e Sua Relação Com o NeoliberalismoBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- 1 GALVÃO, Taís Galvão. PEREIRA, Maurício Gomes. Revisões Sistemáticas Da Literatura - Passos para Sua Elaboração - ARTIGO. 2014.Documento3 páginas1 GALVÃO, Taís Galvão. PEREIRA, Maurício Gomes. Revisões Sistemáticas Da Literatura - Passos para Sua Elaboração - ARTIGO. 2014.João EstudandoAinda não há avaliações
- Lei do Babaçu e Quebradeiras de CocoDocumento29 páginasLei do Babaçu e Quebradeiras de CocoLuziene SousaAinda não há avaliações
- A importância da tecnologia na educação do campoDocumento14 páginasA importância da tecnologia na educação do campoBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Conflitos Agrágrios e Memória de Mulheres CamponesasDocumento7 páginasConflitos Agrágrios e Memória de Mulheres CamponesasAfropretou Coletivo Afropretou AfropretouAinda não há avaliações
- A Filosofia Clássica Alemã e A Crítica Estética Da Modernidade de Schiller A HegelDocumento16 páginasA Filosofia Clássica Alemã e A Crítica Estética Da Modernidade de Schiller A HegelBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e TIC na Educação RuralDocumento138 páginasDireitos Humanos e TIC na Educação RuralBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Friedrich Schiller A Educacao Estetica D PDFDocumento80 páginasFriedrich Schiller A Educacao Estetica D PDFBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Aspectos filosóficos da culturaDocumento15 páginasAspectos filosóficos da culturaBartolomeu Dos Santos Costa100% (1)
- A Inserção Das Tecnologias Nos Processos Formativos Dos Professores Do Campo Procampo e Programa Escola AtivaDocumento16 páginasA Inserção Das Tecnologias Nos Processos Formativos Dos Professores Do Campo Procampo e Programa Escola AtivaBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Nova Bildung e hiperformatividade contemporâneaDocumento19 páginasNova Bildung e hiperformatividade contemporâneaBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Marcuse e A Crítica Estética Da Modernidade - Uma Nova Educação Estética PDFDocumento28 páginasMarcuse e A Crítica Estética Da Modernidade - Uma Nova Educação Estética PDFBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Rousseau e Schiller - Elementos para Uma Formação Estética Do HomemDocumento22 páginasRousseau e Schiller - Elementos para Uma Formação Estética Do HomemBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Arte e Educação em Platão e SchillerDocumento105 páginasArte e Educação em Platão e SchillerpityAinda não há avaliações
- Da teoria do belo à estética dos sentidosDocumento9 páginasDa teoria do belo à estética dos sentidosLilith_11Ainda não há avaliações
- 126-Texto Do Artigo-584-1-10-20171218Documento12 páginas126-Texto Do Artigo-584-1-10-20171218Nathalia UlianaAinda não há avaliações
- A Domesticação Do Animal Humano em Assim Falou Zaratustra Uma Análise Da Virtude Que ApequenaDocumento11 páginasA Domesticação Do Animal Humano em Assim Falou Zaratustra Uma Análise Da Virtude Que ApequenaBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- MAGRANI, Eduardo Democracia Conectada PDFDocumento224 páginasMAGRANI, Eduardo Democracia Conectada PDFBeatrizAinda não há avaliações
- Bildung e Spieltrieb - o Projeto EstéticoDocumento8 páginasBildung e Spieltrieb - o Projeto EstéticoBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Educação estética como Bildung em Herbert MarcuseDocumento245 páginasEducação estética como Bildung em Herbert MarcuseBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Marcos Camara e Castro Música e Educação No CampoDocumento10 páginasMarcos Camara e Castro Música e Educação No CampoigorAinda não há avaliações
- Cartas SchillerianasDocumento10 páginasCartas SchillerianasPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Resenha - Estado Democrático de Direito Estado Pósdemocrático e Sua Relação Com o NeoliberalismoDocumento5 páginasResenha - Estado Democrático de Direito Estado Pósdemocrático e Sua Relação Com o NeoliberalismoBartolomeu Dos Santos CostaAinda não há avaliações
- Biopolítica e controle socialDocumento23 páginasBiopolítica e controle socialRafael Bueno da SilvaAinda não há avaliações
- Classificados História UEMA ImperatrizDocumento23 páginasClassificados História UEMA ImperatrizOrielzo JuniorAinda não há avaliações
- Retiro de São BentoDocumento14 páginasRetiro de São BentoTelma CavaniAinda não há avaliações
- IdSisdoc - 22606055v5-76 - Instrucao - Processo - 00678920218 - CopiarDocumento22 páginasIdSisdoc - 22606055v5-76 - Instrucao - Processo - 00678920218 - CopiarLourenço FloresAinda não há avaliações
- A obra urbanística de Hipódamo e a atribuição da autoria aos planos de Mileto, Pireu e TúrioDocumento4 páginasA obra urbanística de Hipódamo e a atribuição da autoria aos planos de Mileto, Pireu e TúrioAri LimaAinda não há avaliações
- Respostas Das Atividades Referentes Ao Texto de Franz BoasDocumento4 páginasRespostas Das Atividades Referentes Ao Texto de Franz Boaslucas limaAinda não há avaliações
- Portaria 155 - Espécies Vegetais Exóticas - Invasoras Do CearáDocumento1 páginaPortaria 155 - Espécies Vegetais Exóticas - Invasoras Do CearámariaAinda não há avaliações
- Salvador Allende e a via chilena ao socialismoDocumento9 páginasSalvador Allende e a via chilena ao socialismoBiso GisolfiAinda não há avaliações
- Res. 66 A 16Documento31 páginasRes. 66 A 16Anonymous tdiiN75Hv6Ainda não há avaliações
- História Moderna II: Revoluções e IluminismoDocumento9 páginasHistória Moderna II: Revoluções e IluminismoAna Flavia RamosAinda não há avaliações
- Guerra Dos FarraposDocumento12 páginasGuerra Dos FarraposDiogo QuitoAinda não há avaliações
- Boletim Escolar com Gráfico de DesempenhoDocumento1 páginaBoletim Escolar com Gráfico de DesempenhoEdson VieiraAinda não há avaliações
- O Estado Da Nação e As Políticas Públicas 2020Documento126 páginasO Estado Da Nação e As Políticas Públicas 2020CNN PortugalAinda não há avaliações
- A necessidade de um altar na UmbandaDocumento5 páginasA necessidade de um altar na UmbandaAllan RodriguesAinda não há avaliações
- Teoria ERG de Alderfer: Uma revisão da pirâmide de MaslowDocumento15 páginasTeoria ERG de Alderfer: Uma revisão da pirâmide de MaslowDaniela CerqueiraAinda não há avaliações
- CRAS - Centro de Referência de Assistência Social no Estado de São PauloDocumento37 páginasCRAS - Centro de Referência de Assistência Social no Estado de São PauloEuMesmoMesmoAinda não há avaliações
- A Experiência Da Primeira Republica No Brasil e em Portugal - OkDocumento474 páginasA Experiência Da Primeira Republica No Brasil e em Portugal - OkalvesalexandreAinda não há avaliações
- Educação e suas tarefas para indivíduo e sociedadeDocumento3 páginasEducação e suas tarefas para indivíduo e sociedadeCarolina Cruz100% (1)
- Norma Negociações Job TaskDocumento2 páginasNorma Negociações Job TaskAna MaywormAinda não há avaliações
- Mateus 21,18 Deem FrutosDocumento10 páginasMateus 21,18 Deem FrutosJamão LimaAinda não há avaliações
- Atividade 2 - GQ - Comunicação Empresarial e Negociação - 52-2023Documento7 páginasAtividade 2 - GQ - Comunicação Empresarial e Negociação - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- Guia de ShavuotDocumento19 páginasGuia de ShavuotCarla CavallariAinda não há avaliações
- Eucarística de Santa FaustinaDocumento24 páginasEucarística de Santa FaustinacarlAinda não há avaliações
- Gincana de LeituraDocumento4 páginasGincana de LeituraJohn ThaylorAinda não há avaliações
- APLs Triangulo de Sabato e Tripla HeliceDocumento15 páginasAPLs Triangulo de Sabato e Tripla Helicefreudoliveira100% (1)
- DanfeDocumento1 páginaDanfeRenato RosaAinda não há avaliações
- Avaliacao Suplementar Gestao CustosDocumento3 páginasAvaliacao Suplementar Gestao CustosVinícius SilvaAinda não há avaliações
- Plano manutenção voluntáriaDocumento2 páginasPlano manutenção voluntáriaHaislan AraujoAinda não há avaliações