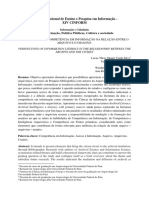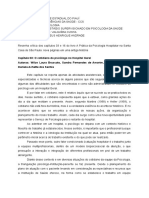Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Além Da Tecnologia Ética e Responsabilidade Na Era Da Inteligência Artificial
Além Da Tecnologia Ética e Responsabilidade Na Era Da Inteligência Artificial
Enviado por
CrisSilvaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Além Da Tecnologia Ética e Responsabilidade Na Era Da Inteligência Artificial
Além Da Tecnologia Ética e Responsabilidade Na Era Da Inteligência Artificial
Enviado por
CrisSilvaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Contemporânea
Contemporary Journal
Vol.4 No.2: 01-25, 2024
ISSN: 2447-0961
Artigo
ALÉM DA TECNOLOGIA: ÉTICA E RESPONSABILIDADE NA
ERA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
BEYOND TECHNOLOGY: ETHICS AND RESPONSIBILITY IN THE
ERA OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA: ÉTICA Y RESPONSABILIDAD EN
LA ERA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
DOI: 10.56083/RCV4N2-076
Originals received: 01/02/2024
Acceptance for publication: 02/11/2024
Helen Cristina Minardi Baumgratz
Mestre em Avaliação de Sistemas, Programas e Instituições
Instituição: UNINTER, Colégio Militar de Brasília
Endereço: SGAN 902/904, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70790-020
E-mail: hminardi@hotmail.com
Rodrigo Otávio dos Santos
Pós-Doutor em Tecnologia e Sociedade
Instituição: UNINTER
Endereço: Rua Luiz Xavier, 103, Centro, Curitiba-PR, CEP: 80020-020
E-mail: rodrigoscama@gmail.com
RESUMO: Este estudo explora a relação entre inteligência artificial (IA) e
ética humana, com foco na teoria da "sociedade de risco" de Ulrich Beck,
destacando os desafios e riscos que a IA apresenta na sociedade industrial
moderna. O trabalho enfatiza a necessidade de uma governança e
regulamentação eficaz da IA, abordando as questões éticas relacionadas à
sua implementação e a importância de alinhar a tecnologia aos princípios
éticos humanos. Além disso, discute-se a possibilidade de diferentes
ideologias compartilharem valores fundamentais similares, destacando a
integração de valores humanos universais no desenvolvimento de sistemas
de IA. A pesquisa ressalta a necessidade de responsabilidade e transparência
nas decisões de sistemas automatizados e a importância da colaboração
entre inteligência humana e artificial para decisões seguras e equilibradas.
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
Este estudo bibliográfico e exploratório busca oferecer novas perspectivas
para pesquisas futuras na intersecção entre IA e ética.
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Inteligência Artificial, Sociedade de Risco.
ABSTRACT: This study explores the relationship between artificial
intelligence (AI) and human ethics, focusing on Ulrich Beck's "risk society"
theory, highlighting the challenges and risks that AI presents in modern
industrial society. The work emphasizes the need for effective governance
and regulation of AI, addressing the ethical issues related to its
implementation and the importance of aligning technology with human
ethical principles. In addition, the possibility of different ideologies sharing
similar fundamental values is discussed, highlighting the integration of
universal human values in the development of AI systems. The research
underscores the need for responsibility and transparency in the decisions of
automated systems and the importance of collaboration between human and
artificial intelligence for safe and balanced decisions. This bibliographic and
exploratory study seeks to offer new perspectives for future research at the
intersection of AI and ethics. Keywords: Technology. Artificial Intelligence.
Risk Society.
KEYWORDS: Technology, Artificial Intelligence, Risk Society.
RESUMEN: Este estudio explora la relación entre la inteligencia artificial (IA)
y la ética humana, centrándose en la teoría de la "sociedad del riesgo" de
Ulrich Beck, destacando los desafíos y riesgos que presenta la IA en la
sociedad industrial moderna. El trabajo enfatiza la necesidad de una
gobernanza y regulación efectiva de la IA, abordando las cuestiones éticas
relacionadas con su implementación y la importancia de alinear la tecnología
con los principios éticos humanos. Además, se discute la posibilidad de que
diferentes ideologías compartan valores fundamentales similares,
destacando la integración de valores humanos universales en el desarrollo
de sistemas de IA. La investigación subraya la necesidad de responsabilidad
y transparencia en las decisiones de los sistemas automatizados y la
importancia de la colaboración entre la inteligencia humana y artificial para
tomar decisiones seguras y equilibradas. Este estudio bibliográfico y
exploratorio busca ofrecer nuevas perspectivas para futuras investigaciones
en la intersección de la IA y la ética. Palabras clave: Tecnología. Inteligencia
Artificial. Sociedad de riesgo.
PALABRAS CLAVE: Tecnología, Inteligencia Artificial, Sociedad de Riesgo.
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
1. Introdução
A evolução da civilização e os desenvolvimentos científicos e
tecnológicos caminharam concomitantemente ao longo da história e estão
profundamente interligados às mudanças sociais e ambientais.
A tecnologia, que permeia praticamente todas as esferas da vida,
avança aceleradamente e cria novas possibilidades, porém a ausência de
controle sobre seu crescimento suscita debates acerca de riscos, ética e
justiça social.
A ação do homem e suas realizações científicas e tecnológicas
permitiram a solução de diversos problemas vitais para a sociedade.
Entretanto, surgiram novos problemas e a previsão de consequências se
fazem necessárias na medida em que o homem ameaça a sua própria
existência em decorrência dessa atividade, assim como promove o
esgotamento dos recursos naturais e a degradação ambiental.
Compreender esse fenômeno e avaliar seu impacto na sociedade, na
cultura e na vida das pessoas, contribui para a projeção de cenários futuros
capazes de antecipar possíveis riscos, responsabilidades, oportunidades e
alternativas. Ao refletir criticamente sobre os processos de transformação
tecnológicos, busca-se assegurar que as inovações futuras trarão benefícios
e não a ruína da sociedade.
2. A Tecnologia
Ao longo da história da humanidade, a tecnologia percorreu um longo
caminho de progresso que mudou radicalmente a sociedade. Na perspectiva
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
histórica e cultural evolutiva, o Homo sapiens é o único, entre as espécies do
gênero Homo, que permanece existindo, transformando o conjunto de
ecossistemas e preservando a unidade das espécies.
Para Harari (2015, p.361), o Homo sapiens se estabeleceu como
espécie dominante do mundo e destaca o processo das três revoluções que
moldaram a história humana: a cognitiva, a agrícola e a científica. Ele aponta
que, na revolução cognitiva, o Homo sapiens conseguiu prevalecer em
relação aos outros animais por vários motivos, entre eles a diferença do
cérebro humano e habilidades como: linguagem única, capacidade de
abstração e de memória, de cooperação e de criação de realidades subjetivas
e mitos compartilhados. Com a revolução cognitiva, transformaram suas
relações sociais e desenvolveram a capacidade de cooperar; adquiriram
habilidades técnicas e criaram ferramentas. Na revolução agrícola,
abandonaram a vida de caçador-coletor e passaram a manipular algumas
plantas e animais, utilizando ferramentas que permitiram aumentar
progressivamente os períodos que passavam num mesmo lugar, assim como
a probabilidade de sobrevivência e o desenvolvimento da espécie. Após a
Revolução Agrícola, as sociedades que surgiam buscaram aprimorar seu
modo de vida, adquirindo novos conhecimentos a uma velocidade frenética,
dando início a terceira revolução, a Revolução científica (Harari, 2015, p 11)
As revoluções científicas são etapas do desenvolvimento da ciência em
que incide uma modificação nas estratégias de pesquisa estabelecidas por
seus fundamentos.
O filósofo americano T. Kuhn (2012, p.15-17), dividiu em três etapas
distintas a evolução do conhecimento científico. A primeira denominada de
pré-paradigmática, onde a descoberta de uma teoria para solucionar o
problema ainda não havia sido identificada. A segunda etapa, chamada de
ciência normal, quando sobrevém uma teoria capaz de solucionar a maioria
dos problemas, e os pesquisadores não fazem objeção a ela por acreditarem
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
na sua veracidade; ao contrário, buscam aperfeiçoá-la. Entretanto, com o
decorrer do tempo manifestam-se anomalias difíceis de serem sanadas.
Para Kuhn (2011, p. 29):
“[...] ciência normal” significa a pesquisa firmemente baseada em
uma ou mais realizações científicas passadas. Essas realizações são
reconhecidas durante algum tempo por alguma comunidade científica
específica como proporcionando os fundamentos para sua prática
posterior.
A terceira etapa, intitulada ciência revolucionária (Kuhn, 2012, p. 21),
se constitui quando inúmeras anomalias se fazem presentes, levando os
cientistas a renegarem uma teoria, estabelecendo o embate entre grupos
distintos de cientistas que passam a advogar em favor de diferentes teorias.
Kuhn (2012, p.17) também observou que na prática científica investia-
se para que a natureza se adequasse aos paradigmas preestabelecidos.
Segundo a sua filosofia, a ciência normal se ancora na metáfora dos
“puzzles”, onde o resultado a ser alcançado já é conhecido, bastando
desvendar os meios para atingi-lo, tal como um cubo chinês. Kuhn contrariou
os cientistas, ao declarar que eles não tinham a verdade como propósito,
mas sim decifrar os enigmas e solucioná-los. Ele afirmava que durante esse
período, os dogmas são fundamentais, tendo em vista que eles determinam
os “puzzles” e instituem os critérios para sua solução. Paradigmas
conflitantes são desestimulados e a comunidade científica converge para a
busca da solução do quebra-cabeças. Resolver os segredos de quebra-cabeça
acarreta em fama e reconhecimento, mas para que o trabalho do cientista
seja legitimado, ele precisa fazer parte de uma comunidade científica.
Neste processo, a adoção de um paradigma como suporte à pesquisa
é fundamental e assegura aos cientistas o controle da pesquisa, assim como
estimula o seu avanço. Neste sentido, faz-se necessário salientar que a
produção do conhecimento científico é realizada pelos cientistas que envidam
através de ensaios, inferências e observações para provar suas descobertas
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
e, para que o resultado de uma pesquisa seja considerado válido pela
comunidade científica, é imperativo que alguns critérios e normas e sejam
cumpridos.
De acordo com Kuhn (2011a, p. 220),
[...] o termo “paradigma” é usado em dois sentidos diferentes. De
um lado, indica toda a constelação de crenças, valores, técnicas etc.,
partilhadas pelos membros de uma comunidade determinada. De
outro, denota um tipo de elemento dessa constelação: as soluções
concretas de quebra-cabeças que, empregadas como modelos ou
exemplos, podem substituir regras explícitas como base para a
solução dos restantes quebra-cabeças da ciência normal.
No decorrer do período de revoluções, os cientistas fazem novas
descobertas e alcançam novos resultados, trazendo contribuições
significativas como o surgimento de novas técnicas e tecnologias. As origens
dos termos “técnica” e “tecnologia” remontam à antiga noção grega de
“techne” (arte ou artesanato), significando o conjunto de conhecimentos
pertinentes a uma determinada prática produtiva.
Heidegger (2007, p. 376-377) afirma que na concepção corrente a
técnica é uma atividade humana e que sua essência é um meio para atingir
o fim. Assim, ela é percebida como a realização da vontade humana livre
para agir e favorecer-se de suas realizações entretanto se contrapondo aos
fatos históricos. A partir dessas respostas, a técnica instrumental, ou seja
designada ao “fazer as coisas” e a antropológica, isto é, uma atividade
humana. Ele considera correta esta definição que descreve a técnica, porém
convida a uma compreensão mais completa acerca do termo, considerando
o que está por trás do significado de instrumentalidade à luz da casualidade.
Usando o exemplo de um cálice de prata, ele observa a existência de
quatro causas: a primeira denominada causa materialis, a matéria que
constitui o cálice, a causa formalis, a forma que ele adquire, a causa finalis,
o fim e a causa efficiens, a taça real acabada. Entretanto conclui que não
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
existe um pensamento que esclareça a ligação entre essas quatro causas
(Heidegger, 2007, p. 377).
Ele compara o modelo tradicional de causalidade, a partir da concepção
grega revelando que Aristóteles não percebia o ourives como o agente que
"efetua" a produção do cálice. Para ele o ourives seria o ponto de partida
para o cálice existir. Neste sentido, o ourives é o responsável pelo cálice; o
cálice estaria "em dívida" com o ourives, numa relação de responsabilidade
e endividamento.
Para os gregos, poeisis significa “gerar” e está intimamente relacionada
a "ser responsável". O autor faz a distinção entre as duas formas de gerar,
sendo a primeira associada à poeisis, fazendo referência ao que o artesão e
o poeta praticam, isto é, o poeta faz o poema, o artesão faz a escultura. A
segunda é a physis, a produção que ocorre na natureza. Entretanto, essas
duas formas são consideradas poeisis no sentido de que algo que não estava
presente se torna presente.
Esse conceito de “poeisis” como uma qualidade de revelação, o
conduziu a mais uma palavra grega: “aletheia”, que significa "revelar", assim
como é também utilizada como "verdade". Neste sentido, Heidegger
argumenta, que a técnica é uma espécie de poeisis, ou seja, um modo de
“revelar” bem como "o reino da verdade ". Desta forma, percebe-se que o
Heidegger conduz a um modo alternativo de refletir sobre a técnica,
desvinculado da instrumentalidade, e sua similitude à poesia no modo de se
contrapor ao mundo.
A palavra técnica originada do grego technikon é correlata a palavra
techne. Ele ressalva que, “techne” pode ser considerada uma forma de
conhecimento já que se refere, tanto à manufatura quanto às artes e que ao
ser usada junto a episteme, da qual deriva a palavra epistemologia, é
entendida como a filosofia do conhecimento.
Techne e episteme estão ligadas. A primeira relacionada àquilo que
surge apenas pela intervenção do homem na natureza e a última relacionada
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
àquilo que surge somente de sua própria natureza. Techne revela tudo o que
não se apresenta. Assim, o que é decisivo na techne não está em fazer,
manipular e nem no uso dos meios, mas antes na revelação mencionada.
Tanto a episteme, quanto a poiesis, também a tekne – os três modos
dos gregos conceberem o conhecimento – se configuram como modos
de algo se manifestar, apreensíveis pelo pensamento, mas jamais
criadas por ele. A tekne, que é tomado inadequadamente como
equivalente ao técnico, possui, portanto, um sentido originário
bastante diferente do moderno: ela também é uma forma de
desencobrimento, ela desencobre o que não se produz por si mesmo,
ela é um modo auxiliar para que algo venha a ser. (...) “o decisivo da
tekne não reside, pois, no fazer e manusear, nem na aplicação de
meios, mas no desencobrimento mencionado” (HEIDEGGER, 2002, p.
18, apud WEBER, 2011, p. 5).
Heidegger se questiona então se é apropriado aplicar os conceitos da
filosofia grega à técnica moderna, que trilhou um caminho mais próximo da
ciências físicas do que propriamente das artes e ofícios, concluindo que a
ciência não pode ser vista como uma "causa" ou "origem" da técnica, mas
sim na sua orientação para o mundo.
Heidegger (2007, p. 381) distingue as formas antigas de técnica, que
produz energia a partir da força dos ventos, sem conseguir armazená-la; da
moderna, capaz de esgotar os recursos do planeta. Ele também introduz o
conceito de “reserva permanente”, fortemente relacionado ao conceito de
“instrumentalidade”, afirmando que a orientação instrumental da técnica
transforma o mundo em uma reserva permanente. Ressalta ainda que o uso
da expressão "recursos humanos" equipara os seres humanos com matérias-
primas como carvão ou petróleo, mas assinala que tal como o homem não
tem domínio sobre a formação desses recursos, só se pode controlar ou
orientar os pensamento e as ações.
Nesse sentido, Heidegger esclarece que no vínculo entre o homem e o
mundo, surge uma atitude denominada enquadramento, utilizando para isso
a palavra alemã Gestell. Esse enquadramento faz alusão ao ímpeto humano
de controlar e moldar o pensamento. Dessa forma, compreender a técnica
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
moderna como o emprego do enquadramento, abrange também o problema
da compreensão da essência da técnica e sua relação histórica com o
homem.
Entretanto, ele sugere a existência de um “perigo” ou ameaça
associada à alienação e à incapacidade do homem de se afastar da técnica
moderna, assim como sugere um poder salvador crescente onde o perigo
habita. Ele aponta ainda um caminho de salvação num olhar poético da
perspectiva de mundo, buscando uma relação livre e indagadora sobre o
papel da técnica na vida de cada um.
(Feenberg, 2003), apresenta a concepção de tecnologia sob a ótica de
eixos que refletem suas relações com valores e capacidades humanas, numa
abordagem crítica à filosofia essencialista. Ele se apoia na distinção das
palavras gregas physis, traduzida como natureza, denotando a capacidade
de criar a si mesmo; e poiêsis, que é a atividade prática de fazer algo. Poiêsis
significa revelar ou trazer à existência algo que não existia antes e seu
produto é chamado de artefato.
Ele expõe o conceito de techne, que significa o conhecimento ou
disciplina associado a alguma forma de poiêsis (Feenberg, 2003). Também
declara que na visão grega das coisas, cada techne inclui um propósito e um
significado para os artefatos cuja produção ela guia. Para os gregos, as
thecnai mostram a "maneira correta" de fazer as coisas em um sentido muito
forte, até mesmo objetivo. Apesar dos artefatos dependerem da atividade
humana, o conhecimento contido nas thecnai não está sujeito à opinião ou
intenção subjetiva. Até mesmo os propósitos das coisas produzidas
compartilham desta objetividade, na medida em que são definidos pelas
thecnai (Feenberg, 2003, p.2).
Na segunda distinção fundamental, a existência esclarece se algo é ou
não é. Já a essência precisa responder o que a coisa é. Para Platão a natureza
é dividida em existência e essência assim como os artefatos, porém não
existe uma separação entre elas. A ideia do artefato para os gregos não
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
desponta de forma subjetiva, antes, se faz necessário possuir o domínio
sobre uma techne.
Na Grécia, os processos de aquisição do conhecimento (episteme) e
produção de artefatos (technê) eram distintos. Desta forma, para os gregos
os conceitos de technê e episteme se diferenciavam. Episteme exprimia o
conhecimento em estado puro, mas atualmente é compreendido como
ciência. Nesse sentido, a construção de artefatos se concretiza pela junção
do conhecimento, da prática e da experimentação. Nos tempos modernos,
apesar de partilharem estes conceitos fundamentais, o senso comum aponta
para uma dicotomia entre a existência e essência dos objetos. A tecnologia
não responde aos propósitos essenciais que constam na natureza, mas sim
ao intuito subjetivo de priorizar a vontade, o querer. Dessa forma, instalou-
se a partir daí um colapso da civilização pela disputa do poder tecnológico,
assim como pelo domínio estratégico retratado nas duas grandes guerras.
Feenberg afirma que as sociedades modernas, especialmente a partir
do século XVIII, emergem do questionamento das formas tradicionais de
pensamento e obrigam que as instituições se justifiquem como úteis para a
humanidade. E, sob o impacto dessa demanda, “a ciência e a tecnologia se
tornaram a base para as novas crenças”, influenciando decisivamente a
cultura e colocando-se como a escolha ‘racional’. Nessa perspectiva, “a
tecnologia torna-se onipresente na vida cotidiana e os modos técnicos de
pensamento passam a predominar acima de todos os outros” (Feenberg,
2003, p. 1).
Para Feenberg a tecnologia contemporânea desponta em quatro
vertentes: instrumentalismo, determinismo, substantivismo e teoria crítica.
(Feenberg , 2003, p. 6) O instrumentalismo é a conjunção entre o controle
humano e a neutralidade de tecnologia, de maneira que ela se apresente
somente como um instrumento para satisfazer as necessidades humanas.
10
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
O determinismo considera que a tecnologia não sofre o controle
humano, mas impulsiona o desenvolvimento, através do progresso do
conhecimento e domínio de forças do mundo natural.
No substantivismo admite-se que a tecnologia é autônoma e carregada
de valores. Segundo o autor, se a tecnologia incorpora um valor substantivo,
não é meramente instrumental e não pode ser usada segundo diferentes
propósitos de indivíduos ou sociedades com ideias diferentes do bem.
(Feenberg, 2003, p.7).
Ele propõe uma nova teoria crítica em relação à tecnologia, admitindo
as possíveis ameaças expressas no substantivismo, porém oportuniza uma
reflexão filosófica sobre o controle do desenvolvimento tecnológico, através
de instituições mais adequadas para esse processo. Nessa abordagem,
constata-se o compartilhamento de características comuns tanto do
instrumentalismo quanto do substantivismo.
Nessa reflexão, Feenberg se afasta da posição do filósofo Martin
Heidegger, que acredita que a tecnologia é dominante, incontrolável e não
oferece uma saída, de forma que somente um deus poderia salvar a
humanidade. Para o autor, existem armadilhas que frequentemente tornam-
se preconceitos sobre a forma como se usa a tecnologia e alerta para a
adoção de uma postura crítica diante dessa realidade, abrindo espaço para
o questionamento sobre a sua importância e utilidade.
Essa concepção da relação do homem com a tecnologia encontra sua
fonte na capacidade de concebê-las como exercícios reveladores sob um
olhar útil e um pensamento crítico, que muitas vezes são negligenciados em
favor de uma economia linear que atenda aos objetivos da moderna
sociedade dominada e controlada pela inovação tecnológica, seu poder de
influenciar as pessoas e modificar completamente o modo de vida de uma
população.
Nessa perspectiva, a preponderância da tecnologia e suas implicações
na vida moderna não podem ser retratadas como um dilema situado entre a
11
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
as aspirações utópicas e os medos distópicos, mas sim refletidas à luz do
privilégio da ação e reponsabilidades inerentes a todo ser humano que são
capazes de transformar uma sociedade e indicar possíveis caminhos e
soluções capazes de satisfazer demandas democráticas abraçadas ao
desenvolvimento tecnológico na busca por uma possível reconciliação entre
humanos e tecnologias.
Para Vieira Pinto (2005, p.2019-220), o termo tecnologia, pode ser
conceituado a partir de quatro diferentes acepções. A primeira apresentada
é a epistemológica ou como logos da técnica, onde a tecnologia é vista como
a teoria da técnica, estando relacionada com as habilidades do saber fazer e
produzir. Enquanto apropriação da técnica dos meios de produção, a
tecnologia se confunde com a técnica e o trabalhador que exerce esse papel
é denominado técnico, que em geral, não tem uma formação crítica para o
pensar crítico em relação ao produto que está entregando. Ele esclarece que
a técnica, enquanto atividade produtiva do homem, representa objeto de
estudo da tecnologia, “há sem dúvida uma ciência da técnica, enquanto fato
concreto e por isso objeto de indicação epistemológica” (VIEIRA PINTO,
2005, p. 220).
Na segunda acepção, a tecnologia está relacionada a técnica, mas
excluindo os aspectos sociais e culturais envolvidos. Na terceira, o autor
apresenta a tecnologia como “conjunto de todas as técnicas de que dispõe
uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu
desenvolvimento”. E em sua última concepção do termo, ele percebe a
tecnologia sob o aspecto da ideologização da técnica, onde as questões
políticas e ideológicas influenciam determinados grupos ou população. A
partir destas definições, percebe-se que sob a sua ótica, a tecnologia poderia
ser compreendida como uma ciência da técnica, mas devidamente alçada à
condição de ideologia política e social. Nesse sentido a técnica é descrita
como fruto da percepção do homem que toma forma através de instrumentos
12
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
e máquinas capazes de influenciar o pensamento e a cultura de um
determinado grupo.
Vieira Pinto (2005, p. 233) observa que o desenvolvimento tecnológico
atual é o resultado do acúmulo histórico do saber e das práticas sociais, além
de destacar que quando uma tecnologia se torna corrente, a próxima
explosão tecnológica é lançada, tendo em vista as limitações do potencial
aperfeiçoamento da que está em uso. Por este ângulo, percebe-se que
através da globalização, a ideia de que o mundo todo desfruta dessas
tecnologias motiva a busca incessante por artefatos cada vez mais
avançados, sem que haja uma reflexão da real necessidade de seu uso.
Introduz-se assim condicionamentos capazes de provocar modificações no
modo de vida das pessoas que se refletirá nas relações sociais, culturais e
produtivas, estando sempre vinculadas ao aspecto político e mercadológico
que deságua na questão da ideologia.
Com o crescente desenvolvimento e convergência da tecnologia e da
ciência e sua expressiva ação dominante em todas as áreas da vida humana,
os benefícios e adversidades passaram a ser objeto de reflexão filosófica
devido aos riscos e malefícios acarretados ao homem e a natureza. O
homem, por meio de novas técnicas, defronta-se cada vez mais com o perigo
que ele mesmo cria. Assim, surgem novas questões sobre o uso que se faz
da tecnologia e a transformação da ação humana, exigindo uma avaliação
moral e ética sob o prisma do conceito da responsabilidade.
3. O Homem
Hans Jonas, observou em sua obra O Princípio da Responsabilidade,
que a natureza da ação humana mudou e a tecnologia, que é uma importante
ferramenta na solução dos problemas da vida moderna, se transformou
numa ameaça.
13
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
O homem não se contentou em dominar a natureza, foi além, passou
a dominar a si mesmo, influenciando as suas características fundamentais e
provando que não é um ser imutável. À luz do aumento do poder tecnológico,
o homo faber se tornou o objeto da tecnologia. Jonas diz que o homo faber
aplica sua arte a si mesmo e se prepara para inventar uma nova fabricação
do inventor e criador de todo o resto (OLIVEIRA, 2013, p.14). Para ele, o
homem é um ser condenado à morte, porém, com o desenvolvimento de
novas tecnologias para biomedicina, o homem vem buscando envelhecer ou
viver eternamente através o prolongamento da vida, do controle do
comportamento e da manipulação genética.
Entretanto, o prolongamento da vida traz consequências éticas, tais
como o aumento e o predomínio da população de idosos e por conseguinte,
a ausência de inovação tendo em vista o fim da procriação. Essas questões
assumiram um papel significativo já que tratam da rejeição à morte e trazem
à tona temáticas tais como a eutanásia, a clonagem, a geração in vitro entre
tantas outras importantes sob o ponto de vista ético. Diante dessas questões,
a ética tradicional tornou-se ineficaz e Hans Jonas recorreu à ética das
responsabilidade que encontra suas fontes na metafísica. Ele colocou a
responsabilidade no centro da teoria ética.
Na perspectiva de Jonas, diante das ameaças de perigo associadas ao
progresso tecnocientífico atual, assim como do futuro, os efeitos das ações
humanas conduzidas pela técnica devem preservar a humanidade e a
natureza. Nesse sentido, a liberdade do homem patente no poder da técnica,
também pode ser concebida para a destruição do próprio homem e da
natureza, levando à subjugação de sua própria imagem. Esse poder
proporcionado pela técnica obriga o homem a assumir sua responsabilidade
e a controlar a empreitada do avanço tecnológico, pois o exercício do poder
desacompanhado do dever resulta na irresponsabilidade moralmente
condenável. Destaca-se então que para Jonas a ética da responsabilidade
14
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
reorientará o homem como sujeito ético para a superação do niilismo que
aponta para um cenário de incertezas em relação ao futuro.
Diante desse panorama, Jonas assinala a necessidade de uma reflexão
sobre o que é humanamente desejável e o que deve determinar a escolha.
Com os avanços da nano e da biotecnologia surgem problemas relacionados
à vida, à morte, ao hoje e ao amanhã, que à luz do conceito da
responsabilidade de Jonas revelam oportunidades do homem assumir o
controle do desenvolvimento da técnica em benefício de um agir ético
compatível com a preservação e integridade da vida humana e da natureza,
já que as inclinações do homo faber são de agir sem ponderar as
consequências de suas atitudes.
A globalização e o avanço tecnológico suscitaram a necessidade de um
comportamento responsável diante do impacto antropogênico e das
possíveis consequências das decisões tomadas, tendo como princípio a
continuação da existência humana. A liberdade de agir e a responsabilidade
estão intrinsicamente incorporadas uma a outra. O homem torna-se
responsável à medida que se envolve em qualquer atividade e conhece suas
consequências, aventando a questão da antecipação e da previsão dos riscos
apontada por Beck. Neste sentido, a ética da responsabilidade individual
propaga-se para a responsabilidade social, tornando imprescindível avaliar
os efeitos colaterais e os riscos, mesmo com probabilidade ínfima, de
qualquer ação que ameace a existência da humanidade. Essa ação deve ser
inserida numa dimensão espaço-temporal dilatada, para que se possa
prognosticar, com clareza, as suas possíveis futuras consequências. As
implicações do poder descontrolado dos avanços tecnológicos transcendem
as fronteiras do tempo e do espaço, e as crises, antes locais, tornaram-se
globais na medida em que todos são afetados.
A tecnologia que integra o cotidiano moderno e a busca por sua
constante atualização, revela aspectos críticos sobre possibilidades de risco
onde a ciência e o estado exercem poder de persuasão para a prática, que
15
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
devem estar de acordo com a orientação de princípios morais. Entretanto, a
divergência quanto aos valores éticos e morais de uma sociedade para outra
dificulta a ordem social e coloca em risco a paz mundial.
A tecnologia chama todas as sociedades à reflexão sobre as dimensões
de poder e suas consequências políticas, sociais e éticas bem como seu
impacto nas relações humanas e nas estruturas de governança. Neste
sentido, o controle dos territórios desdobra-se também para o controle dos
cidadãos e da sociedade. Através de novas tecnologias, sistemas de
vigilância e controle trazem ao conhecimento informações sobre as
atividades do indivíduo nas esferas privada e pública, conduzindo por vezes
à violações dos direitos fundamentais e consequências perversas para a
segurança da vida do cidadão.
O avanço tecnológico que empodera o homem tem efeitos
ambivalentes que beneficiam e destroem, assim como gera a necessidade
de uma conduta responsável, complementada pela liberdade e pautada em
princípios éticos que devem prover novos princípios normativos para a ação
do homem, fundamentando-se na imagem do objeto que só pode ser
determinada a partir uma filosofia que abarca a vida e a dignidade humana.
Para Beck (1999a, p. 178), as atuais ameaças à humanidade advêm
da própria ação do homem, que gera implicações imprevisíveis,
contrapondo-se a concepção de que o avanço da ciência e da tecnologia
garantiria proteção contra os flagelos da natureza. O homem, que no início
da era moderna buscava dominar a natureza através dos avanços
tecnológicos e do progresso da ciência, passa a provocar no planeta uma
reação a sua intervenção desordenada, dissolvendo o senso comum de
progresso.
Ele afirma que:
Sociedade de risco significa: o passado perdeu seu poder de
determinação sob o presente. Entra em seu lugar o futuro – ou seja,
algo que não existe, algo fictício e construído – como a causa da vida
16
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
e da ação no presente. Quando falamos de riscos, discutimos algo
que não ocorre mas que pode surgir se não for imediatamente
alterada a direção do barco. Os riscos imaginários são o chicote que
fazem andar o tempo presente. (BECK, 1999a, p. 178):
Beck argumenta que desponta uma ruptura na modernidade e uma
nova sociedade revela-se, dissolvendo as estruturas da sociedade industrial
e substituindo-as pela sociedade de risco e não se pode mais considerar as
certezas tradicionais como garantias e que a humanidade está submetida
aos riscos gerados pelo próprio homem e bem distintos dos pregressos.
Para ele, uma das principais características da sociedade de risco é que
a sociedade moderna transforma-se em reflexiva ao manifestar-se como
uma questão e um problema para si mesma. Citando François Ewald ele
afirma que o risco é uma forma de controle e consiste em uma espécie real
de realidade virtual, que aumenta a obrigação e o poder de modificar os
eventos à medida que uma ameaça aumenta. O autor aponta a existência de
um paradoxo na probabilidade de que se irrompa surpresas, conforme sejam
empreendidas tentativas de colonizar o futuro; justificando os dois estágios
pelos quais passa a noção de risco.
No primeiro estágio, o risco é apresentado como um cálculo elementar,
que intenta ou converte o imprevisível em previsível. No segundo estágio de
risco ele apresenta a incerteza manufaturada, onde a geração de riscos
decorre de empenhos científicos e políticos para controlá-los ou reduzi-los.
Nesta perspectiva, o risco torna-se aleatório e inevitável, entretanto a
incerteza manufaturada seria a origem de novos riscos.
Outro aspecto que Beck desenvolve é de compreender a sociedade
como um laboratório, mas sem responsáveis pelas decisões e resultados.
Diante disso, emerge o questionamento sobre papel da política diante do
desenvolvimento tecnológico. Neste caso, Beck identifica um descompasso
entre a indústria e os políticos, já que a primeira possui autonomia nas
decisões e monopólio da aplicação da tecnologia enquanto os políticos
17
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
permanecem alheios a esse desenvolvimento, mas favoráveis ao futuro
econômico e o emprego no país. Assim a indústria se confirma como
tomadora de decisões sem assumir riscos e responsabilidades, enquanto a
política perde seu contorno, restando-lhe apenas o papel de chancelar as
decisões por ela não concebida. Diante disto, a sociedade industrial constitui
regras e instituições em reposta a implicações inesperadas dos riscos por ela
causados na sociedade de risco, antes calculado na sociedade industrial.
É neste espaço que argumenta a instituição de um amplo debate sobre
decisões, agendas científicas, implementação de novas tecnologias, assim
como um a construção de um marco jurídico e institucional a fim de uma
legitimação democrática.
Por fim Beck propõe a criação de novos parâmetros para medir as
responsabilidades sociais da produção de riscos, além de cobrar a justificação
pública de agentes da sociedade industrial. Entretanto, essa questão torna-
se complexa na medida em que múltiplos sujeitos envolvidos e a casualidade,
muitas vezes não é linear.
Os riscos se tornaram globais, atravessam gerações, ultrapassam
fronteiras e afetam a todos, independentemente da classe social. Desta
forma, alguns riscos tais como os de origem social, política, científica ou
econômica, interferem no rumo das sociedades gerando, por vezes,
consequências indesejadas.
Entretanto, apesar dos riscos globais serem compartilhados, o capital
de conhecimento também perpassa pela aprendizagem das múltiplas
situações de risco numa dinâmica de construção de conhecimento cumulativo
que pode ser fortemente ligado ao desenvolvimento de estratégias de
combate aos riscos.
Neste cenário, os riscos podem tornar-se imperceptíveis aos leigos e
apenas o conhecimento científico especializado poderia ser capaz de
percebê-los, tornando-se desta forma uma ameaça à autonomia do leigo
para avaliar esses riscos. Neste sentido, a função da ciência na vida pública
18
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
e na política altera-se expressivamente, influenciando a sociedade através
das suas vozes e dando origem a novas forças políticas.
Nesta escalada de produção de riscos, os próprios cientistas que
deveriam determinar o nível de risco das novas tecnologias e sistemas
técnicos, assumem uma posição privilegiada à medida em que são chamados
a desmistificar conhecimento para a linguagem do diálogo político e das
decisões perante a opinião pública.
Entretanto, os especialistas podem desconhecer, omitir ou deturpar as
informações, caso se encontrem politicamente comprometidos. Nesta
perspectiva eles podem privar a população das reais finalidades, meios,
ameaças e implicações de um determinado risco, impossibilitando a busca
por uma solução adequada, abrindo caminhos para a construção de regimes
políticos autoritários ou até mesmo totalitários que poderão projetar um
cenário de situações futuras catastróficas e impor leis de segurança, assim
como instrumentos de vigilância e controle.
Por outro lado, o progresso da ciência, das novas tecnologia e da
indústria aliados a interesses políticos e econômicos, de modo sutil e
imperceptível, transforma a sociedade e o planeta em um imenso laboratório
onde se fazem experimentos de efeitos desconhecidos, imprevisíveis,
incalculáveis e isentos de responsabilidades.
Para Krohling (2011, p.127):
A prioridade é o cultivo da consciência moral do ser humano que deve
colocar a ética da responsabilidade em todos os seus atos. Como ser
racional e social ele é um ser alteral e depende dos outros. Isto pede
uma conduta de precaução, prudência, de responsabilidade fática, já
que o homem é o criador e ator principal das inovações da tecnologia.
Essa ênfase na ética da responsabilidade sugere a necessidade de uma
avaliação crítica contínua do desenvolvimento tecnológico. Não basta
avançar na criação de novas tecnologias; é crucial considerar as
consequências éticas desses avanços. Tal abordagem exige uma reflexão
19
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
profunda sobre o papel da tecnologia na sociedade e o estabelecimento de
mecanismos de governança e responsabilidade que garantam que os
avanços tecnológicos sejam utilizados de maneira que beneficie a
humanidade e preserve o equilíbrio com os valores humanos fundamentais
e o bem-estar coletivo.
4. A Sociedade de Risco
Na teoria da "sociedade de risco" desenvolvida por Ulrich Beck, é
enfatizada a noção de que o advento de novas tecnologias e ferramentas
para o desenvolvimento da sociedade industrial acarreta a emergência de
riscos mais graves e complexos. Esta abordagem teórica se fundamenta na
importância de entender e caracterizar o fenômeno do risco.
Ele introduziu o conceito de sociedade de risco no contexto das
transformações significativas trazidas pela modernização avançada. No
cerne dessa teoria está a ideia de que vivemos em uma era definida não
apenas pelas oportunidades e benefícios trazidos pelo progresso tecnológico,
mas também pelos riscos e perigos que essas mesmas tecnologias geram.
Este conceito torna-se particularmente relevante ao considerarmos o
impacto disruptivo e as incertezas associadas à inteligência artificial (IA).
A ascensão da IA representa uma revolução tecnológica, redefinindo
os contornos da sociedade, economia e interações humanas. A IA, com sua
capacidade de aprender, adaptar-se e executar determinadas tarefas com
eficiência, traz consigo um conjunto complexo de desafios e oportunidades.
À luz da teoria de Beck, o debate sobre a inteligência artificial se revela como
uma necessidade intrínseca de avaliar cuidadosamente os riscos associados.
Isso ressalta a importância de considerar diversos aspectos interconectados
ao discutir a confiabilidade e a segurança do futuro da inteligência artificial
na sociedade.
20
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
O equilíbrio entre a Inteligência Artificial, e a essência ética humana,
que se concentra na distinção entre o certo e o errado, representa um desafio
significativo na era moderna. Este desafio se torna ainda mais complexo
quando se trata de tomar decisões morais difíceis que transcendem
ideologias e estão enraizadas em princípios éticos fundamentais.
Essa intersecção entre a tecnologia avançada e a ética moral levanta
questões cruciais: Como a IA pode ser alinhada aos valores humanos
essenciais? De que maneira as decisões automáticas podem refletir
considerações éticas profundas? A resposta a essas perguntas não é trivial e
requer uma reflexão contínua, evidenciando a importância de uma
abordagem multidisciplinar que integre tecnologia, filosofia, ética e política.
Neste sentido, é fundamental reconhecer a complexidade inerente à IA
e sua capacidade de influenciar significativamente as vidas humanas, já que
ela opera em um domínio que tradicionalmente era exclusivo da tomada de
decisões humanas. Isso levanta questões sobre a responsabilidade e a
accountability nas decisões tomadas por sistemas automatizados. Para
abordar essas questões, é necessário estabelecer um quadro de referência
ético claro que possa guiar o seu desenvolvimento e a sua aplicação. Este
quadro deve ser construído com base em um consenso amplo que leve em
conta os valores humanos universais, em vez de ser moldado por ideologias
específicas.
A integração de princípios éticos no design e implementação de
sistemas de IA é necessário para garantir que a tecnologia opere dentro de
um contexto moralmente aceitável. Isso implica a adoção de diretrizes éticas
no desenvolvimento de algoritmos, garantindo que eles sejam transparentes,
justos e imparciais. A transparência é particularmente importante, pois
permite que os usuários e os reguladores compreendam como as decisões
são tomadas, o que é essencial para estabelecer confiança e responsabilizar
os desenvolvedores e usuários da tecnologia.
21
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
Além disso, o desenvolvimento de IA deve ser acompanhado por um
diálogo contínuo e interdisciplinar entre desenvolvedores de tecnologia,
especialistas em ética, legisladores e o público em geral, a fim de garantir
que as considerações éticas sejam integradas na IA de uma maneira que
reflita um amplo espectro de perspectivas e valores humanos. Tal abordagem
também ajuda a mitigar o risco de que a IA seja usada de maneira que
perpetue preconceitos existentes ou introduza novas formas de
discriminação.
Neste contexto, a governança e a regulação emergem como aspectos
fundamentais. A necessidade desses mecanismos deriva do potencial de
abuso associado à IA e do impacto significativo que essa tecnologia pode ter
sobre indivíduos e a sociedade. A regulamentação eficaz envolve a criação e
implementação de políticas, leis, diretrizes e normas que visam orientar e
controlar como a IA é desenvolvida, distribuída e utilizada, contra usos
abusivos da tecnologia, que podem incluir violações de privacidade,
discriminação algorítmica e decisões automatizadas com consequências
negativas para as pessoas.
Além disso, a regulamentação garante a responsabilização e a
transparência na utilização da IA, para que haja a possibilidade de tomada
de medidas corretivas em caso de falhas ou abusos, bem como para
estabelecer clareza sobre a responsabilidade legal e ética. Ao estabelecer
diretrizes claras, os desenvolvedores de IA podem compreender as
expectativas e os limites impostos pela sociedade, incentivando assim o
desenvolvimento de tecnologias que respeitam valores humanos
fundamentais e promovem o bem-estar social.
5. Considerações Finais
Na era moderna, a ascensão da inteligência artificial (IA) traz consigo
não apenas avanços tecnológicos, mas também uma série de riscos e
22
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
desafios éticos complexos. O desenvolvimento e a aplicação da IA têm o
potencial de impactar profundamente diversos aspectos da sociedade e da
vida humana. Diante desse cenário, a avaliação dos riscos associados à IA
torna-se um aspecto relevante, onde a ética emerge como um componente
fundamental na governança e implementação dessas tecnologias.
A interação entre IA e ética humana exige uma reflexão profunda sobre
a importância dos valores humanos universais, mesmo em meio a um
espectro de ideologias divergentes. A ênfase nos valores humanos comuns
pode ajudar a evitar as armadilhas de uma IA indeterminada ou de sistemas
nos quais os valores são unilateralmente impostos pelos desenvolvedores ou
pela própria tecnologia. Ao reconhecer que diferentes ideologias podem
compartilhar valores semelhantes, é possível desenvolver sistemas de IA que
sejam mais inclusivos e representativos das diversas perspectivas humanas.
A questão da responsabilidade é central no debate sobre a IA, já que
quando uma máquina toma uma decisão ética equivocada, a
responsabilidade por essa decisão permanece ambígua. A falta de clareza
sobre quem responde por essas decisões – seja o desenvolvedor, o usuário
ou o próprio sistema – levanta questões complexas sobre accountability e
justiça. Portanto, é imperativo que existam mecanismos claros de
responsabilidade e governança para assegurar que as decisões tomadas por
sistemas de IA sejam justas e transparentes.
Além disso, a dependência excessiva da IA pode levar à perda de
habilidades críticas de tomada de decisão e julgamento moral entre os seres
humanos. Entretanto, a coexistência harmoniosa e colaborativa entre
inteligência humana e artificial é um caminho com potencial de proporcionar
equilíbrio entre a eficiência e a capacidade analítica das máquinas e o
discernimento ético e emocional humano, para garantir que as decisões
tomadas sejam não apenas tecnicamente competentes, mas também
eticamente sólidas e socialmente responsáveis, onde a tecnologia amplifica
e enriquece a experiência humana, ao invés de subvertê-la.
23
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
Isso não apenas garantirá a segurança e a confiabilidade das decisões
tomadas pela IA, mas também assegurará que essas decisões sejam
alinhadas aos valores éticos fundamentais da dignidade e dos direitos
humanos.
24
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
Referências
BECK, Ulrich; FRANKLIN, Jane (ed.), The Politics of Risk Society (Cambridge:
Polity, 1998)
BECK, Ulrich. O que é globalização? Equívocos do globalismo: respostas à
globalização. São Paulo: Paz e Terra,1999.
FEENBERG, Andrew. O que é Filosofia da Tecnologia? 2003, 17 p.
HANS, Jonas, O homem como objeto da técnica segundo Hans Jonas: o
desafio da biotécnica / Problemata: R. Intern. Fil. Vol. 04. No. 02. (2013), p.
1338 ISSN 15169219. DOI:
http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v4i2.16966
HARARI, Yuval Noahi. Sapiens. Uma breve História da Humanidade. São
Paulo, L&PM Editores, 2015.
HEIDEGGER, M. A questão da técnica. - scientiæ zudia, São Paulo, v. 5, n.
3, p. 375-98, 2007
KROHLING, Aloísio. A ética da alteridade e da responsabilidade. Curitiba:
Juruá, 2011.
KUHN, Thomas. A função do dogma na investigação científica; organizador:
Eduardo Salles O. Barra; tradução: Jorge Dias de Deus. Curitiba: UFPR.
SCHLA, 2012
LIVEIRA, Jelson. (2013). O homem como objeto da técnica segundo Hans
Jonas: o desafio da biotécnica. Problemata. 4. 13-38.
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de direito ambiental. 4. Ed., atual. E ampl.
São Paulo: Saraiva, 2006
WEBER, J. F. Técnica, tecnologia e educação em Heidegger e Simondon:
Destruição do pensamento ou ampliação da experiência? X congresso
Nacional de Educação. Paraná: PUC. 2011.
25
Revista Contemporânea, v. 4, n. 2, 2024. ISSN 2447-0961
Você também pode gostar
- Manual de Matemática Do Professor - 8 ClasseDocumento80 páginasManual de Matemática Do Professor - 8 ClasseSony Cambolo100% (2)
- Impacto Da Pandemia Do Covid19Documento21 páginasImpacto Da Pandemia Do Covid19Gabriela Silva De AbreuAinda não há avaliações
- Atividade 4 (A4) DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALDocumento10 páginasAtividade 4 (A4) DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIALMabel.v2100% (1)
- Escobar, Arturo. Bem-Vindos À CyberiaDocumento46 páginasEscobar, Arturo. Bem-Vindos À CyberiasegataufrnAinda não há avaliações
- Trabalho de Área de Integração - Multiplicidade Dos Saberes À Ciência - DiogoDocumento5 páginasTrabalho de Área de Integração - Multiplicidade Dos Saberes À Ciência - DiogoJMSTavaresAinda não há avaliações
- Texto 17 O - FETICHE - DA - MERCADORIA-CIENCIA - O - CIENTISTA - COMO - MDocumento22 páginasTexto 17 O - FETICHE - DA - MERCADORIA-CIENCIA - O - CIENTISTA - COMO - Mjulia araujoAinda não há avaliações
- Título Do Trabalho: (Síntese Do Livro: Introdução Aos Estudos CTS (CiênciaDocumento6 páginasTítulo Do Trabalho: (Síntese Do Livro: Introdução Aos Estudos CTS (CiênciaDnaiel silvaAinda não há avaliações
- 2 Reflex OesDocumento6 páginas2 Reflex OesHorar DorushAinda não há avaliações
- Resumo:: The Ethical Dynamics of Machines in Artificial Intelligence and The New Role of The Philosophy ProfessorDocumento28 páginasResumo:: The Ethical Dynamics of Machines in Artificial Intelligence and The New Role of The Philosophy Professorkaue ribeiroAinda não há avaliações
- FilosofiaDocumento4 páginasFilosofiaJellyfishAinda não há avaliações
- A Tecnociência e A ÉticaDocumento14 páginasA Tecnociência e A ÉticaJorge CaetanoAinda não há avaliações
- ARTIGOJULIANALINHARESDocumento13 páginasARTIGOJULIANALINHARESJuliana LinharesAinda não há avaliações
- Unidade 4Documento30 páginasUnidade 4herb2103Ainda não há avaliações
- Mario AlencastroDocumento10 páginasMario AlencastroMorais SilvaAinda não há avaliações
- Unidade 4 - Material de EstudoDocumento31 páginasUnidade 4 - Material de EstudogabrielaAinda não há avaliações
- Classificação Das Tecnologias Baseada em Processos SustentáveisDocumento13 páginasClassificação Das Tecnologias Baseada em Processos SustentáveisSamanta Borges PereiraAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Pesquisa SocialDocumento4 páginasResenha Do Livro Pesquisa SocialEme NoronhaAinda não há avaliações
- Ciência e CidadaniaDocumento6 páginasCiência e Cidadaniaapi-37300740% (1)
- Conflitos Actuais Entre A Ética e As Ciências Experimentais 2023Documento32 páginasConflitos Actuais Entre A Ética e As Ciências Experimentais 2023Estevao Sapato Fundanga FoxterAinda não há avaliações
- Ciência e Ética - Bonini, PedroDocumento3 páginasCiência e Ética - Bonini, PedrowakandadoceuAinda não há avaliações
- Fs 000405Documento13 páginasFs 000405Ricardo RabeloAinda não há avaliações
- Paper Sociedade e Ciência0101Documento7 páginasPaper Sociedade e Ciência0101Leonardo Botelho EstrelaAinda não há avaliações
- Uma Análise de Pressupostos Teóricos Da Abordagem C-T-S (Ciência - TecnologiaDocumento23 páginasUma Análise de Pressupostos Teóricos Da Abordagem C-T-S (Ciência - TecnologiaGeorge E Nalva VelosoAinda não há avaliações
- Uma Discussão Sobre A Relação Fundante Da Ciência Com A Vida Concreta em "Frankenstein: Ou o Prometeu Moderno", de Mary Shelley.Documento19 páginasUma Discussão Sobre A Relação Fundante Da Ciência Com A Vida Concreta em "Frankenstein: Ou o Prometeu Moderno", de Mary Shelley.mdmrsamaralAinda não há avaliações
- Artigo 14Documento4 páginasArtigo 14Felipe PaivaAinda não há avaliações
- A Ciência e A ÉticaDocumento2 páginasA Ciência e A ÉticaBruna OlíviaAinda não há avaliações
- Apostila 1º Ano - Humanidades 2023Documento65 páginasApostila 1º Ano - Humanidades 2023Luciano TimóteoAinda não há avaliações
- Ciencia Juridica Pos ModernaDocumento18 páginasCiencia Juridica Pos ModernaAntonio Rodrigues Do NascimentoAinda não há avaliações
- Rudiane Ferrari WurfelDocumento9 páginasRudiane Ferrari WurfelPedro SerrãoAinda não há avaliações
- A Ética em Pesquisa Com Seres HumanosDocumento14 páginasA Ética em Pesquisa Com Seres HumanosSimon AdelinoAinda não há avaliações
- Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTSDocumento21 páginasCiência, Tecnologia e Sociedade - CTSmat.moura1499Ainda não há avaliações
- Metodologia Científica - Capítulo 1Documento25 páginasMetodologia Científica - Capítulo 1Gustavo MoraesAinda não há avaliações
- Allene Carvalho LageDocumento19 páginasAllene Carvalho LageAlejo FernándezAinda não há avaliações
- Ciencia Aberta - Questoes Abertas - PORTUGUES - DIGITAL PDFDocumento315 páginasCiencia Aberta - Questoes Abertas - PORTUGUES - DIGITAL PDFmarianabibAinda não há avaliações
- Bazzo Cap 3Documento32 páginasBazzo Cap 3LucMorAinda não há avaliações
- Marcuse Responsabilidade CienciaDocumento6 páginasMarcuse Responsabilidade CienciaDaniele FéboleAinda não há avaliações
- Estudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento7 páginasEstudos de Ciência, Tecnologia e Sociedade - Wikipédia, A Enciclopédia LivreTingoAinda não há avaliações
- 4º Aula de Filosofia 1º,2º,3º AnoDocumento8 páginas4º Aula de Filosofia 1º,2º,3º AnoAdriana. CordeiroAinda não há avaliações
- STC 7 ReferencialDocumento1 páginaSTC 7 Referencialhjacinto0% (1)
- Branquinho, Lacerda - 2017 - A Contribuição Da Tar As Pesquisas em EducaçãoDocumento18 páginasBranquinho, Lacerda - 2017 - A Contribuição Da Tar As Pesquisas em EducaçãoLucas BarbosaAinda não há avaliações
- Resumo Convite À Filosofia - Marilena ChauíDocumento5 páginasResumo Convite À Filosofia - Marilena Chauípjrezende0% (1)
- Cap 3 - Natureza Técnica QuimicaDocumento24 páginasCap 3 - Natureza Técnica QuimicaLuís Resende de AssisAinda não há avaliações
- Tarefa 1 Perspectivas Filosóficas Da Ciência CesarDocumento15 páginasTarefa 1 Perspectivas Filosóficas Da Ciência CesarScribdTranslationsAinda não há avaliações
- Avaliação 2Documento4 páginasAvaliação 2playrjAinda não há avaliações
- Educação, Tecnologias e Cultura DigitalDocumento33 páginasEducação, Tecnologias e Cultura DigitalcleziamarioAinda não há avaliações
- Resumo CTSDocumento3 páginasResumo CTSguilherme_l.s8423Ainda não há avaliações
- Metodologia Científica Unidade 1 PDFDocumento25 páginasMetodologia Científica Unidade 1 PDFbrunayumeAinda não há avaliações
- A Tecnociencia e A EticaDocumento20 páginasA Tecnociencia e A EticaCarolina CostaAinda não há avaliações
- Los Derechos Humanos Entre La Bioética y La Genética (Salvador D. Bergel, 2002)Documento17 páginasLos Derechos Humanos Entre La Bioética y La Genética (Salvador D. Bergel, 2002)Bernardo J. ToroAinda não há avaliações
- Reflexão UFCD STC 7 Sociedade, Tecnologia e CiênciaDocumento3 páginasReflexão UFCD STC 7 Sociedade, Tecnologia e CiênciafjvasquespAinda não há avaliações
- CABRAL TecnologiaDocumento10 páginasCABRAL TecnologiaJuliana JenifferAinda não há avaliações
- (Filosofia Da Ciência 3P AB1) Relatório de SemináriosDocumento5 páginas(Filosofia Da Ciência 3P AB1) Relatório de Semináriosmariabeatriz.estudossAinda não há avaliações
- A Responsabilidade Da CiênciaDocumento3 páginasA Responsabilidade Da CiêncianatanmonsoresAinda não há avaliações
- Artigo TecnologiaDocumento12 páginasArtigo TecnologiaDiéssica AlvesAinda não há avaliações
- Tese V - 29.11 - Cap 3 Metodologia Da Pesquisa OkDocumento49 páginasTese V - 29.11 - Cap 3 Metodologia Da Pesquisa OkCora Catalina QuinterosAinda não há avaliações
- Introdução A Psicologia Hombrista e Fenomenológica ExistencialDocumento45 páginasIntrodução A Psicologia Hombrista e Fenomenológica ExistencialCaio NascimentoAinda não há avaliações
- CIÊNCIA E TECNOLOGIA - Transformando A Relação Do Ser Humano Com o Mundo PDFDocumento13 páginasCIÊNCIA E TECNOLOGIA - Transformando A Relação Do Ser Humano Com o Mundo PDFCleber Benedetti0% (1)
- Artigos 15Documento12 páginasArtigos 15MARCELO SANTOS AMARALAinda não há avaliações
- Nanotecnologia, sociedade e meio ambiente: Debates na fronteira do conhecimentoNo EverandNanotecnologia, sociedade e meio ambiente: Debates na fronteira do conhecimentoAinda não há avaliações
- A Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisNo EverandA Legitimidade das Ciências da Educação: A Investigação Científica e o Pensamento Humanitário nas Mudanças Educativas e SociaisAinda não há avaliações
- Ciências sociais e humanidades e a interdisciplinaridadeNo EverandCiências sociais e humanidades e a interdisciplinaridadeAinda não há avaliações
- Desigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasNo EverandDesigualdade, Diferença, Política: Análises Interdisciplinares em Tempos de PandemiasAinda não há avaliações
- Perspectivas Da Competência em Informação Na Relação Entre o Arquivo e o CidadãoDocumento15 páginasPerspectivas Da Competência em Informação Na Relação Entre o Arquivo e o Cidadãore23brAinda não há avaliações
- EXPERIeNCIAS NO DO COTIDIANO ESCOLAR - Construção IdentitariaDocumento10 páginasEXPERIeNCIAS NO DO COTIDIANO ESCOLAR - Construção IdentitariaTeatro do IrruptoAinda não há avaliações
- CADERNO TEMATICO Psicologia e Povos Do CerradoDocumento86 páginasCADERNO TEMATICO Psicologia e Povos Do CerradoMarta Helena FreitasAinda não há avaliações
- Autoestima, Sem Medidas!Documento7 páginasAutoestima, Sem Medidas!Simone PereiraAinda não há avaliações
- Projeto Jovem Protagonista 2022 PDFDocumento6 páginasProjeto Jovem Protagonista 2022 PDFONG AMORAinda não há avaliações
- Análise FuncionalDocumento16 páginasAnálise FuncionalKecia MariaAinda não há avaliações
- 17.SIMULADO 100 QUESTÕES DIDÁTICA Com Gabarito - Passei DiretoDocumento10 páginas17.SIMULADO 100 QUESTÕES DIDÁTICA Com Gabarito - Passei DiretoAline Duarte100% (1)
- Alinhamento EstratégicoDocumento56 páginasAlinhamento EstratégicoPaulo henrique martins milanez vieiraAinda não há avaliações
- 02 - CONFEA - Decisão Plenária 0293 de 2003 - Atribuições para o PMOCDocumento1 página02 - CONFEA - Decisão Plenária 0293 de 2003 - Atribuições para o PMOCNelson Antonio De Souza MendesAinda não há avaliações
- CP - ResumosDocumento66 páginasCP - Resumosrita gonçalvesAinda não há avaliações
- Registro VB MapDocumento8 páginasRegistro VB Mappaula boniAinda não há avaliações
- Intensivão Aula 3 - MASP-A - Juliana FarahDocumento35 páginasIntensivão Aula 3 - MASP-A - Juliana FarahFrancisco Savio Mauricio AraujoAinda não há avaliações
- Destaques para Antropologia Do Tempo - Alfred Gell (Kindle)Documento15 páginasDestaques para Antropologia Do Tempo - Alfred Gell (Kindle)Amanda CostaAinda não há avaliações
- Fome e PobrezaDocumento19 páginasFome e Pobrezanairo guambaAinda não há avaliações
- Licao I Introdução A Pratica Pedagógica de QuímicaDocumento4 páginasLicao I Introdução A Pratica Pedagógica de QuímicaNell's BalateAinda não há avaliações
- Plano de Aula - Transferência de Matéria e EnergiaDocumento2 páginasPlano de Aula - Transferência de Matéria e EnergiaTamires CordeiroAinda não há avaliações
- Vamos Ao Cinema Aprender QuímicaDocumento1 páginaVamos Ao Cinema Aprender QuímicakakayolimaAinda não há avaliações
- Preparo Chamado TransculturalDocumento10 páginasPreparo Chamado TransculturalEscola Primária QuerramuahaAinda não há avaliações
- Projeto 1Documento2 páginasProjeto 1Professor Junior SantosAinda não há avaliações
- Teoria Da ContingenciaDocumento5 páginasTeoria Da ContingenciaVagner RaelAinda não há avaliações
- Resenha Psicologia Da SaúdeDocumento7 páginasResenha Psicologia Da SaúdeMatheus Henrique AndradeAinda não há avaliações
- Trabalho de Deontologia ProfissionalDocumento12 páginasTrabalho de Deontologia ProfissionalHafezer RassulAinda não há avaliações
- 5 - Liderança em Saúde - EnfermagemDocumento43 páginas5 - Liderança em Saúde - EnfermagemMarcelo MouraAinda não há avaliações
- Acesso À Justiça No BrasilDocumento28 páginasAcesso À Justiça No BrasilEdivaldo ABAinda não há avaliações
- 2019 - Síndrome de Guillain-Barré Avaliações, Reabilitações e Principais Impactos No Desempenho Ocupacional de Indivíduos AcometidosDocumento34 páginas2019 - Síndrome de Guillain-Barré Avaliações, Reabilitações e Principais Impactos No Desempenho Ocupacional de Indivíduos AcometidosGisele DiasAinda não há avaliações
- Exercà Cios de Fixaà à o Psico AplicadaDocumento7 páginasExercà Cios de Fixaà à o Psico AplicadaAbner CamposAinda não há avaliações
- Cap 04 PDFDocumento20 páginasCap 04 PDFCarlos M WitiukAinda não há avaliações