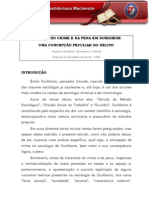Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alteridade, Direito Positivo e Direitos Da Personalidade Caminhos e Desafios Ético-Legislativos (In) Superáveis
Alteridade, Direito Positivo e Direitos Da Personalidade Caminhos e Desafios Ético-Legislativos (In) Superáveis
Enviado por
waldyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alteridade, Direito Positivo e Direitos Da Personalidade Caminhos e Desafios Ético-Legislativos (In) Superáveis
Alteridade, Direito Positivo e Direitos Da Personalidade Caminhos e Desafios Ético-Legislativos (In) Superáveis
Enviado por
waldyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
3
77
Alteridade, direito positivo e direitos
da personalidade: caminhos e desafios
ético-legislativos (in)superáveis
RODRIGO VALENTE GIUBLIN TEIXEIRA
Doutor em Direito das Relações Sociais (PUC-SP). Mestre em Direito
Negocial (UEL). Professor da UNICESUMAR.
WALTER LUCAS IKEDA
Doutor em Direito e Mestre em Ciências Jurídicas (UNICESUMAR).
Artigo recebido em 11/11/2023 e aprovado em 26/2/2024.
SUMÁRIO: 1 Introdução • 2 A ética da alteridade de Emmanuel Lévinas • 3 As bases
principiológicas do Código Civil e os direitos da personalidade • 4 Positivismo jurídico e sua
análise estrutural • 5 Conclusão • 6 Referências.
RESUMO: As crises éticas contemporâneas se apoiam numa razão individualista e
egoísta, que representa a história da civilização ocidental, exigindo novas propostas
éticas e jurídicas, como a filosofia de Emmanuel Lévinas. Assim, o problema que
orienta esta pesquisa é: há possibilidade de incorporar a alteridade levinasiana
como um direito da personalidade? O objetivo geral é investigar a estrutura
da norma jurídica e da alteridade, visando a sua incorporação como um direito da
personalidade, em específicos: analisar a estrutura da conceituação da alteridade
de Emmanuel Lévinas, as bases principiológicas do Código Civil e dos direitos
da personalidade, e investigar a estrutura do direito positivo. Para tal, será utilizado
o método hipotético-dedutivo para os testes normativos, que serão influenciados
pela metafenomenologia levinasiana, na medida em que se propõe método de
valores. Serão empregadas fontes essencialmente bibliográficas. Ao final, verifica-se
a impossibilidade de incorporação da alteridade como exigência no direito positivo.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos da personalidade • Alteridade • Teoria geral
• Positivismo jurídico • Direito e ética.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
78 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
Alterity, positive law and personality rights: paths and (in)surmountable
ethical-legislative challenges
CONTENTS: 1 Introduction • 2 The ethics of alterity by Emmanuel Lévinas • 3 The principle
bases of the Civil Code and personality rights • 4 Legal positivism and its structural analysis
• 5 Conclusion • 6 References.
SUMMARY: Contemporary ethical crises are based on an individualistic and selfish
reason, which represents the history of Western civilization, demanding new ethical
and legal proposals, such as the philosophy of Emmanuel Lévinas. Thus, the problem
that guides this research is: is it possible to incorporate Levinasian alterity as a
personality right? The general objective is to investigate the structure of the legal
norm and alterity, aiming at its incorporation as a personality right, in specifics:
analyze the structure of Emmanuel Lévinas' conceptualization of alterity, the
principle bases of the Civil Code and personality rights, and investigate the structure
of positive law. To this end, the hypothetical-deductive method will be used for
normative tests, which will be influenced by Levinasian metaphenomenology, as it
proposes a method of values. Essentially bibliographic sources will be used. In the
end, it appears that it is impossible to incorporate otherness as a requirement in
positive law.
KEYWORDS: Personality rights • Alterity • General theory • Legal positivism • Law
and ethics.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 79
Alteridad, derecho positivo y derechos de la personalidad: caminos y desafíos
ético-legislativos (in)superables
CONTENIDOS: 1 Introducción • 2 La ética de la alteridad por Emmanuel Lévinas • 3 Las bases de
principios del Código Civil y los derechos de la personalidad • 4 El positivismo jurídico y su análisis
estructural • 5 Conclusión • 6 Referencias.
RESUMEN: Las crisis éticas contemporáneas se basan en una razón individualista
y egoísta, que representa la historia de la civilización occidental, exigiendo
nuevas propuestas éticas y jurídicas, como la filosofía de Emmanuel Lévinas. Así,
el problema que orienta esta investigación es: ¿es posible incorporar la alteridad
levinasiana como derecho de personalidad? El objetivo general es investigar la
estructura de la norma jurídica y la alteridad, intentando su incorporación como
derecho de la personalidad, se analizarán concretamente: la estructura de la
conceptualización de la alteridad de Emmanuel Lévinas, las bases principales del
Código Civil y de los derechos de la personalidad, y se investigará la estructura
del derecho positivo. Para ello se utilizará el método hipotético-deductivo para las
pruebas normativas, las cuales estarán influenciadas por la metafenomenología
levinasiana, ya que propone un método de valores. Se utilizarán fuentes
esencialmente bibliográficas. Al final, se resaltará la imposibilidad de incorporar
la alteridad como requisito en el derecho positivo.
PALABRAS CLAVE: Derechos de la personalidad • Alteridad • Teoría general
• Positivismo jurídico • Derecho y ética.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
80 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
1 Introdução
A presente pesquisa promove um diálogo entre Teoria Geral do Direito e da
Filosofia, cujo ponto de encontro se dará na estrutura normativa do positivismo
jurídico. Isso porque, apesar da Teoria do Direito ser pura, o direito positivo não o
é. Dessa forma, por exemplo, a criminalização do homicídio indica a incorporação
do valor vida e imputa uma sanção para aquele que violar tal disposição, neste
caso, com pena privativa de liberdade. De acordo com o positivismo jurídico,
representado especialmente por Hans Kelsen, o direito pode incorporar quaisquer
valores e condutas.
Como dito, o direito ostenta uma teoria pura na sua estrutura, podendo
incorporar quaisquer valores, ou seja, o direito positivo não tem estruturalmente
valores pré-determinados, já que ostenta uma justiça relativa, isto é, o direito é
apto a mudar conforme o tempo e o espaço. Com a passagem do tempo e dos
eventos históricos da civilização ocidental, destacadamente a Segunda Guerra
Mundial, os Estados foram mobilizados a incorporarem a dignidade da pessoa
humana e valores éticos como fundamento de sua ordem jurídica.
Esse movimento de incorporação de valores pelo Direito esbarra filosoficamente
na tradição da civilização ocidental, que tem a ontologia como filosofia primeira,
ou seja, contexto em que o mundo é conhecido à medida do Eu. Todavia, nesta
perspectiva, o Outro é reduzido ao mesmo, ou seja, sua singularidade é classificada
na medida reconhecida pelo Eu.
Há dois problemas éticos centrais nessa perspectiva. O primeiro é que o Eu se
limita em si, tendo em vista que vive em uma realidade do tamanho de si mesmo,
fechando-se à pluralidade e às infinitas singularidades que o Outro ostenta, pois é
justamente o Outro que pode mostrar ao Eu seus limites, possibilitando-o melhor
se conhecer. O segundo é que o Outro é deixado à margem dos cuidados do Eu,
que se preocupa apenas com o Nós, que são constituídos por outros Eus, ou seja,
aquele outro que não é reconhecido pelo Eu recebe sua indiferença. Tal tradição é
fortemente criticada pelo filósofo Emmanuel Lévinas, que desenvolve uma proposta
de ruptura com a predita tradição, cujo conceito central é a alteridade, a qual coloca
a ética, não mais a ontologia, como filosofia primeira, tornando o Outro a fonte
inicial de valores.
Nesse sentido, nesta pesquisa, será indagada a possibilidade de uma proposta
ética radical, como a de Emmanuel Lévinas ser incorporada ao direito positivo
brasileiro como um direito da personalidade; dito de outro modo, o problema de
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 81
pesquisa que orientará este trabalho é: há possibilidade de incorporar a alteridade
levinasiana, sob determinados aspectos, como um direito da personalidade?
Será preciso analisar a possibilidade da incorporação positiva ou normativa
da noção de alteridade levinasiana no direito positivo, considerando a
incompatibilidade de suas estruturas, na medida em que o Direito é uma ordem
social coativa e é aplicado por formas imputadas de recompensas ou sanções,
enquanto a alteridade se estrutura a partir de uma responsabilidade infinita,
sem forma, e de uma gratuidade. Aspectos estruturais que serão detalhados nas
respectivas seções de desenvolvimento.
O objetivo geral da pesquisa é investigar a estrutura da norma jurídica e da noção
de alteridade, visando a incorporação da última como um direito da personalidade.
Para atingir o objetivo geral, será preciso fragmentar em específicos que espelham
as seções de desenvolvimento do trabalho, a saber: (a) análise da estrutura da
alteridade de Emmanuel Lévinas; (b) análise das bases principiológicas do Código
Civil e dos direitos da personalidade; e (c) o examine da estrutura do direito positivo.
A metodologia utilizada será hipotético-dedutiva, já que visa testar uma
indagação inicial ao longo do texto. Além disso, a indicada metodologia é
influenciada pela metafenomenologia levinasiana, uma vez que a proposta do
filósofo judeu parte do pressuposto de um reino de valores metafísicos, inacessíveis
pela mera fenomenologia.
Nestes termos, diversos conceitos filosóficos serão ressignificados, o que se
torna necessário para uma proposta de ética radical que vá de encontro à tradição
ocidental. Dessa forma, a fenomenologia se abrirá aos valores metafísicos,
especialmente de um tempo diacrônico em que o Eu ainda não é formado no
mundo aí (Dasein).
Adicionalmente, serão empregadas fontes essencialmente bibliográficas.
O referencial teórico jurídico utilizado é o de Hans Kelsen, bem como da literatura
jurídica do positivismo jurídico e dos direitos da personalidade. O referencial
teórico filosófico utilizado é o de Emmanuel Lévinas, sem prejuízo de obras críticas
de sua filosofia.
Quanto à forma, o trabalho será dividido em três seções de desenvolvimento: a
primeira, intitulada A ética da alteridade de Emmanuel Lévinas, que analisará a estrutura
da alteridade de Emmanuel Lévinas; a segunda, intitulada As bases principiológicas
do Código Civil e os direitos da personalidade, examinará a estrutura do direito positivo
e dos direitos da personalidade; e a derradeira, intitulada Positivismo jurídico e
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
82 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
sua análise estrutural terá por escopo explorar os limites legislativos positivos da
incorporação da alteridade como um direito da personalidade.
2 A ética da alteridade de Emmanuel Lévinas
Pode-se afirmar que há uma crise ética contemporânea que decorre da tradição
ocidental, destacando-se a forma de ciclos sacrificiais. Bittar (2008) pondera que
as bases da civilização ocidental constituiriam tal ciclo, em que os medievais
acreditavam em Deus, sacralizavam rituais de vida em seu nome, bem como
cometiam barbaridades pelo mesmo Deus.
Os modernos seguiram essa forma social, substituindo a devoção de Deus
pelo progresso. Ambos afiançam um futuro prometido que justifica as diversas
barbaridades cometidas, ainda que sejam contraditórias com o próprio futuro
prometido. A razão da civilização ocidental contemporânea é instrumentalizada e
se converte na inoperância de uma razão que tolera o convívio com a degradação
humana, com a violência e com a fome.
Ainda, o projeto da civilização ocidental e suas promessas “haveriam,
paradoxalmente, de conduzir a Auschwitz, que pode ser considerado o trauma do
século XX, quando os ideais da Aufklärung do século XVIII foram transformados em
aparato para a realização de Tánatos” (Bittar, 2008, p. 138-139).
De acordo com Hinkelammert (1995), a civilização ocidental é marcada por
três grandes sacrifícios. O primeiro é o de Ifigênia, filha do rei Agamemnao, à
Deusa Minerva, pois o Rei tinha o destino de conquistar Tróia e a mata, mas não
se considera assassino, porém afirma que a sacrificou. Ifigênia consentiu em ser
sacrificada. Dessa forma, é necessário assassinar Tróia para não ser assassino. Caso
não assassine, o sacrifício de Ifigênia não teria sentido e Agamemnao não passaria
de mero assassino. A guerra se torna, assim, um problema existencial da própria
cultura e dos gregos. O mundo dos gregos perderia sentido sem a conquista de
Tróia, pois o sacrifício de Ifigênia é o centro da guerra de conquista, de forma que a
vitória confirma a existência do Olimpo grego, a derrota transforma o sacrifício em
assassinato sem sentido (Hinkelammert, 1995, p. 10).
Já o segundo sacrifício, o de Cristo no horizonte da Idade Média, guarda situação
semelhante ao do primeiro sacrifício exposto. Se Deus Pai é colocado no lugar do
rei grego e Cristo no lugar de Ifigênia, o Pai precisa do sacrifício do filho para salvar
ou reconciliar-se com a humanidade. É salvação da humanidade da violação das
leis de Deus e que exige sacrifício à altura, sendo seu filho o cordeiro sacrificial.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 83
Como o sacrifício de Cristo seria de valor infinito, nenhum outro sacrifício deveria
ser exigido. Todavia, a humanidade utiliza o sacrifício de Cristo para punir os que
continuam fazendo sacrifícios, sujeitando-os a sacrifícios finitos que substituem o
sacrifício infinito.
Inicialmente, o Império perseguiu os cristãos, depois incorporou a religião como
ideologia imperial que legitimou o próprio Império. Assim, passou a lutar contra
todos que se oponham à sua ideologia e ao seu poder, pois seus inimigos seriam
os crucificadores de Cristo. Na Idade Média, os sacrifícios humanos eram realizados
para não serem feitos mais sacrifícios humanos. Matava-se para não permitir mais
sacrifícios, mesmo que as fogueiras se elevassem à frente de catedrais sob o canto
de Te Deum. Mesmo com tais rituais na Idade Média as pessoas não questionavam
se estavam fazendo sacrifícios humanos, assim como no Império Romano
(Hinkelammert, 1995, p. 18-21). O Império cristão na Idade Média se expandiu com
a crucifixão de crucificadores (cruzadas).
A partir do século XVI, a lógica tomou a forma burguesa que vive e interpreta
Deus como a lei do mercado, e o mercado como uma lei natural, já que assumiu
a bandeira de Cristo secularizada. No lugar de Lúcifer, apareceu o caos e é a lei
do mercado, uma lei natural, que luta contra este caos. Torna-se déspota quem
vai contra as leis do mercado, um crucificador que precisa ser sacrificado para
não sacrificar mais. Nenhuma liberdade para os que são contra a liberdade. Esta
percepção é destacada na seguinte passagem de John Locke (2005):
Otorga la naturaleza a los progenitores el primero de esos tres poderes, o sea el
paterno, para beneficio de sus hijos menores, para compensar su falta de sazón
e inteligencia en el manejo de su propiedad (entiendo aquí por propiedad, como
en otros lugares, aquella de que los hombres disfrutan sobre sus personas lo
mismo que sobre sus bienes). El voluntario acuerdo confiere el segundo, esto
es, el poder político, a los gobernantes, para el beneficio de sus súbditos, y
aseguramiento de ellos en la posesión y uso de sus propiedades. Y la pérdida de
derecho, por incumplimiento, procura el tercero: el poder despótico dado a los
señores para su propio beneficio sobre quienes se hallaren de toda propiedad
despojados. (Locke, 2005, §173).
O despotismo, que é o sacrifício aos que sacrificam por meio do desejo
do despotismo à sociedade burguesa, significa tudo o que não é submetido às
leis do mercado e à política do mercado. No contexto de John Locke, à exceção
da Inglaterra, quase todos os países eram despóticos. É a lei do mercado que
alcança o progresso e a superação do despotismo. A secularização do sacrifício
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
84 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
de Cristo da Idade Média ocorreu por meio da lei de mercado. Dessa forma, a lei
do mercado da sociedade burguesa, uma sociedade sem sacrifícios, emergiu como
nova forma de sacrifício dos que se opunham à referida lei, visando à legitimação
da sociedade burguesa e o progresso como meio de superação do despotismo.
O círculo sacrificial da forma burguesa operou com o sacrifício de todos os
despotismos da história, como a própria negação das sociedades burguesas, sendo
o sacrifício não cometido pela própria sociedade burguesa, mas pelos que optaram
pelo despotismo (Hinkelammert, 1995, p. 33-34). Consequentemente, hoje, se a
sociedade burguesa efetua uma crítica de violações dos direitos humanos, ela o
faz sempre contra estes pretensos despotismos, comprovando que suas próprias
violações dos direitos humanos são necessárias como consequência de sua luta
contra as violações de per si cometidas pelos outros.
Desde essa perspectiva, as violações burguesas dos direitos humanos perdem
toda a importância e a sociedade burguesa chega a ser urna sociedade sem nenhuma
consciência moral perante as próprias violações desses direitos.
Bauman (1997, p. 17-18) já havia antevisto que a condição para a implementação
de um impulso moral depende que o agente moral se esforce seriamente até
o limite. O Eu moral move-se, sente e age pela incerteza, uma ambivalência, de
que nenhuma escolha traz a completa satisfação, sendo que a responsabilidade que
guia a pessoa está sempre adiante do que foi e do que pode ser feito. Expõe a
impossibilidade de uma universalização da moral, ou seja, de uma padronização
global de conduta. Bauman (1997, p. 282) desenvolve uma proposta ética que critica
a razão contemporânea e a noção de tempo anexado à ética, no sentido de que:
Os temas morais não podem ser resolvidos, nem a vida moral da
humanidade garantida, pelos esforços calculadores e legisladores da razão.
A moralidade não está segura nas mãos da razão, ainda que seja isso o que
prometem os porta-vozes da razão. A razão não pode ajudar o eu moral sem
privar o eu do que faz o eu moral: o impulso não-fundado, não-racional,
não-argumentável, não-dado a escusas e não-calculável, de se estender
para o outro, de cuidar, de se por, de viver por, aconteça o que acontecer. A
razão versa sobre tomar decisões corretas, ao passo que a responsabilidade
moral precede a todo pensar sobre decisões porque ela não cuida, nem
pode cuidar, de qualquer lógica que permitisse a aprovação de uma ação
como correta. Sendo assim, a moralidade só pode ser racionalizada à custa
de sua autonegação ou auto-abrasão. Daquela autonegação ajudada pela
razão, o Eu emerge moralmente desamparado, incapaz (e não desejoso)
de enfrentar a multidão de desafios e cacofonias morais das prescrições
éticas. No extremo da longa marcha da razão, está à espera o niilismo: o
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 85
niilismo moral que em sua mais profunda essência significa não a negação
do código ético vinculante, nem as asneiras da teoria relativista, mas a falta
de capacidade de ser moral. (Bauman, 1997, p. 282).
As premissas expostas pelos pensadores estão alinhadas com a proposta
ética de Emmanuel Lévinas (1980). Como verificado com os pensadores preditos,
quando se vale da razão, o campo ético da alteridade já se passou, ou seja, o
campo ético deve preceder ao da razão da tradição ocidental. É preciso romper
com a ética contemporânea de que o ser ético e sensível é apenas uma questão
estética, pois a base ética contemporânea é a de “individualismo não-adulterado e
de busca de boa vida, limitada só pela exigência de tolerância (quando casada com
o individualismo autocelebrativo e o livre de escrúpulos, a tolerância só se pode
expressar como indiferença)” (Lévinas, 1997, p. 7).
Emmanuel Lévinas1 (1980; 2011) desenvolveu uma proposta ética radical, que
vai de encontro com a tradição ocidental. O filósofo postulou por uma ética em
que o Outro viesse em primeiro lugar, antes do Eu e de interesses egoístas. Nesta
perspectiva, a única justiça ética é aquela que não admite qualquer indiferença com o
sofrimento e ao chamado do Outro (Souza, 2001, p. 272). Também se posicionou contra
a universalização da pessoa pela forma, defendendo a singularidade da pessoa, a sua
alteridade. O conceito central do seu pensamento é a alteridade, que tem contato
íntimo com uma perspectiva diversa de tempo, com responsabilidade e epistemologia.
Com o objetivo de expor o conceito de alteridade proposto, vale-se de um
exemplo hipotético. Em uma cidade com fortes chuvas, forma-se uma forte correnteza
na rua que todos começam a testemunhar, quando, de repente, em meio às águas,
aparece uma criança. Uma pessoa adulta, ao ver a criança, imediatamente salta ao
seu encontro para salvá-la. A criança não falou nada nem foi necessário, pois sua
vulnerabilidade já falou tudo. Aqueles à margem que racionalizaram e calcularam
se deveriam salvar a criança olharam-na passando, e, junta a ela, passava também
o tempo da ética. Se a pessoa adulta que salvou a criança tivesse pensado com as
lentes do ego de que poderia morrer, deixar esposa, filhos, etc., questionaria onde
está o pai da criança. Sempre há uma justificativa racional para o ego, que sempre
encontrará uma justificação racional com cálculos e discursos ponderados que
legitimarão o Eu. Essa pessoa que saltou às águas ouviu a palavra do rosto e não
resistiu à fraqueza da criança, abrindo-se para a alteridade, para o Outro.
1 Para uma análise da biografia e do contexto das obras do filósofo, indica-se o estudo de Susin (1984)
e Bezerra (2013).
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
86 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
Um ponto chave para compreensão do conceito de alteridade é o tempo. No
exemplo mencionado, o adulto saltou antes de calcular a ética. Esse interrégno
entre o cálculo e o fenômeno é o presente, ou seja, a alteridade ocorre no presente,
na medida temporal que antecede o pensar do cálculo que se insere na ontologia.
O tempo da ética ocorre no presente, num presente que antecede à sua percepção
racional, pois ao perceber racionalmente o presente, já é o tempo da ontologia.
Quando se raciocina e calcula o fenômeno, este já é passado. Nesse tempo que
ocorre a alteridade, abre-se um tempo outro ao tempo histórico, o tempo diacrônico.
É nesse tempo diacrônico que a alteridade deve ser compreendida inicialmente.
O procedimento para se ter acesso ao tempo diacrônico decorre do encontro
com o rosto do Outro. É o Outro que aparece ao Eu, não este que busca aquele. Ao
olhar a face do Outro, o Eu não consegue compreender integralmente o Outro, o
tema nunca é convertido integralmente em conteúdo, pois toda vez que olha para
a face do Outro seu tema extravasa a capacidade cognitiva. Tal evento remete ao
conceito de infinito que o rosto do Outro produz. O rosto do Outro aparece quando
se vira à esquina, ou seja, quando menos se espera, tal como no exemplo da criança
avistada à forte chuva.
O Infinito expressa aquilo que não cabe na ideia, no inteligível. Para melhor
contextualização da ideia de infinito levinasiana (1980), que conversa com diversos
autores da tradição filosófica ocidental, retomam-se brevemente alguns contornos
da terceira meditação de Descartes (2000). No trecho, o filósofo pretende estabelecer
a existência de Deus como fiador do conhecimento ou elemento que sustenta a
distinção entre a alma e o corpo (pois a mente é substância pensante que controla o
corpo por meio da vontade). O método se vale da dúvida radical de questionar tudo,
até que somente pode constatar a sua existência como ser que pensa a dúvida, de
forma que a dúvida confirma a existência do ser pensante, sintetizando a passagem
como penso, logo existo. Todavia, se existe um ser pensante capaz de produzir dúvida,
este deve ter uma causa superior ao ser pensante imperfeito, logo, um ser que existe
perfeito e infinito: Deus.
A ideia de Deus, perfeito e infinito, não pode ser cunhada por um ser imperfeito
e finito, logo, a própria ideia de Deus tem causa externa, que é o próprio Deus
(Descartes, 2000). Por isso, Lévinas (1980, p. 14) parte da estrutura legada, mas dá
novos contornos, pontuando que:
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 87
A ideia do infinito não é uma noção que uma subjetividade forje casualmente
para refletir uma entidade que não encontra fora de si nada que a limite,
que ultrapassa todo o limite e, por isso, infinita. A produção da entidade
infinita não pode separar-se da ideia do infinito, porque é precisamente na
desproporção entre a ideia do infinito de que ela é ideia que se produz a
ultrapassagem dos limites. A ideia do infinito é o modo de ser – a infinição
do infinito. (Levinas, 1980, p. 14).
A ideia do infinito remete a um tempo imemorial diacrônico. O infinito é imediato
e anterior, de modo que o presente é tempo que ainda não se tornou presente, assim,
anterior à própria constituição intelectual da realidade. A anterioridade da ética não
remete à ordem cronológica, mas ao diacrônico, entendido como a realidade diversa,
cujo modo é anterior à constituição da realidade. É nesse campo de um tempo
imediato e anterior que a responsabilidade pelo Outro emerge no sentido forte,
ou seja, responsabilidade infinita. É o rosto do Outro que abre e legitima o espaço
em que a ética é soberana a todos os demais saberes e à própria medida do ser. O
infinito aberto pelo rosto está para além de qualquer representação, pois há um
excesso do que a inteligibilidade pode alcançar: infinito. É nesta oportunidade que
os demais saberes são criticados pela sua arbitrariedade de toda a tradição filosófica
ocidental. A ética como filosofia primeira demanda que o saber seja construído sobre
suas balizas, não o contrário.
O cume deste modo de ser é a substituição, que não é um algo que se questiona
o que é, mas como um modo que produz a subjetividade. Logo, a subjetividade deixa
de ser uma questão de ser, não é possível encontrar uma entidade ou essência,
já que ela opera como acontecimento temporal a ser testemunhado. Deixa de ser
substantivo e se torna advérbio. Já que a subjetividade se desprende do campo da
ontologia, esta não pode mais ser totalizada como conceito. Sempre há um dizer
que não é dito, evidenciando a diacronia levinasiana que vincula o conceito com
a infinitude do tempo. A subjetividade é um outramente que ser do que ser para si
mesmo, focando-se mais na relação do que nos pontos desta relação.
A pessoa mundana se abre para a vulnerabilidade do Outro na medida em que a
sensibilidade lhe afeta. A vulnerabilidade abre o movimento do Eu ir em direção ao
Outro. A substituição promove o entregar do Eu para o Outro, permite que o Outro
usufrua no lugar do Eu, o que é possível pela colocação do Eu no lugar do Outro e
que por este responda. Não se trata meramente de dividir o pão, é entregar o pão
ao Outro, é reconhecer a precedência do Outro frente ao Eu (Levinas, 1980). Quando
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
88 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
o existente assume a responsabilidade pelo Outro, torna-se mais que um existente,
passa a ter uma existência, a qual transcende com a substituição, nesse sentido:
A substituição é o cume da responsabilidade na Subjetividade, é
simplesmente incluir o outro de tal forma em mim mesmo como se ele
viesse morar debaixo de minha pele e pode incluir o “tirar o pão da própria
boca” para dá-lo ao outro. E mais, a substituição pode implicar ter de
expiar até mesmo as faltas do outro e morrer em seu lugar. Nesse sentido,
a substituição é a elevação máxima possível ao homem, a sua santidade, a
configuração suprema da Subjetividade. (Bonamigo, 2016, p. 154).
A percepção levinasiana de mobilizar o pensamento por meio de conceitos
vinculados ao tempo infinito produz conceitos cujo entendimento está para
além das palavras. Está num tempo imediato, um tempo diacrônico, em que a
linguagem é testemunho do eis me aqui. A racionalidade deixa de ser soberana
para decidir o que é ou não é, passa a ser sustentação de discurso, sempre apto a
recomeçar. O pensamento vinculado não ao espaço, mas ao tempo, é movimento
que articula conceitos em permanente (re)construção. Há o desenvolvimento de
um modo de pensar diverso da racionalidade fundada na ontologia.
Nestes termos, a filosofia de Emmanuel Lévinas se mostra apta a romper com
o ciclo sacrificial da tradição ocidental, na medida em que propõe uma filosofia em
que a ética seja a filosofia primeira. Considerando o problema de pesquisa proposto,
passa-se à análise de como o Direito poderia incorporar a alteridade, a fim de
contribuir para a construção de uma sociedade fundada numa nova ética.
3 As bases principiológicas do Código Civil e os direitos da personalidade
O Código Civil (Brasil, 2002) expõe seus princípios na exposição de motivos: a
operabilidade, a eticidade e a socialidade. A operabilidade é marcada pela intenção
de que a legislação seja de assimilação prática, ou seja, deve ter linguagem clara e
adequada para sua aplicação. A eticidade indica a incorporação normativa de valores
da pessoa humana à legislação, como o caso da boa-fé. A sociabilidade aponta que
os direitos e valores da dimensão coletiva devem prevalecer, ou ao menos serem
considerados, sob os individuais. Nestes termos, expõe Miguel Reale, responsável
pela redação do Código Civil de 2002, que:
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 89
Temos a convicção de que, apesar de muitos conflitos que parecem
irremediáveis, as forças sociais, a pouco e pouco, irão se compondo rumo
a uma grande síntese, na qual o valor dos indivíduos como tais não vão
prevalecer sobre os da sociedade, mas também o valor da coletividade
não será a força esmagadora dos valores intocáveis da subjetividade.
Estamos sentindo, em suma, que a solução social de nossa era será no
sentido de um a complementariedade de valores, na qual a subjetividade
se espelhe no social e o social encontre na subjetividade a raiz fundante
de suas manifestações.ra, esta foi, sem dúvida, a tomada de posição
daqueles que recebemos com tanta humildade e, ao mesmo tempo, com
tanto zelo científico, a incumbência de elaborar um projeto de Código Civil,
que não fosse individualista, nem coletivista; que atendesse, em harmonia
congruente, àquilo que toca ao indivíduo e aos grupos naturais, assim como
ao que compete à coletividade como um todo. (Reale, 1976, p. 29).
A intenção do jurista responsável pela proposta legislativa do Código Civil
(Brasil, 2002) em vigor não se afasta de Lévinas (1980), na medida em que ambos
manifestam preocupação social, ou seja, com o Outro, sem que as individualidades
sejam sufocadas por uma totalidade. Nestes termos, o Código Civil de 1916, que
era marcado pelo individualismo e o patrimonialismo do liberalismo burguês,
recebe novas conotações no Código de 2002, tais como os princípios já referidos
(eticidade, sociabilidade e operabilidade) e que vão ao encontro da proposta de
alteridade levinasiana, na medida em que a alteridade busca concretização, visa
uma perspectiva não individualista de privilégios e é fundada na ética como filosofia
primeira. Ressalva-se, no entanto, que, apesar da perspectiva levinasiana ser radicada
em bases diversas, é possível, a partir de uma metodologia interdisciplinar, analisar
e propor sua aproximação com a teoria jurídica brasileira.
A incorporação da ética da alteridade levinasiana vai ao encontro da própria
base inaugurada pelo Código Civil de 2002 e da tábua de valores da Constituição
da República de 1988. O direito visa estabelecer como a sociedade deve ser,
pontuando as condutas esperadas e a consequência de sua violação. Por uma leitura
constitucional do Código Civil (Brasil, 2002), pode-se observar na Constituição uma
série de disposições compatíveis com a alteridade, a partir do próprio preâmbulo, o
qual dispõe que o Estado Democrático visado é erigido sob uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, inclusive, estatuídos mais ou menos diretamente
como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
A etimologia de preâmbulo vem do latim preambulum, um pequeno discurso que
antecede o texto principal. A constituição da palavra decorre da combinação de Prae,
que significa antes ou à frente de algo; e ambulare, que significa ir à volta ou circular
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
90 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
algo (Pinheiro, 1942). Dessa forma, pode-se afirmar que o preâmbulo é aquela carga
que antecede a viagem, o preparo que antecede a jornada.
Nesse sentido, a investigação do alcance semântico dos termos fraternidade,
pluralista e sem preconceitos vai ao encontro da alteridade. O primeiro decorre
do latim frater, que é o irmão, o qual toma novos contornos com o cristianismo,
na medida em que propõe um ideal de amor fraterno entre os homens, que não
só deriva de Deus, mas seria Deus mesmo (Abbagnano, 2007, p. 41). Pluralista ou
pluralismo é termo que se contrapõe ao egoísmo, um modo de pensar na virtude, na
qual não se abarca o mundo no Eu, mas como cidadãos do mundo (Abbagnano, 2007,
p. 765). Já o preconceito é alvo de diversas passagens na história ocidental, sendo
comumente valorizado como um equiparado de ignorância que prende o homem a
um estado que se deseja emancipar (Abbagnano, 2007, p. 452).
Numa perspectiva de alteridade (Lévinas, 1980; 2011), a fraternidade não se
confundiria com a alteridade (apesar de existir menções de fraternidade no texto
de Totalidade e Infinito), mas existiria uma aproximação. Isso porque a alteridade
não percebe o Outro ou o próximo como um irmão, mas uma pessoa estranha ao
Eu e singular. De toda forma, não se pode deixar de vislumbrar que existe uma
aproximação ética entre os termos, uma vez que ambos vinculam o amor e Deus
como pilares de aproximação ao próximo ou ao Outro. Quanto ao termo “Deus”, a
fraternidade está mais próxima do Deus cristão, ao passo que a alteridade não se
aproxima de algum Deus específico, pelo ateísmo que garante a separação (vide
seção anterior). Assim, arrisca-se a propor que a aproximação entre os termos pode
ser representada, no atual e não ideal, da seguinte forma, conforme a Figura 1.
Figura 1 - Relação entre a fraternidade e a alteridade
Fonte: Elaborada pelo autor (2023).
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 91
A alteridade vai ao encontro de uma perspectiva pluralista, tendo em vista
que também levanta a proposta de superação do egoísmo e de construção de um
mundo de todos, não somente do Eu e a partir do Eu. Ademais, a construção de
uma sociedade sem preconceitos também vai ao encontro da alteridade, porquanto
ela propõe a não totalização do Outro a partir dos instrumentais cognitivos do Eu,
devendo respeitar o Outro como singularidade. Portanto, a alteridade se apresenta
como produto de valores preambulares da própria Constituição e que, por algum
motivo, os legisladores se esqueceram de levar para a viagem, como um lenço que
se carrega para cuidar do próximo na viagem em caso de necessidade.
Conforme exposição do Código Civil (Brasil, 2002), que se propôs a amoldar a
legislação a tais valores, pontuando que o capítulo de direitos da personalidade
é matéria em si complexa e de significação ética essencial, o texto é escrito
propositadamente com textura aberta para o seu desenvolvimento (Ikeda; Teixeira,
2022). É por isso que a alteridade deve ser positivada especificamente como um
direito da personalidade, devido à sua proposta de radicação ética, reverberando
sobre toda a ordem jurídica a partir da noção de pessoa. Nesses termos:
Todo um capítulo novo foi dedicado aos Direitos da personalidade, visando
à sua salvaguarda, sob múltiplos aspectos, desde a proteção dispensada
ao nome e à imagem até o direito de se dispor do próprio corpo para
fins científicos ou altruísticos. Tratando-se de matéria de per si complexa
e de significação ética essencial, foi preferido o enunciado de poucas
normas dotadas de rigor e clareza, cujos objetivos permitirão os naturais
desenvolvimentos da doutrina e jurisprudência. (Reale, 1976, p. 19).
A proposta metafenomenológica levinasiana critica a conceituação prestigiada
pela ciência jurídica kelseniana. Para Lévinas (1980), a linguagem é indispensável
para atribuir sentido ao mundo inicialmente anárquico e anônimo. O ponto da
linguagem que orienta a reflexão do filósofo não é apenas o da linguagem como
meio de comunicação e de atribuição de sentido, mas também o de ausência de um
sentido único que oriente as significações isoladas, contribuindo para a indiferença,
ou seja, como sentido orientador dos sentidos que oriente todos os caminhos da
linguagem (Lévinas, 2012). Assim:
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
92 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
A menos que se nos queira ensinar a essência da palavra. De que maneira
a palavra poderia ferir se ela fosse encarada apenas como flatus vocis,
como palavra vã, como “simples palavra”? [...]. A função original da
palavra não consiste em nomear um objeto a fim de comunicar-se com
o outro, num jogo inconsequente, mas sim em assumir por alguém uma
responsabilidade em relação a outro alguém. Falar é comprometer-se
com os interesses dos homens. A responsabilidade configuraria a essência
da palavra. (Levinas, 2017, p. 41).
É com base nesta perspectiva axiológica do Código Civil (Brasil, 2002) que os
direitos da personalidade são indispensáveis para a incorporação da alteridade,
já que sua forma é muito mais adequada do que a dos direitos fundamentais. Nesse
sentido, a vinculação dos direitos da personalidade com a alteridade reside na
necessidade de se resgatar uma perspectiva ética a partir e para o humano.
Dito de outro modo, os direitos da personalidade propiciam estrutura que se
aproxima mais da alteridade que os direitos fundamentais e humanos, pois aqueles
emergem como perspectiva do que o Eu deve ao Outro na ordem jurídica. Por outro
lado, os direitos fundamentais e humanos ostentam limites na vinculação com a
alteridade, pois têm como um dos focos originários a relação do cidadão com o
Estado, e este não é capaz de alteridade, pois a conduta que extrapolar o dever legal
será inválida (pré-requisito da alteridade).
Nessa medida, pode-se observar que o direito positivo protege o valor da
integridade física, um direito da personalidade, exemplificativamente, no art. 13 do
Código Civil (Brasil, 2002), da proibição da disposição do próprio corpo quando o
ato importar diminuição permanente da integridade física; no art. 129 do Código
Penal (Brasil, 1940) prescreve como crime ofender a integridade corporal; também
se pode pontuar o direito fundamental constitucional à alimentação, que protege
a integridade física da pessoa (Brasil, 1988). Há outros exemplos que podem
ser desenvolvidos, com objeto axiológico mais abstrato, como é o caso do valor
da família e o que se espera do normal da união de duas pessoas, cujo valor é
alcançado juridicamente pela escolha da prescrição de diversas condutas, como a
mútua assistência, a fidelidade recíproca, o respeito e a consideração mútuos entre
outros (Brasil, 2002).
Verifica-se que a alteridade ostenta estrutura compatível com as bases
principiológicas com o Código Civil de 2002 e os direitos da personalidade. Dessa
maneira, passar-se-á à análise da estrutura do direito positivo, a fim de analisar sua
compatibilidade com a alteridade.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 93
4 Positivismo jurídico e sua análise estrutural
A fórmula normativa é: se A é, B deve ser, sob pena de C significa que os eventos
fenomênicos (A) devem ser de acordo com o direito prescrito (B), sob pena de uma
sanção (C). Por exemplo, se houver a rescisão de um contrato de trabalho com base
na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o empregador pagará a rescisão (A), que
deve ser paga em até 10 (dez) dias (B), sob pena de multa de um salário (C). Esta
estrutura é chamada de imperativo hipotético, visando tornar o direito útil como
meio juridicamente adequado a alcançar um determinado fim desejado. Logo, para
se prestigiar ou tutelar determinado bem jurídico desejado, é necessário observar a
forma jurídica para o ato.
Nesse sentido, ainda que o direito não coloque de forma expressa a defesa de
determinado bem jurídico, este bem ou valor é tutelado por uma forma jurídica
prescritiva da conduta desejada, sob pena de sanção. Ainda, pela sua estrutura
jurídica dinâmica, o positivismo jurídico não determina um único ato para se
atingir um determinado fim eternamente, mas de forma relativa e provisória.
A consequência da não observação da conduta desejada será a sanção, que é a
norma secundária e principal dirigida ao Estado para a aplicação.
Diante deste raciocínio inicial, uma norma jurídica deverá conter uma norma
primária (B), a qual poderá ser a prescrição da conduta desejada ou a conduta
antijurídica e uma norma secundária (C), que é a sanção a ser aplicada pelo
Estado pelo descumprimento, além de ser válida pelos procedimentos previstos
e autorizados pela própria norma jurídica. Assim, testam-se nesta subseção as
condições de possibilidade da alteridade como norma primária, da sua possibilidade
como norma jurídica de direito da personalidade.
Diante desta proposta, pensar a alteridade como norma primária é prescrever
uma determinada conduta que proteja o valor alteridade ou uma conduta antijurídica
ao valor da alteridade. Logo, pelo já exposto anteriormente, não se pode criar uma
norma que meramente estabeleça que toda pessoa deve ser alterística ou que ninguém
pode deixar de ser alterístico. Isso porque a alteridade se configura como ideia e não
como conduta em si.
O mesmo raciocínio ensejaria a ser normatizado que toda pessoa deve ser
cuidadosa/ amorosa com a família ou que é vedado que a pessoa na família não seja
amorosa/cuidadosa. Ainda, poderia se argumentar que existe o crime de abandono
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
94 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
material2 ou que há a possibilidade de requerer alimentos de familiar3, mas ainda
que tais normas sejam mecanismos para garantir tais valores, esses valores são
assegurados por condutas prescritas, verbos de conduta, que sejam, justamente,
fornecer os alimentos ou deixar de prover subsistência. Portanto, o direito opera por
meio de condutas prescritas e tais condutas precisam ser minimamente, ainda que
implicitamente, dispostas por meio de verbos de conduta.
A primeira indagação seria elencar possíveis condutas que representem ou
prestigiem o valor ético da alteridade. Escolhem-se, por amostragem, pela maior
parte das temáticas caras ao tema, os verbos acolher/cuidar e responsabilizar. Estes
verbos, numa perspectiva inicial, vinculam-se, também, aos direitos da personalidade,
sem prejuízo do desenvolvimento exposto adiante, na medida em que: (a) os termos
acolhimento, hospitalidade e cuidado estão relacionados à tutela física e psíquica
da pessoa humana, do nome, da imagem e da honra; e (b) o responsabilizar-se pelo
Outro pode ter um paralelo com os institutos da guarda e da curatela, que visam à
tutela de minorias e vulneráveis. Ainda, a questão do reconhecimento levinasiano
será analisado como modo de conhecer, sendo implícito nos termos escolhidos e na
tentativa de conexão aos direitos da personalidade.
Para o desenvolvimento da proposta é importante frisar que há uma forte
distinção epistemológica das propostas kelseniana e levinasiana. Enquanto a teoria
pura do direito conhece apenas o direito positivo válido, como aproximação do
fenômeno kantiano espaço-temporal (Kant, 2021), a proposta metafenomenológica
levinasiana vai além do fenômeno, já que busca a ética primeira como dimensão
além da ontologia. Isso significa que o contraste de um cientificismo jurídico do
direito kelseniano pode aparentar uma incompatibilidade até mesmo dialógica com
a ética metafenomenológica, sendo inicialmente aceitável tentar reduzir ambas as
propostas a um mesmo denominador comum, assim como não se multiplica uma
unidade de medida por outra não equivalente, como multiplicar litros por quilos
sem a prévia conversão.
O escopo desta pesquisa não é reduzir as propostas ao mesmo, mas, de forma
interdisciplinar, respeitar as metodologias próprias e testar suas compatibilidades.
Portanto, diante da exposição da estrutura dos direitos da personalidade e do
positivismo jurídico, propõe-se analisar os conceitos levinasianos elencados dentro
2 Vide o art. 244 do Código Penal (Brasil, 1940).
3 Nos termos do art. 1.694 do Código Civil (Brasil, 2002).
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 95
de sua própria metodologia e, em passo seguinte, testar sua incorporação como
direito positivo de personalidade de matriz kelseniana.
Pode-se perceber que a linguagem sem uma unidade ética promove a redução
como violência, na medida em que desrespeita a alteridade como critério ético.
Nesse sentido, atribuir significação ao mundo sem ética é violentar o Outro pela
adoção da ontologia. Trata-se da percepção do Outro a partir do Eu, eliminando sua
singularidade e reduzindo-o ao conceito do mesmo. A consequência da redução
do Outro ao mesmo, pela conceituação aética, é possibilitar a intervenção sobre
o Outro de forma útil, instrumental e violenta. A superação dessa violência ocorre
com a alteridade, na colocação do Eu a serviço do Outro, como responsabilidade
pelo Outro com des-inter-esse e de forma gratuita (Martins; Lepargneur, 2014,
p. 9), até porque a alteridade sem gratuidade é esperar do Outro o mesmo do Eu.
Pode-se concluir que a conceituação:
Converte o homem, o Outro homem, num equivalente universal: num
detentor de força de trabalho, num cidadão, num sujeito jurídico...
O conceito, a despeito disso, não consegue conter a inépcia da atividade de
conceituar. O Outro que escapa ao conceito, que reluta à coerção conceitual,
que faz com que o Eu crie mais e mais conceitos para tentar contornar suas
incongruências, revela a dupla face da conceituação: não só seu poder, mas
também sua fraqueza. Quanto mais ordem se cria, mais ambivalência se
produz. Em virtude disso, a modernidade enfrenta o problema de lidar com
o refugo oriundo do seu próprio trabalho de ordenação: o Outro que sobra,
que escapa à totalização, que põe a própria modernidade em questão.
(Carvalho, 2021, p. 56-57).
Apesar da crítica à conceituação isenta de uma unidade ética prévia de
direção, não se pode pensar que a filosofia da alteridade é contra o racional, mas,
antes, uma crítica que busca laicizar o discurso. A Ética e a Razão não devem
se separar da linguagem, na medida em que o discurso racional desenvolve
a dimensão epistemológica e a ética impede que este discurso violente e ameace a
significação da linguagem. A defesa levinasiana é a de que o conhecimento marca
a passagem entre o singular ao universal, mas tal passagem deve ser precedida
pelo acolhimento do Outro, ou seja, o acolhimento precede à representação. O
conhecimento não vem do Eu, mas do exterior, do absolutamente Outro, sendo
o acolhimento do Outro, condição do discurso universal de permanente e infinita
possibilidade de recomeço e renovação.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
96 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
Ainda, se o pensamento racional pressupõe o frente a frente da linguagem,
qualquer hipótese de fundar o humano com uma concepção universalista da razão
desrespeita a alteridade do Outro; é justamente o predomínio deste pensamento
que gera a totalidade e o imperialismo inconsequente do mesmo. Assim, o ético
contempla o sentido do falar racional, de reflexão filosófica e de conhecimento
objetivo, que deve ter anterioridade ao conhecimento ontológico, sob o risco de
constituir causa de violência (Fabri, 2001).
Diante deste contexto, retoma-se a tentativa de converter o valor de
alteridade levinasiana em norma jurídica positiva dos direitos da personalidade.
Pode-se tomar o conceito de acolhimento como abrigo ético, como locus da relação
ética do Eu com o Outro. Essa hospitalidade deve ser estrutura de acolhimento e
abertura, que avoca a percepção de cuidado. O respeito à alteridade deve constituir
forma ética prévia a qualquer representação, que não deve dominar, tematizar ou
capturar o Outro por saberes, mas oferecer a resposta ética. Pode-se elencar três
testes normativos: (a) deve-se acolher o Outro, sob pena de sanção; (b) constitui-se
crime não acolher o Outro; (c) o Outro deve ser acolhido; (d) o Outro tem o direito
de ser acolhido; e (e) o Eu deve acolher o Outro.
Diante destas tentativas normativas, observam-se que as tentativas (a)
e (b) são falhas porque contrariam o aspecto da gratuidade da alteridade. As
tentativas (c) e (d) são consideradas normas imperfeitas, pois não há sanção para
seu descumprimento. Ainda que se considerem as letras (c) e (d) como princípios
jurídicos, a operação interpretativa direcionará a análise da conduta para um
binômio lícito ou ilícito. Isto é, será necessário decidir se determinada conduta
contraria ou não o Direito; se contrariar, deverá incorrer em sanção arbitrada
judicialmente, o que traria o insucesso da norma pela lesão à gratuidade.
Além disso, caso fossem consideradas as letras (c) e (d) como objetos de políticas
públicas, haveria uma obrigação dos órgãos públicos ou de alguns destinatários em
prover condições de cuidados e hospitalidade, denotando uma obrigação e a sanção
pelo seu descumprimento. Quanto à tentativa (e), verifica-se que, novamente, há
falta de sanção pelo seu descumprimento. Portanto, o principal óbice encontrado na
formulação de um direito da alteridade da pessoa humana seria o elemento sanção.
Ressalta-se que ventilar a possibilidade de aceitar a norma jurídica sem
sanção, direta ou indireta, é fugir à técnica do positivismo jurídico, na medida
em que o que diferencia a ordem social jurídica das demais é o elemento sanção.
Cogitar uma norma jurídica sem sanção seria torná-la inválida por consequência
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 97
da sua ineficácia, pois qualquer um poderia impunimente violá-la. Nesse ponto,
frisa-se que, ainda que o direito nacional não aceite a revogação da lei pelo
costume (desuetudo), a eficácia é condição (não fundamento) de validade da
norma kelseniana, pois a norma editada por autoridade competente deve produzir
a obediência aos súditos ou a aplicação da sanção (Kelsen, 1986).
Uma segunda tentativa inicial de normatizar os conceitos levinasianos como
jurídicos de personalidade seria o de responsabilidade pelo Outro. Interessante que
o direito positivo brasileiro tem a responsabilidade jurídica para imputar ilícito ao
violador do comando legal, como também de responsabilizar uma pessoa pelo ato
de alguém sem que a primeira tenha participado ativamente para sua realização.
Podem-se mencionar os seguintes exemplos: (a) o fiador que se responsabiliza
por um locatário, sendo que mesmo que não tenha a obrigação de pagar, tem a
responsabilidade pelo pagamento4; (b) a responsabilidade dos pais pelos danos
causados pelos filhos ou dos curadores/tutores pelos curatelados/tutelados, assim
como do dono de animal pelos danos causados por este5; (c) a responsabilidade
ou o cuidado pelo Outro por meio do pagamento de impostos6; (d) os direitos
previdenciários que são regidos pelo sistema de solidariedade7; e (e) a regulamentação
do trabalho voluntário8.
O exemplo a inicialmente configura alteridade, todavia, a sua responsabilidade
é, em regra, subsidiária ao do devedor principal; e mesmo o pagamento pelo
fiador pode o fazer se sub-rogar nos direitos do credor, tornando-o apto a cobrar
regressivamente o devedor principal. Quanto ao exemplo b, tal responsabilidade
não é avocada pelo Eu por alteridade ao Outro, mas por imposição legal. Os
exemplos c e d podem ser descartados pela inexistência de liberdade e vontade
para o ato, ou seja, não há a motivação interna, apenas a externa, na medida em
que o pagamento é compulsório e o não pagamento configura ilícito. Talvez se
possa argumentar que o Estado tenha alteridade ao angariar impostos e cuidar do
Outro, porém, o Estado está vinculado à estrita legalidade e apenas promoverá tal
desiderato se a lei assim comandar.
4 Conforme o Código Civil, em seu art. 818 (Brasil, 2002).
5 Nesse sentido as disposições do Código Civil: art. 932 e art. 936 (Brasil, 2002).
6 Conforme o Código Tributário Nacional, art. 113 (Brasil, 1966).
7 Nos termos constitucionais do art. 194 (Brasil, 1988).
8 De acordo com a legislação que dispõe sobre o serviço voluntário, em seu art. 1o (Brasil, 1998).
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
98 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
Sobre o exemplo (e), observa-se na Lei no 9.608, de 18 de fevereiro de 1998
(Brasil, 1998), que o serviço voluntário é considerado como atividade não “remunerada
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição
privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais,
científicos, recreativos ou de assistência à pessoa”, sendo convertido aparentemente
numa possibilidade de alteridade a partir de uma norma autorizante, na medida em
que sua inexistência implicaria em possível relação de emprego. Percebe-se que a
possibilidade é de grande redução, pois a atividade deve ser dirigida à entidade,
impossibilitando servir o Outro diretamente. Portanto, com as devidas considerações
de possíveis proximidades mencionadas, não é observado qualquer comando de
direito positivo vigente que tutele ou fomente a alteridade.
Pontua-se que o ordenamento jurídico positivo é imbuído de justiça relativa,
podendo determinar o valor e o meio de se atingir tal valor por intermédio de
determinada norma jurídica. O direito positivo brasileiro ostenta uma série de valores
protegidos e prestigiados, incluindo os direitos da personalidade. No entanto, neste
primeiro momento, observa-se uma impossibilidade de se positivar qualquer norma
que atinja o valor da alteridade. Os principais fatores observados desse impedimento
são o elemento da sanção e a forma jurídica que reduz a liberdade do Eu em atender
à alteridade.
5 Conclusão
O problema que orientou esta pesquisa interdisciplinar decorre da
possibilidade de incorporação da noção de alteridade de Emmanuel Lévinas, sob
determinados aspectos, como ou direito da personalidade. Havia a hipótese de
que não seria possível a incorporação da alteridade no direito positivo, diante da
incompatibilidade de suas estruturas, na medida que o direito é uma ordem social
coativa, que tem por intuito a aplicação por formas imputadas de recompensas
ou sanções, enquanto a alteridade se estrutura a partir de uma responsabilidade
infinita, sem forma e de gratuidade.
Na primeira seção de desenvolvimento, analisou-se que a sociedade
contemporânea vive uma crise ética que encontra suas raízes na própria razão,
produzindo um ciclo sacrificial desumano como legitimação do humano. Verificou-se
que tal ciclo, tal crise, pode ser rompido (a) por uma nova razão, que age ao impulso do
coração e não das equações entre dor e prazer ou da extensão ética de oportunidade
e conveniência. Um novo modo de pensar proposto por Emmanuel Lévinas mostrou-se
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 99
indicado para responder à problemática ética, restando a necessidade de se analisar
em que medida o Direito poderia incorporar tal pensamento, para a construção de um
mundo mais ético.
A análise dos princípios do Código Civil de 2002 e dos direitos da personalidade,
na segunda seção de desenvolvimento, indicou que a ética da alteridade ostenta
compatibilidade axiológica com tais preceitos. Nesse sentido, pode-se afirmar que
a ética da alteridade seria um próximo passo ético à base do Direito Civil e dos
direitos da personalidade, ao menos dos motivos e das finalidades declarados.
Na derradeira seção de desenvolvimento, a perspectiva da alteridade foi
confrontada com as formas jurídicas positivas. Foram realizados testes e tentativas
de inclusão, respeitando-se a metodologia e o raciocínio de ambos, de forma que
se evidenciou ser a sanção o elemento que obsta a incorporação da perspectiva
ética da alteridade, pois o Direito é aplicado por formas, imputando sanção ao seu
descumprimento. Logo, uma norma que exija que alguém pratique a alteridade sob
pena de sanção seria o mesmo que atuar contra a própria alteridade.
Nestes termos, pode-se concluir com base na pesquisa realizada que o direito
positivo não pode exigir que as pessoas tenham alteridade. Porque ela é justamente
a assunção de uma responsabilidade infinita que se abre ao Outro, uma relação
assimétrica e gratuita, logo, a imputação de sanção a esta estrutura inviabilizaria a
ela própria. De certa forma, a incorporação da alteridade também inviabilizaria
o direito positivo naquilo que ela tocasse, pois não deveria existir sanção,
portanto, sua violação não teria consequências e a norma não teria validade na
estrutura kelseniana.
Contudo, considerando a literatura jurídica do positivismo jurídico e
a perspectiva estrutural do conceito filosófico de alteridade de Emmanuel
Lévinas, configura-se melhor afirmar que, por ora, conclui-se que não é possível
a incorporação do referido princípio ao direito posto nem como direito da
personalidade. Isto porque a pesquisa indica que a premissa do direito positivo,
a de que é possível a incorporação de qualquer valor ou conduta, é falha. Dessa
forma, há a necessidade de continuação dos estudos aqui pospostos, para que
novos testes sejam realizados e aprofundados, com o fito de estabelecer os limites
epistemológicos do direito positivo e sua simbiose com uma ética que desafie o
egoísmo estrutural da tradição ocidental e do direito contemporâneo.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
100 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
6 Referências
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. Trad. Alfredo Bossi. São Paulo: Martins
Fontes, 2007.
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. Trad. João Rezende Costa. São Paulo:
Paulus, 1997.
BEZERRA, Herlon Alves. A trajetória bioespistemográfica de Emmanuel Lévinas:
pistas para uma prática intercultural do pensamento. Revista de Administração
Educacional, Recife, v. 4, n. 10, 2013, p. 167-200. Disponível em: https://periodicos.
ufpe.br/revistas/ADED/article/view/2301. Acesso em: 10 nov. 2023.
BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. O direito na pós-modernidade. Revista Seqüência:
Estudos Jurídicos Políticos, Florianópolis, v. 29, n. 57, 2008, p. 131-152. Disponível em:
https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2008v29
n57p131. Acesso em: 24 set. 2023.
BONAMIGO, Gilmar Francisco. O problema do humano em Emmanuel Lévinas.
O que nos faz pensar, v. 25, n. 38, 2016, p. 139-160. Disponível em: http://www.
oquenosfazpensar.fil.puc-rio.br/index.php/oqnfp/article/view/493. Acesso em:
4 nov. 2023.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF:
Senado Federal, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/ConstituicaoCompilado.htm. Acesso em: 28 out. 2023.
BRASIL. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Rio de
Janeiro: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 8 ago. 2023.
BRASIL. Lei no 5.117, de 25 de outubro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário
Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados
e Municípios. Brasília, DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: https://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172compilado.htm. Acesso em: 8 ago. 2023.
BRASIL. Lei no 9.608, de fevereiro de 1998. Dispõe sobre o serviço voluntário e dá
outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [1998]. Disponível em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9608.htm. Acesso em: 8 ago. 2023.
BRASIL. Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília,
DF: Presidência da República, [2023]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm. Acesso em: 28 out. 2023.
CARVALHO, Felipe Rodolfo de. Outramente: o direito interpelado pelo rosto do Outro.
Belo Horizonte: D’Plácido, 2021.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Rodrigo Valente Giublin Teixeira — Walter Lucas Ikeda 101
DESCARTES, René. Meditações Metafísicas. Trad. Fabio Fonseca. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
FABRI, Marcelo. Linguagem e desmistificação em Levinas. Revista Síntese, Belo
Horizonte, v. 28, n. 91, p. 245-266, 2001. Disponível em: https://www.faje.edu.br/
periodicos/index.php/Sintese/article/view/558/982. Acesso em: 21 set. 2023.
HINKELAMMERT, Franz Josef. Sacrifícios humanos e sociedade ocidental: Lúcifer e
a Besta. Trad. João Rezende Costa. São Paulo: Paulus, 1995.
IKEDA, Walter Lucas; TEIXEIRA, Rodrigo Valente Giublin. Direitos da personalidade:
Terminologias, Estrutura e Recepção. Revista Jurídica Cesumar, Maringá, v. 22, n. 1,
2022, p. 129-152. Disponível em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/
revjuridica/article/view/10618/7018. Acesso em: 10 nov. 2023.
KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Trad. Manuela Pinto dos Santos. Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian, 2021.
KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Trad. José Florentino Duarte. Porto Alegre:
Sergio Antonio Fabris, 1986.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. São Paulo:
Martins Fontes, 1998.
LEVINAS, Emmanuel. De outro modo que ser ou para lá da essência. Trad. José Luis
Pérez. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, 2011.
LEVINAS, Emmanuel. Descobrindo a existência com Husserl e Heidegger. Tradução:
Fernando Oliveira. Lisboa: Piaget, 1997.
LEVINAS, Emmanuel. Humanismo do outro homem. Trad. Pergentino Stefano.
Petrópolis: Vozes, 2012.
LEVINAS, Emmanuel. Quatro leituras Talmúdicas. Trad. Fábio Landa. São Paulo:
Perspectiva, 2017.
LEVINAS, Emmanuel. Totalidade e infinito: ensaio sobre a exterioridade. Trad. Jorge
Machado Dias. Lisboa: Edições 70, 1980.
LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Trad. Claudio Amor. Bernal: Universidad
Nacional de Quilmes, 2005.
MARTINS, Rogério Jolins; LEPARGNEUR, Hubert. Introdução a Lévinas: Pensar a ética
no século XXI. São Paulo: Paulus, 2014.
PINHEIRO, Hésio Fernandes. O preâmbulo dos atos da ordem legislativa. Revista
do Serviço Público, Brasília, v. 4, n. 2, 1942, p. 29-37. Disponível em: https://revista.
enap.gov.br/index.php/RSP/article/view/8993. Acesso em: 23 set. 2023.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
102 Alteridade, direito positivo e direitos da personalidade
REALE, Miguel. Considerações gerais sobre o projeto de Código Civil. Projeto de Lei
no 634, de 1975. Revista da Faculdade de Direito, São Paulo, v. 71, n. 1, 1976, p. 25-58.
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66772. Acesso em:
30 set. 2023.
SOUZA, Ricardo Timm de. Justiça, liberdade e alteridade ética: sobre a questão da
radicalidade da justiça desde o pensamento de E. Levinas. Revista Veritas, Porto
Alegre, v. 46, n. 2, 2001, p. 265-274. Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.
br/ojs/index.php/veritas/article/view/35008/18345. Acesso em: 9 out. 2023.
SUSIN, Luiz Carlos. O homem messiânico: uma introdução ao pensamento de
Emmanuel Lévinas. Rio de Janeiro: Vozes, 1984.
Revista Jurídica da Presidência Brasília v. 26 n. 138 Jan./Abr. 2024 p. 77-102
http://dx.doi.org/10.20499/2236-3645.RJP2024v26e138-3079
Você também pode gostar
- Atividade de Sociologia JuridicaDocumento107 páginasAtividade de Sociologia JuridicaEvandro Xavier58% (12)
- Filosofia Do DireitoDocumento8 páginasFilosofia Do DireitoPatrick SantosAinda não há avaliações
- Sociologia Do Direito FDULDocumento39 páginasSociologia Do Direito FDULBrado Africano100% (1)
- Livro Etica Adolfo S Vazquez 2004 Resumo CompletoDocumento51 páginasLivro Etica Adolfo S Vazquez 2004 Resumo CompletoAdriane Santos100% (4)
- Positivismo Jurídico e Positivismo SociológicoDocumento12 páginasPositivismo Jurídico e Positivismo SociológicoRegiane Di Benedetto Baculi0% (1)
- João Maurício Adeodato - Tolerância e Conceito de Dignidade Da Pessoa Humana No Positivismo Ético PDFDocumento16 páginasJoão Maurício Adeodato - Tolerância e Conceito de Dignidade Da Pessoa Humana No Positivismo Ético PDFramonchicoAinda não há avaliações
- Apontamentos Filosofia Do Direito IIDocumento8 páginasApontamentos Filosofia Do Direito IICatarina AlmeidaAinda não há avaliações
- 2154-Texto Do Artigo-4538-1-10-20220829Documento20 páginas2154-Texto Do Artigo-4538-1-10-20220829Gabriel HillenAinda não há avaliações
- Aula Filosofia Jurídica Parte 1 PDFDocumento15 páginasAula Filosofia Jurídica Parte 1 PDFxuxa9049Ainda não há avaliações
- OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS PERCEPÇÕES LIBERAL E COMUNITARISTA (Maria Thereza Tosta Camillo)Documento6 páginasOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS PERCEPÇÕES LIBERAL E COMUNITARISTA (Maria Thereza Tosta Camillo)maitetostaAinda não há avaliações
- Natureza Do Direito PDFDocumento18 páginasNatureza Do Direito PDFLuciana VegaAinda não há avaliações
- Slides - FilosofiaDocumento31 páginasSlides - FilosofiaAna Beatriz GarciaAinda não há avaliações
- Filosofia Do DireitoDocumento50 páginasFilosofia Do DireitopriscilamatulaitisAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do Direito - Rui MedeirosDocumento34 páginasIntrodução Ao Estudo Do Direito - Rui MedeirosHernane CostaAinda não há avaliações
- 181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Documento30 páginas181-Texto Do Artigo-538-1-10-20170522Elisabete Célia SantosAinda não há avaliações
- Sociologia Do DireitoDocumento35 páginasSociologia Do DireitoAna Vicente100% (1)
- Perspectivas Éticas Da Responsabilidade Jurídica PDFDocumento22 páginasPerspectivas Éticas Da Responsabilidade Jurídica PDFegorenanAinda não há avaliações
- Rui Medeiros: ProgramaDocumento34 páginasRui Medeiros: ProgramaRui Monteiro100% (4)
- Miguel Reale - RelatórioDocumento4 páginasMiguel Reale - RelatórioJhuan PabloAinda não há avaliações
- Labeling Approach - A Teoria Do Etiquetamento SocialDocumento9 páginasLabeling Approach - A Teoria Do Etiquetamento SocialAlex MendesAinda não há avaliações
- Revisão AV1 Até A Aula 07Documento17 páginasRevisão AV1 Até A Aula 07Isabela PereiraAinda não há avaliações
- Etica e Corrupção No BrasilDocumento15 páginasEtica e Corrupção No BrasilClaudio Henrique de AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila de ÉticaDocumento47 páginasApostila de ÉticaMarcelo NascimentoAinda não há avaliações
- Direito AlternativoDocumento5 páginasDireito AlternativoClarieneAinda não há avaliações
- Julia DireitoDocumento8 páginasJulia DireitoferraooliveirapauloAinda não há avaliações
- Lenio Streck - Daniel Ortiz - O Mito Do Positivismo JuridicoDocumento21 páginasLenio Streck - Daniel Ortiz - O Mito Do Positivismo JuridicoThiagoAinda não há avaliações
- DIREITO E PÓS-VERDADE Uma Análise Da Influência Exercida Pela Crescente...Documento34 páginasDIREITO E PÓS-VERDADE Uma Análise Da Influência Exercida Pela Crescente...José Bruno Ap SilvaAinda não há avaliações
- Gisela Gonçalves, COMUNITARISMO OU LIBERALISMODocumento11 páginasGisela Gonçalves, COMUNITARISMO OU LIBERALISMOfernandamilerAinda não há avaliações
- Direito de PersonalidadeDocumento25 páginasDireito de Personalidadebruno custodioAinda não há avaliações
- Resumo II - O Que É DireitoDocumento3 páginasResumo II - O Que É DireitoMatheus Prado MenezesAinda não há avaliações
- Resumo - Direitos HumanosDocumento47 páginasResumo - Direitos HumanosMARCIO GONAAinda não há avaliações
- Pressupostos e Fundamentos Do Direito Natural e Direito PositivoDocumento13 páginasPressupostos e Fundamentos Do Direito Natural e Direito PositivoJaime XavierAinda não há avaliações
- Moraloudignidadenolenocinio-Umcrimeaprocuradeumbemjuridico - PDF 2Documento33 páginasMoraloudignidadenolenocinio-Umcrimeaprocuradeumbemjuridico - PDF 2Rita BritoAinda não há avaliações
- Autolegitimidade e Justiça Criminal - DiagramadoDocumento22 páginasAutolegitimidade e Justiça Criminal - DiagramadoPaulo AraújoAinda não há avaliações
- Ementas Mestrado em Direito - UCSALDocumento6 páginasEmentas Mestrado em Direito - UCSALThiago PiresAinda não há avaliações
- Bases FilosoficasDocumento35 páginasBases FilosoficasGeorgea AlexandraAinda não há avaliações
- Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento9 páginasIntrodução Ao Estudo Do DireitoGustavo MartinsAinda não há avaliações
- 4 EticaDocumento22 páginas4 EticascarmoaAinda não há avaliações
- 516-Texto Do Artigo - Arquivo Original-1429-1!10!20071017Documento24 páginas516-Texto Do Artigo - Arquivo Original-1429-1!10!20071017jeremias simbineAinda não há avaliações
- Positivismo Jurídico - Hans KelsenDocumento4 páginasPositivismo Jurídico - Hans KelsenmcfmAinda não há avaliações
- FILOSOFIA JURIDICA - ResumoDocumento4 páginasFILOSOFIA JURIDICA - ResumoLarissa Gomes100% (1)
- Igual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?No EverandIgual consideração e respeito, independência ética e liberdade de expressão em Dworkin: é possível reconciliar igualdade, liberdade e o discurso do ódio em um ordenamento coerente de princípios?Ainda não há avaliações
- Direito Natural e PositivoDocumento2 páginasDireito Natural e PositivoPedro Francisco LucasAinda não há avaliações
- Sociologia e Direito Duas Realidades InseparveisDocumento6 páginasSociologia e Direito Duas Realidades InseparveishernanimacamitoAinda não há avaliações
- Os Direitos de Personalidade E Os Limites À Intervenção Ao Próprio Corpo Adriano Barreto Espíndola SantosDocumento36 páginasOs Direitos de Personalidade E Os Limites À Intervenção Ao Próprio Corpo Adriano Barreto Espíndola SantosTecacafuandaAinda não há avaliações
- Textos 1 e 2 (E Mapa Da Escrita 1)Documento16 páginasTextos 1 e 2 (E Mapa Da Escrita 1)Yuri JeffersonAinda não há avaliações
- Ana Sabadel 148 Pag ResumidasDocumento5 páginasAna Sabadel 148 Pag ResumidassandrinhakleAinda não há avaliações
- Revisão - Filosofia JurídicaDocumento5 páginasRevisão - Filosofia JurídicaRubia Naate100% (1)
- Etica SocialDocumento10 páginasEtica SocialEusebio Bernardo Fortunato100% (2)
- Ética, Moral e Direito PDFDocumento7 páginasÉtica, Moral e Direito PDFRenato FerreiraAinda não há avaliações
- A Teoria Do Crime e Da Pena - DURKHEIMDocumento26 páginasA Teoria Do Crime e Da Pena - DURKHEIMDenis Borborema CruzAinda não há avaliações
- Jusnaturalismo Vs JuspositivismoDocumento38 páginasJusnaturalismo Vs JuspositivismoCarlos Jose100% (1)
- Scan Doc0047Documento18 páginasScan Doc0047Ary TjrAinda não há avaliações
- Dos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoNo EverandDos Delitos E Das Penas. Fichamento ComentadoAinda não há avaliações
- Questões atuais em Direito Processual: perspectivas teóricas e contribuições práticas: Volume 2No EverandQuestões atuais em Direito Processual: perspectivas teóricas e contribuições práticas: Volume 2Ainda não há avaliações
- A Ética Na Política É Uma Necessidade E/ou Obrigação?No EverandA Ética Na Política É Uma Necessidade E/ou Obrigação?Ainda não há avaliações
- Análise econômica do Direito e teoria dos sistemas de Niklas LuhmannNo EverandAnálise econômica do Direito e teoria dos sistemas de Niklas LuhmannAinda não há avaliações
- Moral e Conceito de Direito em Herbert HartNo EverandMoral e Conceito de Direito em Herbert HartAinda não há avaliações
- Admin, Gerente Da Revista, 7 - José, Alex e Augusto - A Proteção Do Meio-Ambiente Como Garantia FundamentalDocumento32 páginasAdmin, Gerente Da Revista, 7 - José, Alex e Augusto - A Proteção Do Meio-Ambiente Como Garantia FundamentalwaldyAinda não há avaliações
- Derechos Humanos en América Latina: El Caso UP Ante La Corte Interamericana de Derechos HumanosDocumento25 páginasDerechos Humanos en América Latina: El Caso UP Ante La Corte Interamericana de Derechos HumanoswaldyAinda não há avaliações
- Revista Jurídica Da PresidênciaDocumento2 páginasRevista Jurídica Da PresidênciawaldyAinda não há avaliações
- Um Arbusto Exótico: o Tribunal Do Júri Chega Ao Brasil ConstitucionalDocumento29 páginasUm Arbusto Exótico: o Tribunal Do Júri Chega Ao Brasil ConstitucionalwaldyAinda não há avaliações
- Revista Jurídica Da Presidência - Editorial - ExpedienteDocumento12 páginasRevista Jurídica Da Presidência - Editorial - ExpedientewaldyAinda não há avaliações
- Aprendendo A Estudar Teologia 1Documento71 páginasAprendendo A Estudar Teologia 1Prof. Rubens EvangelistaAinda não há avaliações
- Atividade de CoerênciaDocumento2 páginasAtividade de CoerênciaJOANA DARC COSME DA SILVA50% (2)
- Para Aprender Politicas PublicasDocumento74 páginasPara Aprender Politicas PublicasRiviani Schopf0% (1)
- Cunha Tito Nova Retorica PerelmanDocumento18 páginasCunha Tito Nova Retorica PerelmanMárcia SantosAinda não há avaliações
- KIT Técnicas Da TCC 31 - Psicoeducação Sobre Estilos de ComunicaçãoDocumento1 páginaKIT Técnicas Da TCC 31 - Psicoeducação Sobre Estilos de ComunicaçãoPaulo HenriqueAinda não há avaliações
- A Lógica Do Processo de Produção - PHFC - PTDocumento20 páginasA Lógica Do Processo de Produção - PHFC - PTPaulo Henrique FloresAinda não há avaliações
- Mondin - CosmologiaDocumento5 páginasMondin - CosmologiaFrancisco PereiraAinda não há avaliações
- Introjecao Ceres Leonor TavaresDocumento2 páginasIntrojecao Ceres Leonor TavaresRegilane SantosAinda não há avaliações
- O Desenho Revela Uma Vida - Brasil EscolaDocumento10 páginasO Desenho Revela Uma Vida - Brasil Escoladkskain100% (1)
- Espelho de OxumDocumento16 páginasEspelho de OxumEdson JaderAinda não há avaliações
- Livro Filosofia Do DinheiroDocumento27 páginasLivro Filosofia Do DinheiroBig Players do bemAinda não há avaliações
- Aula 01 Bases Hist Ricas Epistemol Gicas e Conceituais Dos Processos GrupaisDocumento26 páginasAula 01 Bases Hist Ricas Epistemol Gicas e Conceituais Dos Processos GrupaisCindy MagalhãesAinda não há avaliações
- Lista de Formação Filosofica para EconomistasDocumento27 páginasLista de Formação Filosofica para EconomistasPensamento GuelpanoAinda não há avaliações
- LACADEÉ - Da Norma Da Conversação Ao Detalhe Da ConversaçãoDocumento13 páginasLACADEÉ - Da Norma Da Conversação Ao Detalhe Da ConversaçãofaticadyAinda não há avaliações
- José Dassunção Barros - História CulturalDocumento26 páginasJosé Dassunção Barros - História CulturalJeferson RamosAinda não há avaliações
- EmpatiasistematizaoDocumento28 páginasEmpatiasistematizaoAdriana RodriguesAinda não há avaliações
- PDF - Guia Prático Movimentos e Frases Sistêmicas - Cibele MazzoDocumento115 páginasPDF - Guia Prático Movimentos e Frases Sistêmicas - Cibele MazzoDani ImbriziAinda não há avaliações
- Friedrich NietscheDocumento3 páginasFriedrich NietscheDouglas BarraquiAinda não há avaliações
- Homofonia PronomesDocumento2 páginasHomofonia PronomesVictøria LorelaiAinda não há avaliações
- Tecnologia Solides Disc CompletoDocumento25 páginasTecnologia Solides Disc CompletoKNSM100% (1)
- The Ancient Mysteries of Hermes Trismegistus and The Emerald Tablet Have Inspired and Baffled Both Alchemists and Philosophers For CenturiesDocumento14 páginasThe Ancient Mysteries of Hermes Trismegistus and The Emerald Tablet Have Inspired and Baffled Both Alchemists and Philosophers For CenturiesrafaAinda não há avaliações
- UNIBAN Cap2 Logica MatematicaDocumento22 páginasUNIBAN Cap2 Logica MatematicaElizeu FelixAinda não há avaliações
- EAD01021 - U1T4 - Pensamento Crítico e Análise de DadosDocumento39 páginasEAD01021 - U1T4 - Pensamento Crítico e Análise de DadosMariana da SilvaAinda não há avaliações
- 74771342874Documento2 páginas74771342874Laryssa PereiraAinda não há avaliações
- Teologia TextualDocumento20 páginasTeologia TextualHirlem AlencarAinda não há avaliações
- B.M II ConectivosDocumento46 páginasB.M II Conectivosleonardo barbozaAinda não há avaliações
- Sociologia Cap.1 em CHDocumento9 páginasSociologia Cap.1 em CHEricelvania Cândido de OliveiraAinda não há avaliações
- BERG, Isabela - O Ambiente Dos Monumentos, A Paisagem Dos Ambientes Uma Leitura Do Pensamento e Da Prática de Gustavo Giovannoni Na Tutela de Sítios de Valor PatrimonialDocumento19 páginasBERG, Isabela - O Ambiente Dos Monumentos, A Paisagem Dos Ambientes Uma Leitura Do Pensamento e Da Prática de Gustavo Giovannoni Na Tutela de Sítios de Valor PatrimonialDiego AmoraAinda não há avaliações
- O AlquimistaDocumento2 páginasO AlquimistafaggoncalvesAinda não há avaliações
- Apol 1 - Confucionismo - 1Documento4 páginasApol 1 - Confucionismo - 1Amanda AferaAinda não há avaliações