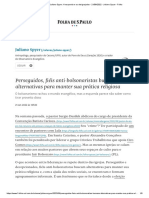Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Filosofia e A Religião e Filosofia Do Afeto
A Filosofia e A Religião e Filosofia Do Afeto
Enviado por
bragamoysesalineTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Filosofia e A Religião e Filosofia Do Afeto
A Filosofia e A Religião e Filosofia Do Afeto
Enviado por
bragamoysesalineDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A FILOSOFIA E A RELIGIÃO
O que é religião?
A religião é uma prática social que nasce da busca humana por significado e respostas para a
existência, unindo costumes, valores morais e crenças compartilhadas em uma comunidade.
Sua essência é a crença na coexistência de um mundo material e um mundo espiritual
habitado por seres divinos. Para ser considerada religião, requer um grupo significativo de
seguidores que adotem esses valores de forma organizada e hierárquica.
Essa prática singular, exclusiva dos seres humanos, reflete nossa inata necessidade de
encontrar sentido na vida.
O que é filosofia?
A Filosofia é uma disciplina intelectual que se dedica a questionar e refletir sobre diversos
aspectos da vida e da existência humana, bem como sobre as questões fundamentais que
permeiam o mundo em que vivemos.
Ao contrário do senso comum, que muitas vezes se baseia em crenças e opiniões superficiais,
a Filosofia adota uma abordagem crítica, racional e sistemática para investigar a realidade em
busca de compreensão mais profunda.
Essa busca incessante pelo significado, natureza e princípios que regem a realidade é o que
impulsiona a Filosofia como um campo de estudo essencial para a evolução do pensamento
humano.
Como a filosofia e a religião se relacionam?
As diferenças entre filosofia e religião são evidentes em suas abordagens distintas. Enquanto a
filosofia utiliza métodos críticos e reflexivos para compreender a realidade, a religião busca
orientação na crença em ensinamentos divinos, sem provas tangíveis.
Apesar disso, surpreendentemente, a filosofia e a religião compartilham semelhanças. Ambas
exploram os fundamentos da existência humana e se interconectam em busca da verdade e
preocupações éticas e morais.
Alguns estudiosos, como Tomás de Aquino e Agostinho, consideram a filosofia e a religião
complementares, pois a primeira pode oferecer uma abordagem racional para explicar
afirmações religiosas. Além disso, ao longo da história, ambas se influenciaram mutuamente,
com diversos filósofos incorporando ideias religiosas em suas obras.
A FILOSOFIA E OS AFETOS
Na filosofia, entende-se como afeto, em seu senso comum, as emoções positivas que se referem a
pessoas e que não têm o caráter dominantemente totalitário da paixão. Enquanto as emoções
podem se referir a pessoas e coisas, os afetos são emoções que acompanham algumas relações
interpessoais, das quais fica excluída a dominação pela paixão. Daí a temporalidade indicada
pelo adjetivo afetuoso que traduz atitudes como a bondade, a benevolência, a inclinação, a
devoção, a proteção, o apego, a gratidão, a ternura, etc.
"Afeição é usado filosoficamente em sua maior extensão e generalidade, porquanto designa todo
estado, condição ou qualidade que consiste em sofrer uma ação sendo influenciado ou modificado por
ela" Abbagnano (1971). Implica, portanto, em uma ação sofrida. Diz-se que um metal é afetado pelo
ácido, e que alguém tem uma afecção pulmonar, mas as palavras afeto e paixão são reservadas aos
humanos.
Aristóteles chamou de afetivas as qualidades sensíveis porque cada uma delas produz uma afeição dos
sentidos. Ao declarar no princípio De anima o objetivo de sua investigação, mostra que visava
conhecer, além da natureza e da substância da alma, tudo o que acontece à alma, tanto as afeições
que lhes são próprias, quanto aquelas que tem em comum com os animais. Mas, a palavra afeição não
só designa o que acontece à alma, como ainda qualquer modificação que ela sofra. Esse caráter
passivo das afeições da alma parecia ameaçar a autonomia racional. Daí os estoicos marcarem uma
dicotomia que chega aos nossos dias, as afeições e por extensão as emoções seriam irracionais. Com
essa polarização o irracional (não humano, ou animal) toma conotação moralmente negativa. Para a
afeição são criadas expressões como perturbattio animi, ou concitatio nimia, usadas por Cícero e
Sêneca. Vem de muito longe a questão do menosprezo ao afeto como menor, frente ao racionalismo
desejável e triunfante. A noção de que a afeição pode ser boa ou má segue até Santo Agostinho e os
escolásticos, que mantêm o ponto de vista aristotélico da neutralidade da afeição. Entre o bem e mal,
esclarece Santo Agostinho, as afeições precisam ser moderadas pela razão, ponto de vista também
defendido por Tomás de Aquino.
As questões valorativas sobre a qualidade ou modificações produzidas no ser humano pela afeição
(como ação externa) são mantidas na tradição filosófica. É expressa geralmente com a palavra passio e
que a partir da metade do século XVIII assume seu significado moderno de paixão.
O tema faz parte da reflexão de praticamente todos os filósofos, desde a Antiguidade até nossos dias.
Sem esgotá-lo, cada autor traz novas luzes ou novos conflitos sobre o afeto. Spinoza, ao tratar de uma
questão anteriormente polemizada sobre a ação da afeição, nomeia seus subprodutos indispensáveis: o
agente e o paciente. É essa terminologia que ele usa para definir o que chama de affectus e que nós
chamamos de emoções e sentimentos. Ele considera as emoções, os sentimentos e as paixões como
impotência da alma que pode ser vencida desde que transformada em ideias claras e distintas. Assim a
ideia se distingue apenas racionalmente da emoção. De novo encontramos a desvalorização do afeto
como indesejável ou distúrbio, e já apresentado com seu eficiente antídoto, sua redução ou anulação
pela racionalidade. Spinoza vai mais longe apontando que Deus é desprovido de idéias confusas e que,
portanto, está isento da afeição. Este nos parece um argumento grandiloquente sobre a racionalidade
como a forma mais pura, verdadeira e mesmo divina de exercício da mente humana. Em nossos dias a
questão provoca divergências importantes pela concepção de um Deus desumanizado, que por sua
racionalidade estaria impedido de amar o que criou ou de acolher os que dele se aproximam. O triunfo
dessa racionalidade e a anulação do afeto sugerem uma defesa contra o desconhecido, o incontrolável
dos afetos despertados.
Esta complicada relação de causa e efeito entre Deus e suas criaturas provoca debates que
poderíamos dizer apaixonados. Platão na República, livro VI, diz que "Deus por ser bom não é causa de
tudo, como se diz comumente. Para o que há de bem Ele é o único autor, mas para o que há de mal é
preciso encontrar a causa fora de Deus". Isto nos leva a dizer que o afeto não é de Deus por ser mau e
não se pode reclamar que ele tenha sido criado por Deus. Nessa consideração do afeto entre Deus e os
homens poderíamos também tomar as palavras de São Paulo: "a sabedoria dos homens é loucura aos
olhos de Deus e a sabedoria de Deus é a loucura aos olhos dos homens". Platão diz também que a
sabedoria dos homens é a loucura aos olhos do sábio e que a sabedoria do sábio é loucura aos olhos
dos homens. Isto nos remete à questão da falta de objetividade do saber ou das incertezas do que
costumamos chamar de verdade, possível na pureza do mundo intelectual, mas sujeita à
impossibilidade do encontro de saberes (verdades). Resta-nos fazer uma reflexão sobre qual o caminho
da verdade na questão do afeto, tão sujeita a juízo de valor.
É bom lembrar que essas questões inconciliáveis do afeto estão permeadas pelo sofrimento humano. A
submissão na fé ou a aceitação complacente das concepções religiosas podem ser questionadas pelo
que se costuma chamar de livre pensamento. Mas, este caminho tantas vezes considerado como uma
espécie de razão humana, não é senão um outro tipo de afeto, chamado sentimento de liberdade. Esta
palavra mágica é, entretanto, relacionada à razão humana e se constitui um orgulho nosso.
Você também pode gostar
- Crônica - Português 7º AnoDocumento4 páginasCrônica - Português 7º AnomourianeAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro Etica Profissional Lopes SáDocumento33 páginasResumo Do Livro Etica Profissional Lopes SáPaulo Monteiro71% (7)
- 1 A Grande Omissão - Dallas Willard 1a ParteDocumento10 páginas1 A Grande Omissão - Dallas Willard 1a ParteAnderson Arley FrancoAinda não há avaliações
- REVELLES, C. Convicções NativasDocumento11 páginasREVELLES, C. Convicções NativasChrystian Revelles GattiAinda não há avaliações
- Religião A Partir Da Filo OntologiaDocumento12 páginasReligião A Partir Da Filo OntologiaIgor LobãoAinda não há avaliações
- Apostila Introdução A Filosofia BibliaDocumento6 páginasApostila Introdução A Filosofia BibliaAugusto Piloto Silva Junior100% (1)
- Antropologia Teológica E Direitos Humanos: Maria Elisabeth Moura GonçalvesDocumento19 páginasAntropologia Teológica E Direitos Humanos: Maria Elisabeth Moura GonçalvesSr. CactoAinda não há avaliações
- Adenauer Novaes Filosofia e EspiritualidadeDocumento218 páginasAdenauer Novaes Filosofia e EspiritualidadeMarcelo PetryAinda não há avaliações
- Exercício Nº 2Documento9 páginasExercício Nº 2João AzinheiraAinda não há avaliações
- Atividade Filosofia 2Documento2 páginasAtividade Filosofia 2shiro mimiiAinda não há avaliações
- Livro - Unidade 1Documento12 páginasLivro - Unidade 1Joyce ReisAinda não há avaliações
- A Dualidade HumanaDocumento35 páginasA Dualidade HumanaEdilvan Moraes LunaAinda não há avaliações
- Corrigido 2 PDFDocumento11 páginasCorrigido 2 PDFJoão Luiz JuninhoAinda não há avaliações
- A Dimensão ReligiosaDocumento15 páginasA Dimensão ReligiosaMafalda PereiraAinda não há avaliações
- EmpirismoDocumento2 páginasEmpirismohtttpluizAinda não há avaliações
- Livro - Unidade 1Documento12 páginasLivro - Unidade 1Fabiana De Jesus SilvaAinda não há avaliações
- Introdução A FilosofiaDocumento22 páginasIntrodução A Filosofiaartthur075Ainda não há avaliações
- Deleuze e Chauí, Leituras Paralelas Sobre A Ética de EspinosaDocumento15 páginasDeleuze e Chauí, Leituras Paralelas Sobre A Ética de EspinosaRicardo ValenteAinda não há avaliações
- Filosofia Da ReligiãoDocumento83 páginasFilosofia Da ReligiãoHamilton MitsumuneAinda não há avaliações
- Trabalho 1-NovelaDocumento11 páginasTrabalho 1-NovelaMomade ChandeAinda não há avaliações
- Apostila 4 - Histórico Da Psicologia Da EducaçãoDocumento12 páginasApostila 4 - Histórico Da Psicologia Da EducaçãoRhamonSilvaAinda não há avaliações
- Psicologia Power PointDocumento61 páginasPsicologia Power PointHenrique TorresAinda não há avaliações
- Psicanálie e Sua EpistemologiaDocumento9 páginasPsicanálie e Sua EpistemologiabarbosadlAinda não há avaliações
- Filosofia Da ReligiãoDocumento6 páginasFilosofia Da ReligiãoDhonas Cruz0% (1)
- F Projeto de Salvação Do HomemDocumento17 páginasF Projeto de Salvação Do HomemaaaaaaaaaAinda não há avaliações
- Victor de Araújo NegreirosDocumento10 páginasVictor de Araújo NegreirosVictor AraújoAinda não há avaliações
- O Corpo e Seus Dialogos Reflexoes SobreDocumento20 páginasO Corpo e Seus Dialogos Reflexoes Sobreh2oc4rAinda não há avaliações
- Dissertação de Filosofia CompletaDocumento3 páginasDissertação de Filosofia CompletaRafael CorreiaAinda não há avaliações
- ACONSELHAMENTODocumento46 páginasACONSELHAMENTOLucas FerrariniAinda não há avaliações
- Psicologia e Espiritualidade (Adenáuer Novaes)Documento205 páginasPsicologia e Espiritualidade (Adenáuer Novaes)carlosvernierAinda não há avaliações
- Proposições Acerca Da Metafísica - Filipe Silva PDFDocumento2 páginasProposições Acerca Da Metafísica - Filipe Silva PDFFilipe Augusto O. SilvaAinda não há avaliações
- Avaliação Historia SetembroDocumento5 páginasAvaliação Historia SetembroVitor SimõesAinda não há avaliações
- Estágios Da EspiritualidadeDocumento5 páginasEstágios Da EspiritualidadeAdney AngeloAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia - 9º AnoDocumento25 páginasApostila de Filosofia - 9º AnoRaymakson CarvalhoAinda não há avaliações
- Apostila de Fenomeno ReligiosoDocumento9 páginasApostila de Fenomeno ReligiosoElber Costa LourençoAinda não há avaliações
- Faculdade Pedagogia, Trabalho Filosofia EudesDocumento3 páginasFaculdade Pedagogia, Trabalho Filosofia EudesDanilo OliveiraAinda não há avaliações
- Lógica Formal e Ideologia (Thiago Quillice)Documento4 páginasLógica Formal e Ideologia (Thiago Quillice)api-3767762Ainda não há avaliações
- Tentando Pensar e Viver Como Um Reformado (2) (JMC - 01.05.2023)Documento6 páginasTentando Pensar e Viver Como Um Reformado (2) (JMC - 01.05.2023)karpov1983Ainda não há avaliações
- Trabalho Sem.02 Vanessa SaladaDocumento10 páginasTrabalho Sem.02 Vanessa SaladaVanessa SaladaAinda não há avaliações
- Exercício - O Que É FilosofiaDocumento4 páginasExercício - O Que É FilosofiaFabricio AlmeidaAinda não há avaliações
- Ética e A ReligiãoDocumento20 páginasÉtica e A ReligiãoPaulo GomesAinda não há avaliações
- Deus Nã o é o Que Vocã Pensa-1Documento24 páginasDeus Nã o é o Que Vocã Pensa-1Guadalupe BerbigierAinda não há avaliações
- Artigo Santo AgostinhoDocumento16 páginasArtigo Santo AgostinhoLarissa Costa BoenoAinda não há avaliações
- CHAUI, Marilena. em Busca de Uma Definição de FilosofiaDocumento4 páginasCHAUI, Marilena. em Busca de Uma Definição de FilosofiaDaniel Castro Alves75% (4)
- Ética - HivannaDocumento10 páginasÉtica - HivannaNathalia RodriguesAinda não há avaliações
- Apostila - A Psicologia Do AmorDocumento29 páginasApostila - A Psicologia Do AmorfrancischettoAinda não há avaliações
- Apostila de Filosofia Da ReligiãoDocumento4 páginasApostila de Filosofia Da ReligiãoJonas SabinoAinda não há avaliações
- Psicologia Da ReligiãoDocumento24 páginasPsicologia Da ReligiãoPr-Wallace SantosAinda não há avaliações
- Psicologia e EspiritualidadeDocumento7 páginasPsicologia e EspiritualidadeTAGAinda não há avaliações
- Filosofia Da Religiao Um Pensar No Pai - IIDocumento10 páginasFilosofia Da Religiao Um Pensar No Pai - IIJosuel de Souza FerreiraAinda não há avaliações
- O Fenômeno Religioso Na Obra O Espírito Do Ateísmo de André Comte-SponvilleDocumento12 páginasO Fenômeno Religioso Na Obra O Espírito Do Ateísmo de André Comte-SponvilleVictor FrançaAinda não há avaliações
- A Alma e Seu Mecanismo (Alice Bailey)Documento84 páginasA Alma e Seu Mecanismo (Alice Bailey)Dom ColibriAinda não há avaliações
- Teorias Da PersonalidadeDocumento16 páginasTeorias Da PersonalidadeAna AntunesAinda não há avaliações
- O Pensamento Religioso e o Pensamento FilosóficoDocumento4 páginasO Pensamento Religioso e o Pensamento FilosóficoGuilherme Reis De SousaAinda não há avaliações
- Ética e Violência (Slide)Documento20 páginasÉtica e Violência (Slide)Mary SenaAinda não há avaliações
- Filosofia MedievalDocumento56 páginasFilosofia MedievalMillakpgAinda não há avaliações
- Imaginação versus Realidade: Navegando pelos Mundos da Experiência HumanNo EverandImaginação versus Realidade: Navegando pelos Mundos da Experiência HumanAinda não há avaliações
- Lição 4 - A Estrutura Da BíbliaDocumento2 páginasLição 4 - A Estrutura Da BíbliaPosto TigraoAinda não há avaliações
- A Esposa de PilatosDocumento2 páginasA Esposa de PilatoslorenaAinda não há avaliações
- Literatura Infantil 1Documento16 páginasLiteratura Infantil 1Karoline MoreiraAinda não há avaliações
- Cartilha Animais LIBRASDocumento37 páginasCartilha Animais LIBRASclovis meneses da silvaAinda não há avaliações
- Regência Nominal Na Construção Do Texto.Documento25 páginasRegência Nominal Na Construção Do Texto.Gustavo Paz100% (1)
- 1 - Frameworks de Big Data - Uma Visão GeralDocumento18 páginas1 - Frameworks de Big Data - Uma Visão GeraldeniltonAinda não há avaliações
- Stored Procedures e Triggers No FirebirdDocumento19 páginasStored Procedures e Triggers No FirebirdLeon FlorAinda não há avaliações
- Como Usar o InstallShield (Instalações) ..Documento6 páginasComo Usar o InstallShield (Instalações) ..EliasAinda não há avaliações
- Z BEP 03 - GABARITODocumento1 páginaZ BEP 03 - GABARITOrosiane campos matheus alvesAinda não há avaliações
- Datador VideojetDocumento141 páginasDatador VideojetCassio Oliveira100% (1)
- Book Four Corners Level 3a Unit 2 Personal Stories Lesson C I Was Really Frightenedpages 18 and 19 Passive VoiceDocumento21 páginasBook Four Corners Level 3a Unit 2 Personal Stories Lesson C I Was Really Frightenedpages 18 and 19 Passive Voice3142 Nguyễn Thị Kim NgânAinda não há avaliações
- Pentateuco SamaritanoDocumento19 páginasPentateuco SamaritanoDanilo FinesAinda não há avaliações
- Eduardo Lourenço-Pessoa RevisitadoDocumento15 páginasEduardo Lourenço-Pessoa RevisitadoBruno Tinelli100% (1)
- BOUTINET, 2002 - Antropologia - Do - ProjetoDocumento32 páginasBOUTINET, 2002 - Antropologia - Do - ProjetoJonatan Possebon CarvalhoAinda não há avaliações
- Os NazarenosDocumento36 páginasOs Nazarenosgedeoli100% (3)
- TC Usp-Unicamp 2019 2 Fase - Lobão - CorrigidoDocumento12 páginasTC Usp-Unicamp 2019 2 Fase - Lobão - Corrigidopedroo.jorgeAinda não há avaliações
- 3.evangelismo JuvenilDocumento24 páginas3.evangelismo JuvenilGabrielAinda não há avaliações
- 05 - Dicionario - de - Acordes - para - Piano - TecladoDocumento62 páginas05 - Dicionario - de - Acordes - para - Piano - TecladoMarcos100% (1)
- Juliano Spyer - A Esquerda e Os Desigrejados - 21 - 09 - 2022 - Juliano Spyer - FolhaDocumento6 páginasJuliano Spyer - A Esquerda e Os Desigrejados - 21 - 09 - 2022 - Juliano Spyer - FolhaOtávio LopesAinda não há avaliações
- El Arte de Escribir de Ana Lúcia Pinto Duque PDFDocumento578 páginasEl Arte de Escribir de Ana Lúcia Pinto Duque PDFMartín Grinberg FaigónAinda não há avaliações
- Plágio, Palvras Escondidas. Debora Diniz. Ana TerraDocumento100 páginasPlágio, Palvras Escondidas. Debora Diniz. Ana TerraMarcia Jovani DE Oliveira NunesAinda não há avaliações
- Livro 02 - Padrões GRASPDocumento55 páginasLivro 02 - Padrões GRASPMarco Antonio Maciel PereiraAinda não há avaliações
- O Culto Cristão PDFDocumento24 páginasO Culto Cristão PDFHermes OliveiraAinda não há avaliações
- Edital 2022 14 Resultado Final PPPDocumento168 páginasEdital 2022 14 Resultado Final PPPTati SantosAinda não há avaliações
- Folheto Litúrgico - Transfiguração - 06-08-2023Documento3 páginasFolheto Litúrgico - Transfiguração - 06-08-2023Eukdmar'sAinda não há avaliações
- Comunicao 140826210134 Phpapp02Documento25 páginasComunicao 140826210134 Phpapp02Lourdes CaldartAinda não há avaliações
- Claiton Natal 1.000 Questoes Carreiras Policiais GramáticaDocumento28 páginasClaiton Natal 1.000 Questoes Carreiras Policiais GramáticaDébora Ribeiro100% (1)
- Material Didático - Aula de RevisãoDocumento3 páginasMaterial Didático - Aula de RevisãoTiago RodrigoAinda não há avaliações
- Estudo Português 7°anosDocumento5 páginasEstudo Português 7°anosJanaína SousaAinda não há avaliações