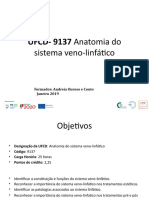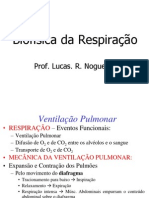Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
SISTEMA LINFÁTICO - 2007 - Revisão de Literatura
SISTEMA LINFÁTICO - 2007 - Revisão de Literatura
Enviado por
1RogerioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
SISTEMA LINFÁTICO - 2007 - Revisão de Literatura
SISTEMA LINFÁTICO - 2007 - Revisão de Literatura
Enviado por
1RogerioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Interbio v.1 n.
2 2007 - ISSN 1981-3775
13
SISTEMA LINFTICO: REVISO DE LITERATURA
LYMPHATIC SYSTEM: LITERATURE REVIEW YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes 1
Resumo O sistema linftico representa uma via auxiliar ao sistema circulatrio sangneo, cuja funo recolher o liquido intersticial que no retornou aos capilares sangneos. Alm de recolher os lquidos intersticiais o sistema linftico executa um processo de filtragem dos lquidos reconduzindo-o ao sistema circulatrio sangneo.A pesquisa teve como objetivo principal esclarecer, de forma profunda, toda a fisiologia e a anatomia do sistema linftico, visando o conhecimento abrangente de suas funes para o organismo como um todo. Visto que atualmente, as caractersticas essenciais da funo linftica esto estabelecidas, ainda que muitos aspectos, sobretudo as funes ganglionares e seu papel nas reaes imunolgicas encontrem-se relativamente pouco elucidados.Diante dos resultados apresentados, atravs da pesquisa bibliogrfica, torna-se importante dar ateno especial ao estudo do sistema linftico e suas funes, caractersticas, estruturas que o compe e patologias associadas, com a finalidade de prevenir os eventos patolgicos relacionados ao sistema linftico ou tentar inibir patologias agregadas, como varizes, telangectasias, assim tentando melhorar o funcionamento desse sistema. Portanto, diminuindo os possveis riscos de desenvolvimento de alteraes patolgicas do sistema linftico. Palavras-chave: sistema linftico, linfa, linfticos, edema.
Abstract The Lymphatic system represents a assistant way for circulatory system, whose function is collect the interstitial liquid what didnt get back to sanguineous capillaries. In addition of collect the interstitial liquid, the lymphatic system executes a liquid filtering process and lead backing it to blood circulatory system.The research had for main objective to clarify, in deeply form, all physiology and the anatomy of lymphatic system, aiming at the knowledge including of its functions for the organism as all.Seeing actually, the essential characteristics of lymphatic function are established, despite in many aspects, over all ganglion functions and your function in immunological relations is found relatively in low elucidates.In front at the results presented, through the bibliographic research, become important give a special attention in study of lymphatic system and its functions, characteristics, structures what compound it and associated pathologies, with finality of prevent the pathological events related with lymphatic system ore try to inhibit added pathologies, as varices, telangectasia, trying to improve the functioning of this system, therefore, reducing the possible risks of development of pathological alterations in lymphatic system.
Key-Words: lymphatic system, lymph, lymphatic, edema.
Tecnloga em Esttica e Cosmetologia. Ps-graduanda em Metodologia do ensino superior no Centro Universitrio da Grande Dourados Unigran/MS. E-mail: paulanantes@yahoo.com.br/ paula_yamato@hotmail.com. YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007 - ISSN 1981-3775
14
Introduo O sistema linftico tem sua origem embrionria no mesoderma, desenvolvendose junto aos vasos sanguneos. Durante a vida intra-uterina, algumas modificaes no desenvolvimento embrionrio podem constituir caractersticas morfolgicas pessoais, que variam entre os indivduos (GARRIDO, 2000). O sistema linftico representa uma via auxiliar de drenagem do sistema venoso. Os lquidos provenientes do interstcio so devolvidos ao sangue atravs da circulao linftica, que est intimamente ligada circulao sangunea e aos lquidos teciduais. (RIBEIRO, 2004). De acordo Guirro e Guirro (2004), o sistema linftico se assemelha ao sanguneo, porm, existem diferenas entre esses dois sistemas, como ausncia de um rgo bombeador no sistema linftico, alm deste ser microvasculotissular. As artrias e veias do sistema de vasos sanguneos formam uma circulao completa ou fechada, que impulsionada pelo corao. O sistema de vasos linfticos forma apenas uma meia circulao que se inicia cegamente no tecido conjuntivo e desemboca pouco antes do corao, nas veias. O fluxo linftico impelido principalmente pela contrao dos linfangions e tambm atravs das atividades musculares (HERPERTZ, 2006). O sistema linftico consiste de uma extensa rede de capilares e amplos vasos coletores, linfonodos e rgos linfides (linfonodo, tonsilas, bao e timo) (SPENCE, 1991). O presente artigo tem como objetivo abordar o tema de forma a esclarecer questes anatmicas e fisiolgicas das estruturas que compem o sistema linftico, alm de patologias relacionadas com esse sistema. Estrutura do sistema linftico A linfa Segundo Ribeiro (2004), a linfa
representa um tecido imunolgico circulante que transporta uma grande quantidade de leuccitos, predominando quase que exclusivamente os linfcitos. As vias linfticas so constitudas por capilares linfticos, vasos linfticos e troncos linfticos. A linfa desempenha importante papel no transporte de substncias no organismo, ajuda a eliminar o excesso de lquido e produtos que deixaram a corrente sangnea, tendo ao imunolgica, isto , a linfa rica em anticorpos. Quando o sistema circulatrio e/ou linftico no cumpre corretamente suas funes, o corpo fica sobrecarregado por excesso de lquido que no consegue absorver. Na maioria dos casos, esse fenmeno se traduz por sintomas como celulite, reteno de lquidos, peso nas pernas e aparecimento de edema, mais conhecido como linfedema. (CUNHA E BORDINHON, 2004). Transporte da linfa Contrao dos msculos vizinhos: O aumento da presso fora uma maior quantidade de lquido para dentro dos capilares linfticos, modificando a presso interna do capilar, desencadeando uma seqncia de contraes, que tambm sero transmitidas para segmentos subseqentes. A intensa atividade muscular eleva tambm a temperatura da regio, levando a um aumento das contraes da musculatura lisa dos capilares linfticos. A ao do diafragma sobre o transporte da linfa: A respirao provoca uma mudana de presso na caixa torcica; onde na inspirao, esta se dilata e seu volume aumenta consideravelmente pela descida do diafragma, mudanas pelas quais esto acompanhadas por uma presso negativa em relao presso atmosfrica. Assim o vcuo parcial que se forma na caixa torcica no somente impele o ar para dentro dos pulmes, como tambm facilita o avano do fluxo linftico. A pulsao das grandes artrias: Os vasos linfticos se encontram
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
15
quase sempre nas proximidades dos vasos sangneos, de modo que a pulsao das grandes artrias repercute tambm nos vasos linfticos, fatos este coadjuvante na motricidade dos vasos linfticos (CUNHA E BORDINHON, 2004). Vias Linfticas As vias linfticas so compostas de capilares, vasos e troncos. Os capilares apresentam-se sob forma de fundo cego, isto , so fechados com suas extremidades ligeiramente dilatadas sob forma de pequenos bulbos. Os capilares linfticos no so reconhecveis em cortes histolgicos da pele, nem mesmo por meio de lingangiografia (GUIRRO E GUIRRO, 2002). Os capilares linfticos dispostos em forma de redes fechadas espalham-se por todo corpo, dando origem aos vasos linfticos. Os vasos linfticos por sua vez possuem propriedades fsicas de alongamento e contratilidade. Possuem tambm em seu lume, ao contrario dos capilares linfticos, vlvulas que permitem a passagem da linfa e impedem seu refluxo (RIBEIRO, 2004). Os vasos linfticos so distribudos na seguinte subdiviso: linfticos iniciais, prcoletores, coletores e ducto torcico. Os linfticos iniciais se iniciam como pequenos tubos em forma de dedo ou em forma de lao e aparecem fechados para o interstcio. Os linfticos iniciais no possuem vlvulas como os demais, somente pregas endoteliais salientes no lmem capilar. Os vasos linfticos iniciais so compostos por um cilindro de clulas endoteliais (tnica intima), esses vasos se diferenciam dos capilares sangneos por: um lmem maior e mais regular que os dos capilares sangneos; um endotlio dotado de um citoplasma tnue, exceto na regio perinuclear; uma membrana basal interrompida; um grande nmero de conexes celulares endoteliais (LEDUC E LEDUC, 2000).
Os vasos pr-coletores, alm de apresentarem a estrutura dos capilares, so envolvidos internamente por tecido conjuntivo, elementos elsticos e musculares. Estes segmentos valvulados possibilitam a contrao e a distenso destes vasos (GUIRRO E GUIRRO, 2002). Os coletores so vasos onde desembocam os pr-coletores. Estes so mais ricos em vlvulas que as veias, o que lhes confere um aspecto de colar de prolas (linfografia). Os coletores retiram a linfa de zonas da pele em formato de tiras. Tal como as artrias importantes e as grandes veias, os coletores linfticos se compem de trs camadas diferentes: Tnica intima - camada mais interna onde h fibras elsticas dispostas longitudinalmente; Tnica mdia compe a maior parte da parede do coletor, formada por musculatura lisa arranjada em forma espiral, seguindo a contratilidade dos vasos; Tnica adventcia - a mais externa e espessa de todas, formada por fibras de colgeno dispostas longitudinalmente, entre as quais existem fibras elsticas e feixes de musculatura longitudinal (LEDUC E LEDUC, 2000; GUIRRO E GUIRRO. 2002) Os troncos linfticos so: o ducto torcico e o ducto linftico direito e esquerdo, sendo o maior vaso linftico o ducto torcico (HERPERTZ, 2006). O ducto torcico recebe a linfa dos membros inferiores e dos rgos abdominais. Dirige-se na direo pescoo diafragma, sobe pelo trax adiante da coluna vertebral, na altura da clavcula faz uma curva para o lado esquerdo, passando prximo artria cartida esquerda, do nervo vago e da veia jugular interna, inclinase para baixo para desembocar no ngulo venoso esquerdo (juno da veia subclvia esquerda com a veia jugular esquerda) e recebe a linfa do ducto linftico esquerdo. O ducto esquerdo formado pela juno do tronco jugular esquerdo, que traz a linfa da parte esquerda da cabea, com o tronco subclvio esquerdo, provindo do brao esquerdo. Os dois troncos renem-se pouco antes de penetrarem no ducto torcico. O
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
16
ducto direito consiste na juno do tronco jugular direito com os troncos subclvio direito e branco mediastinal ascendente (que traz a linfa da parte superior do trax direito. A juno dos trs troncos d-se prximo clavcula) (CUNHA E BORDINHON, 2004). Tecidos linfides Os tecidos linfides so os linfonodos, o bao, timo e amdalas. Tais rgos no possuem associao direta com os vasos do sistema linftico ou com a linfa, mas fazem parte do sistema imune do organismo (SPENCE, 1991). Conforme Gardner (1988), a produo de linfcitos a principal funo dos tecidos linfides e rgos linfticos. Os linfcitos tm importante papel no desenvolvimento das resposta imunolgicas, produo de anticorpos e reaes imunes. A ao dos tecidos linfticos servindo como filtros em certas condies patolgicas deram origem a teoria de barreira, segundo a qual esses tecidos desempenham importante papel nos mecanismos de defesa do corpo. Partculas inertes, como o carbono, bactrias, vrus, clulas cancerosas e hemcias so retidas nos tecidos linfticos. Os tecidos linfticos, no entanto, s so barreiras at certo ponto, pois os seus vasos aferentes podem permitir a disseminao de infeces e neoplasias malignas para outros rgos e tecidos. Linfonodo Os linfonodos so tambm conhecidos como gnglios linfticos ou nodos linfticos. Porm essa terminologia est incorreta, pois a terminologia gnglio restrita a estruturas do sistema nervoso. So formaes que se dispe ao longo dos vasos do sistema linftico em nmero de 600 a 700 ndulos em todo o organismo. So importantes rgos filtradores e esto envoltos por uma cpsula fibrosa e apresentam em seu interior septos conjuntivos que os dividem em lobos. Os vasos que chegam aos linfonodos (linfticos aferentes) so mais numerosos e
mais finos do que os que saem (linfticos eferentes) e por esse motivo que o fluxo nessa regio lento. H grupos de linfonodos na axila, virilha, pescoo, perna, bem como em vrias regies profundas do corpo (GUIRRO E GUIRRO, 2002). De acordo Di Dio (1999), os linfonodos da pelve so de diversos tamanhos, nmero e localizao, sendo quatro grupos principais localizados ou prximos da pelve, recebendo a maior parte dos vasos linfticos. Os linfonodos dessa regio so nomeados de acordo com as artrias com as quais se associam, porm a diviso em grupos definitivos algo arbitrrio. Alm desses linfonodos, pequenos outros se localizam no tecido conectivo ao longo da via de passagem de vrios ramos da artria ilaca interna. Bao, Timo e Tonsilas O bao um rgo linfide situado no lado esquerdo da cavidade abdominal, junto ao diafragma, ao nvel das 9a, 10a e 11a costelas. Apresenta duas faces distintas, uma relacionada com o diafragma (face diafragmtica) e outra voltada para as vsceras abdominais (face visceral). Na face visceral localiza-se o hilo do bao, por onde penetram vasos e nervos (DANGELO E FATTINI, 1998). J o Timo uma massa bilobada de tecido linfide localizada abaixo do esterno, na regio do mediastino anterior. Ele aumenta de tamanho durante a infncia, quando ento comea a atrofiar-se lentamente, diminuindo aps a puberdade. No adulto ele pode ser inteiramente substitudo por tecido adiposo. O timo confere a determinados linfcitos a capacidade de se diferenciarem e maturarem em clulas que podem efetuar o processo de imunidade mediada por clulas. H certas evidncias de que o tio tambm produz um hormnio que pode continuar a influenciar os linfcitos aps eles terem deixado a glndula. E por fim as Tonsilas que so massas pequenas de tecido linfide includas da mucosa de revestimento das cavidades bucal e farngea. As tonsilas palatinas esto
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
17
localizadas na parede pstero-lateral da garganta, uma em cada lado. As tonsilas farngeas se localizam na parte nasal da faringe. As tonsilas linguais esto localizadas na face dorsal da lngua, prxima a sua base. Compostas por tecido linfide e circundando a unio das vias bucal e nasal, as tonsilas desempenham papel adicional contra invaso bacteriana (SPENCE, 1991) Funes do sistema linftico Segundo Spence (1991), o sistema linftico possui vrias funes importantes, como: destruio de bactrias e substncias estranhas, que so removidas da linfa atravs dos fagcitos presentes nos linfonodos. Respostas imunes especficas presena de bactrias ou substncias estranhas, com a produo de anticorpos que destroem as substncias invasoras. Retorno do lquido intersticial para corrente sangnea, atravs dos capilares que esto primariamente envolvidos com a coleta do plasma dos espaos tissulares e o transporte desse plasma o sistema venoso. No seu caminho a linfa passa atravs dos linfonodos onde partculas so eliminadas por fagcitos, prevenindo desse modo que essas partculas entrem pelo sangue (MOORE, 1994). Quase todos os tecidos do corpo tm canais linfticos que drenam o excesso de liquido diretamente dos espaos intersticiais. As excees incluem as pores superficiais da pele, o sistema nervoso central, o endomsio dos msculos e os ossos. O sistema linftico pode transportar protenas e material particulado grande para fora dos espaos teciduais, funo que os capilares sanguneos no teriam capacidade de realizar. Esse retorno das protenas funo essencial (GUYTON E HALL, 2002). Formao da linfa A gua carregada de elementos nutritivos, sais minerais e vitaminas deixam a luz do capilar arterial, chega ao meio
intersticial e banha as clulas. Estas retiram desse liquido os elementos necessrios a seu metabolismo e eliminam os produtos de degradao celular. Em seguida, o lquido intersticial retomado pela rede de capilares venosos (LEDUC E LEDUC, 2000). Segundo Guyton e Hall (2002), a linfa deriva do lquido intersticial que flui para os linfticos. Dessa forma, logo que entra nos linfticos terminais, a linfa tem quase a mesma composio do lquido intersticial. Cerca de 100 mililitros de linfa fluem por hora pelo canal torcico no humano em repouso, e aproximadamente outros 20 mililitros fluem para circulao a cada hora atravs de outros canais, perfazendo o total de intensidade de fluxo de linfa estimado em cerca de 120 mL/h, isto , 2 a 3 litros por dia. A intensidade do fluxo da linfa determinada pelo produto da presso do lquido intersticial pela atividade da bomba linftica. Segundo Camargo (2000) O mecanismo de formao da linfa envolve, ento, trs processos muito dinmicos e simultneos: a ultra-filtrao que o movimento de sada de H2O, O2 e nutrientes do interior do capilar arterial para o interstcio, ocorrendo pela Presso Hidrosttica positiva no capilar arterial e a Presso Hidrosttica negativa ao nvel do interstcio. J a absoro venosa o movimento de entrada de H2O, CO2, pequenas molculas e catablitos do interstcio para o interior do capilar venoso, ocorrendo por difuso, quando a presso intersticial maior do que a existente no capilar venoso. A absoro linftica o incio da circulao linftica, determinada pela entrada do lquido intersticial, com protenas de alto peso molecular e pequenas clulas no interior do capilar linftico inicial, que ocorre quando a presso positiva e os filamentos de proteo abrem as micro-vlvulas endoteliais da parede do capilar linftico. Este comea a ser preenchido pelo lquido intersticial e quando preenchido ao mximo, as microvlvulas se fecham iniciando a propulso da linfa atravs dos pr-coletores e coletores.
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
18
Circulao linftica Os capilares linfticos so dotados de alta permeabilidade, permitindo a passagem de protenas, cristalides e gua. O fluxo da linfa relativamente lento; aproximadamente trs litros de linfa penetram no sistema cardiovascular em 24 horas. Esse fluxo lento porque, ao contrrio do sistema cardiovascular, o sistema linftico para fluir depende de foras externas e internas ao organismo, tais como: a gravidade, os movimentos passivos, a massagem e/ou a contrao muscular, a pulsao das artrias prximas aos vasos, o peristaltismo visceral e os movimentos respiratrios. A linfa absorvida nos capilares linfticos transportada para os vasos prcoletores, passando atravs de vrios linfonodos, sendo a filtrada e recolocada na circulao at atingir os vasos sanguneos. Toda linfa do organismo acaba retornado ao sistema vascular sanguneo atravs de dois grandes troncos: o ducto torcico e ducto linftico direito (GUIRRO E GUIRRO, 2002). Fisiologia das Vias linfticas Os capilares linfticos, pr-coletores e coletores Os capilares linfticos possuem um endotlio mais delgado em relao ao sanguneo. Suas clulas endoteliais sobrepem-se em escamas, formando microvlvulas que se tornam prvias, permitindo sua abertura ou fechamento conforme o relaxamento ou a contrao dos filamentos de proteo. Quando tracionados os filamentos permitem a penetrao de gua, partculas, pequenas clulas e molculas de protenas no interior do capilar, iniciando ento a formao da linfa (GARRIDO, 2000). Segundo Leduc e Leduc (2000) os capilares linfticos constituem a rede de absoro que coletam o lquido da filtragem carregada de dejetos do metabolismo celular. Os capilares ou linfticos iniciais
so valvulados. Eles encontram-se dispostos em dedos de luvas, isto , num sistema tubular fechado. A progresso da linfa no nvel dos capilares facilitada por presses exercidas pelas concentraes dos msculos vizinhos e pela pulsao arterial. As mobilizaes de diversos planos tissulares entre si, durante movimentos do corpo, favorecem a progresso da corrente linftica. Enfim, as presses lquidas e tissulares tm um papel discreto, mas essencial, na manuteno da corrente linftica. Os vasos pr-coletores possuem uma estrutura bastante semelhante ao capilar linftico, sendo o endotlio coberto internamente por tecido conjuntivo, onde, em alguns pontos se prolongam juntamente com as clulas epiteliais, formando as vlvulas que direcionam o fluxo da linfa. Suas estruturas so fortalecidas por fibras colgenas, e atravs de elementos elsticos e musculares, possuem tambm as propriedades de alongamento e contratilidade (CAMARGO, 2000). Os coletores recebem a linfa para levla at os gnglios, os coletores so munidos de musculatura prpria que submete os vasos a contraes espetaculares, enviando a linfa pouco a pouco em direo a uma desembocadura terminal. A respirao favorece o retorno da linfa no canal torcico. Os movimentos de inspirao e de expirao produzem aumentos de presses seguidos de diminuies que atuam sobre a caixa torcica, facilitam o trnsito linftico at a sua desembocadura venosa (LEDUC E LEDUC, 2000). Edema O estado de equilbrio atingido quando as vias de drenagem so suficientes para evacuar o lquido trazido pela filtragem. Ocorre uma constante renovao do lquido intersticial na qual as clulas do corpo podem retirar os elementos necessrios ao seu metabolismo. Se no houver interrupo no ocorrer o edema. Quando o aporte de lquido filtrado se torna
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
19
mais importante e o sistema de drenagem no aumenta sua atividade, em conseqncia ocorre um desequilbrio entre a filtragem e a sua eliminao causando um acmulo de lquidos nos tecidos, a presso intratecidual aumenta e a pele distende (LEDUC E LEDUC, 2000). O lquido que se acumula nos espaos entre as clulas chamado de lquido intersticial, ou lquido tecidual. Sob condies normais uma pequena quantidade desse lquido tende a deixar os capilares do sistema cardiovascular, mais do que a eles retorna. As protenas plasmticas no atravessam facialmente as paredes dos capilares; todavia, como a poro lquida do sangue se desloca parta os espaos intercelulares, ela carrega uma pequena quantidade de protenas plasmticas. Se esse lquido e as protenas plasmticas se acumulam, os tecidos incham, produzindo uma condio denominada edema (SPENCE, 1991). Conforme Guirro e Guirro (2002), o termo edema refere-se ao acumulo de quantidades anormais de liquido nos espaos intersticiais ou nas cavidades do organismo. O edema conseqncia de um aumento nas foras que tendem a mover os fluidos do compartimento intravascular ao intersticial. Segundo Leduc e Leduc (2000), existem dois tipos de edema, um de origem vascular e outro de origem linftica. Cinicamente o edema de origem vascular apresenta o sinal de Cacifo, onde uma presso aplicada com o dedo o deprime e aps a supresso desta regio a depresso persiste. J o edema linftico totalmente diferente o vascular e aparece quando a rede de evacuao insuficiente, enquanto o aporte por filtragem normal. Segundo Guirro e Guirro (2002), as causas do edema so: Aumento da presso capilar: reteno renal excessiva de sal e gua; presso venosa elevada; diminuio da resistncia arteriolar; Diminuio da presso onctica do plasma: perda de protenas na urina; perda de protenas a partir da pele; incapacidade de produzir protenas;
Aumento da permeabilidade capilar: reaes imunes; toxinas; infeces bacterianas; deficincias vitamnicas; isquemia prolongada; queimaduras; Bloqueio de captao e retorno linftico: bloqueio dos linfonodos por neoplasia; bloqueio dos linfonodos por infeco; ausncia congnita ou anormalidade dos vasos. Concluses O sistema linftico um tema que vem sendo discutido sob diferentes abordagens, como: sua relao com as neoplasias, no ps-operatrio ou at mesmo no organismo sadio. Desde o sculo XVII, quando os vasos linfticos e o sistema linftico foram reconhecidos comearam as pesquisas nesse assunto, com o intuito de divulgar mais sobre o assunto e principalmente enfocar a importncia do sistema linftico no funcionamento geral do organismo. Assim o sistema linftico que antes vinha sendo considerado apenas um sistema paralelo ao sistema circulatrio sanguneo, passou a ser valorizado e reconhecido como auxiliar do sistema sanguneo e imunolgico. Referncias Bibliogrficas CAMARGO, M.; MARX, A. Reabilitao fsica no cncer de mama. Editora Roca. So Paulo: 2000. CUNHA, N.D.; BORDINHON, M.T. Efeitos da drenagem linftica em diversas patologias. Disponvel em: http://www.fai.com.br/fisio/ acesso em 05 de novembro de 2006. DANGELO, J.G.; FATTINI, C.A. Anatomia Humana Sistmica e Segmentar. 2. ed. So Paulo: Atheneu, 1998. 671 p. DI DIO, L.J.A. Tratado de Anatomia Aplicada. So Paulo: Pluss, 1999. 287 p. GARDNER, E.; GRAY, D.; ORARILLY, R.. Anatomia: estudo regional do corpo. 4.
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Interbio v.1 n.2 2007
20
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1988. 815 p. GARRIDO, M.. Sistema linftico: Embriologia e Anatomia. In: Garrido, M.; Ribeiro, A.. Linfangites e erisipelas. 2 edio. Rio de Janeiro: Editora Revinter, 2000 GUIRRO, E.C.O.; GUIRRO, R.R. Fisioterapia Dermato-funcional: fundamentos, recursos e patologias. 3. ed. So Paulo: Manole, 2002. 560 p. GUYTON, A.C; HALL, J.E. Tratado de fisiologia mdica. 10. ed Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A, 2002. 973 p. HERPERTZ, U. Edema e drenagem linftica: diagnstico e terapia do edema. 2. ed. So Paulo: Roca, 2006. 260 p. LEDUC, A,; LEDUC, O. Drenagem linftica: teoria e prtica. 2. ed. So Paulo: Manole, 2000. 66 p. MOORE, K.L. Anatomia orientada para clinica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1994. 831 p. RIBEIRO, D.R. Drenagem linftica manual da face. 6. ed. So Paulo: Senac. 2004. 76 p. SPENCE, A. Anatomia Humana Bsica. 2. ed. So Paulo: Manole, 1991. 713 p. VIEIRA, S.; HOSSNE, W.S. Metodologia cientfica para a rea da sade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 192p.
YAMATO, Ana Paula do Carmo Nantes
Você também pode gostar
- Ficha de Avaliação em FisioterapiaDocumento2 páginasFicha de Avaliação em FisioterapiaBruno Gallo83% (107)
- Seminário Edema Agudo PulmonarDocumento17 páginasSeminário Edema Agudo PulmonarManuella Luiza Fernandes100% (2)
- Drenagem Linftica Ps Cirrgica Apostila01Documento61 páginasDrenagem Linftica Ps Cirrgica Apostila01Paloma100% (4)
- Anatomia e Fisiologia Do Sistema LinfáticoDocumento26 páginasAnatomia e Fisiologia Do Sistema LinfáticoMariana Sousa100% (1)
- Apostila - Drenagem Linfática.Documento21 páginasApostila - Drenagem Linfática.Renato Kbello Dias100% (1)
- Caderno de Exercícios - NeuroanatomiaDocumento17 páginasCaderno de Exercícios - NeuroanatomiaAnderson Paulo50% (2)
- Drenagem Linfática ManualDocumento29 páginasDrenagem Linfática ManualTathi AbrahãoAinda não há avaliações
- Linfonodos - PORTODocumento13 páginasLinfonodos - PORTOEric NatanAinda não há avaliações
- Drenagem Linfática Manual Ii Prof Inês CristinaDocumento51 páginasDrenagem Linfática Manual Ii Prof Inês CristinaGrasiele LucianoAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento14 páginasIntroduçãoAgostinho José José MassacoAinda não há avaliações
- Apostila Drenagem LinfáticaDocumento33 páginasApostila Drenagem LinfáticaLolita Estetica FacialAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento5 páginasSistema LinfáticoKaren GonçalvesAinda não há avaliações
- Drenagem LinfáticaDocumento9 páginasDrenagem LinfáticaEdi Paiva100% (1)
- IntrDocumento6 páginasIntrOsvaldo Mendes SkkAinda não há avaliações
- Tutoria Sistema LinfáticoDocumento8 páginasTutoria Sistema LinfáticoJoão OlintoAinda não há avaliações
- Sistema Linfático Conceito, Órgãos, Funções - Brasil EscolaDocumento1 páginaSistema Linfático Conceito, Órgãos, Funções - Brasil Escolamariabarbosa141080Ainda não há avaliações
- Anatomia LinfaticoDocumento6 páginasAnatomia Linfaticorentcs100% (1)
- Sistema LinfaticoDocumento9 páginasSistema LinfaticoGian PessattoAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema LinfáticoDocumento48 páginasAnatomia Do Sistema LinfáticoBianca FranciscoAinda não há avaliações
- Todas As Aulas (Salvo Automaticamente)Documento142 páginasTodas As Aulas (Salvo Automaticamente)Renata Santana100% (3)
- E-Book Drenagem Linfática - Mundo Da DermatoDocumento35 páginasE-Book Drenagem Linfática - Mundo Da DermatoWEVERTON HUGO CARDOSO ROCHAAinda não há avaliações
- Aula 4 Sistema Linfatico AlunoDocumento29 páginasAula 4 Sistema Linfatico AlunostefsomAinda não há avaliações
- Drenagem LinfaticaDocumento168 páginasDrenagem LinfaticaEmília ReisAinda não há avaliações
- Sistema Linfatico PDFDocumento6 páginasSistema Linfatico PDFArquivos de FisioterapiaAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento7 páginasSistema LinfáticoShirleneSilAinda não há avaliações
- Documento Sem Título - 2024-03-28T153622.425Documento5 páginasDocumento Sem Título - 2024-03-28T153622.425victor alexandreAinda não há avaliações
- Apostila Curso Drenagem 2019Documento24 páginasApostila Curso Drenagem 2019Jackson MillerAinda não há avaliações
- Sistéma LinfaticoDocumento11 páginasSistéma LinfaticoAbel ArcanjoAinda não há avaliações
- 2 - Sistema Imunologico e LinfaticoDocumento10 páginas2 - Sistema Imunologico e LinfaticoIsabella PimentelAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema LinfáticoDocumento66 páginasAnatomia Do Sistema LinfáticoGabriel CostaAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento30 páginasSistema LinfáticoAnonymous 85j0VSCv67% (3)
- Sistema LinfáticoDocumento30 páginasSistema LinfáticoDenise LopesAinda não há avaliações
- Drenagem Linfática - Formação Profissional em MassoterapiaDocumento8 páginasDrenagem Linfática - Formação Profissional em MassoterapiaJuliana SilvaAinda não há avaliações
- Palestra de Drenagem Linfática ManualDocumento38 páginasPalestra de Drenagem Linfática ManualGlaucia Ricci100% (1)
- Sistema Linfatico Aplicado A ReflexologiaDocumento8 páginasSistema Linfatico Aplicado A ReflexologiaalexindiverAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento47 páginasSistema LinfáticoHelayne Da CostaAinda não há avaliações
- 15 - Anatomofisiologia Do Sistema LinfáticoDocumento15 páginas15 - Anatomofisiologia Do Sistema LinfáticoCristiano PereiraAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema LinfáticoDocumento3 páginasAnatomia Do Sistema LinfáticoC.N.OdontologiaAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema Linfático - Tema 3Documento43 páginasAnatomia Do Sistema Linfático - Tema 3Lais FerreiraAinda não há avaliações
- Apostila Drenagem Linfática Carol Fontoura-1Documento43 páginasApostila Drenagem Linfática Carol Fontoura-1Carol FontouraAinda não há avaliações
- Drenagem Linfática: Núcleo de Ensino em Saúde Escola de Massoterapia APOSTILA MASSAGEM APLICADADocumento21 páginasDrenagem Linfática: Núcleo de Ensino em Saúde Escola de Massoterapia APOSTILA MASSAGEM APLICADAGardielle AlmeidaAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema LinfáticoDocumento53 páginasAnatomia Do Sistema Linfáticojuliete de sousa meloAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento22 páginasSistema Linfáticoedicleiasoares08Ainda não há avaliações
- Unidade Iii - Sistema LinfáticoDocumento47 páginasUnidade Iii - Sistema Linfáticoisabellacassi.opsAinda não há avaliações
- Dinâmica Capilar e Formação de EdemaDocumento11 páginasDinâmica Capilar e Formação de EdemaJoao Luis Lima PassiniAinda não há avaliações
- Aula de Sistema LinfáticoDocumento25 páginasAula de Sistema LinfáticocursoedfisicaunipAinda não há avaliações
- Sistema Linfático - Sistemas - Aula de AnatomiaDocumento14 páginasSistema Linfático - Sistemas - Aula de AnatomiaGiovanna Haber100% (1)
- SLD 2Documento48 páginasSLD 2victoria karolineAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento4 páginasSistema Linfáticoalinevitoria5Ainda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema LinfáticoDocumento48 páginasAnatomia Do Sistema LinfáticoLuciana OliveiraAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento7 páginasSistema LinfáticoMiriam FilipaAinda não há avaliações
- Apostila Fisio Patologia Do Lin Fedem ADocumento7 páginasApostila Fisio Patologia Do Lin Fedem AGladnejpAinda não há avaliações
- CM 6 Sistema LinfáticoDocumento18 páginasCM 6 Sistema LinfáticoMaurício HerbertAinda não há avaliações
- Sistema LinfaticoDocumento26 páginasSistema LinfaticoSonimar FaulaAinda não há avaliações
- Sistema LinfáticoDocumento31 páginasSistema LinfáticoLuana Oliveira50% (2)
- Sistema LinfáticoDocumento2 páginasSistema LinfáticoAdriele ChagasAinda não há avaliações
- Sistema Linfático - LivroDocumento11 páginasSistema Linfático - LivroLais VargasAinda não há avaliações
- Drenagem No Pós OpDocumento13 páginasDrenagem No Pós OpRose Figueiredo100% (1)
- Avaliação do Controle Autonômico Baseada na Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca: Proposta de Método Otimizado para Ativação Vagal e Aplicação da Ferramenta para Estimativa da Dor em Intervenções ClínicasNo EverandAvaliação do Controle Autonômico Baseada na Análise da Variabilidade da Frequência Cardíaca: Proposta de Método Otimizado para Ativação Vagal e Aplicação da Ferramenta para Estimativa da Dor em Intervenções ClínicasAinda não há avaliações
- Modulo 2Documento7 páginasModulo 2Anderson PauloAinda não há avaliações
- Livro Epdemologia 1Documento71 páginasLivro Epdemologia 1Anderson PauloAinda não há avaliações
- Jejum Intermitente EbookDocumento2 páginasJejum Intermitente EbookAnderson PauloAinda não há avaliações
- Anatomia Do Sistema Livro 1 PDFDocumento67 páginasAnatomia Do Sistema Livro 1 PDFAnderson Paulo100% (1)
- UNIP - .. Secretaria OnlineDocumento1 páginaUNIP - .. Secretaria OnlineAnderson PauloAinda não há avaliações
- Teorias Do Controle Motor - Aula 1Documento62 páginasTeorias Do Controle Motor - Aula 1Anderson Paulo100% (1)
- Ondas Curtas e MicroondasDocumento45 páginasOndas Curtas e MicroondasAnderson PauloAinda não há avaliações
- Princípios Físicos Da Água 1Documento64 páginasPrincípios Físicos Da Água 1Anderson PauloAinda não há avaliações
- Uso de CompressasDocumento12 páginasUso de CompressasVanessa SilvaAinda não há avaliações
- Drenagem LinfaticaDocumento2 páginasDrenagem Linfaticavicontec2023Ainda não há avaliações
- Cartilha de Procedimentos Espaço MaisDocumento31 páginasCartilha de Procedimentos Espaço Mais100vetoresAinda não há avaliações
- Aula 4 - Biofísica - RespiraçãoDocumento27 páginasAula 4 - Biofísica - RespiraçãoCristiane AliceAinda não há avaliações
- Apostila - Tratamentos Corporais IDocumento20 páginasApostila - Tratamentos Corporais IRenata SantanaAinda não há avaliações
- Orientações Nutricionais para Pacientes Com Doença Renal Crônica em HemodiáliseDocumento32 páginasOrientações Nutricionais para Pacientes Com Doença Renal Crônica em HemodiáliseAline Broza100% (1)
- Avaliação EstéticaDocumento24 páginasAvaliação EstéticaemillyAinda não há avaliações
- Semiologia CardiovascularDocumento5 páginasSemiologia CardiovascularCamilla JordãoAinda não há avaliações
- Efeitos Fisiológicos e Benefícios Da Drenagem Linfática Manual em Edema de Membros Inferiores Revisão de LiteraturaDocumento9 páginasEfeitos Fisiológicos e Benefícios Da Drenagem Linfática Manual em Edema de Membros Inferiores Revisão de LiteraturaPatrick CleofasAinda não há avaliações
- Hipoxia Tecidual Isquemica e Hipertensão IntracranianaDocumento95 páginasHipoxia Tecidual Isquemica e Hipertensão IntracranianaCamylla RochaAinda não há avaliações
- VectosDocumento6 páginasVectosAlan SantosAinda não há avaliações
- Disturbios Da Circulação - AulaDocumento70 páginasDisturbios Da Circulação - AulaSarah LinnyAinda não há avaliações
- Unid - 2 - Atenção À Saúde Da Pessoa e Familía em Situação de RiscoDocumento58 páginasUnid - 2 - Atenção À Saúde Da Pessoa e Familía em Situação de RiscoThalita Paraguassú100% (1)
- Agressão e DefesaDocumento30 páginasAgressão e DefesaElaine ToméAinda não há avaliações
- FisiologiaDocumento12 páginasFisiologiaLuana AraujoAinda não há avaliações
- Exame Físico Geral (Resumo Porto)Documento27 páginasExame Físico Geral (Resumo Porto)Gabriel LucianoAinda não há avaliações
- Resumo Sobre Fisiologia Da Pressão ArterialDocumento12 páginasResumo Sobre Fisiologia Da Pressão ArterialMaria CarolineAinda não há avaliações
- Dreno Redux Bioage Ao Vivo Ws Do M S Final PDFDocumento28 páginasDreno Redux Bioage Ao Vivo Ws Do M S Final PDFRa MeirellesAinda não há avaliações
- EdemaDocumento26 páginasEdemaklismannsantana957Ainda não há avaliações
- Epidemiologia e ProcessosDocumento70 páginasEpidemiologia e ProcessosGábia Maia Alkmim da CostaAinda não há avaliações
- PATOLÃODocumento236 páginasPATOLÃOBruno Bezerra100% (1)
- Medicina Legal - ResumoDocumento19 páginasMedicina Legal - ResumoMateusAinda não há avaliações
- Edema Agudo PulmãoDocumento30 páginasEdema Agudo PulmãoCarla Vaz DamilAinda não há avaliações
- ENFERMAGEM TerminologiaDocumento5 páginasENFERMAGEM TerminologiaWallace BassAinda não há avaliações
- Distúrbios Da CirculaçãoDocumento9 páginasDistúrbios Da CirculaçãoAna Paula LopesAinda não há avaliações
- Edema Agudo de Pulmão OficialDocumento15 páginasEdema Agudo de Pulmão OficialLuma ZanattaAinda não há avaliações
- Aula 19 Cateteres VenososDocumento46 páginasAula 19 Cateteres VenososDaniele SilvaAinda não há avaliações
- M2P2 - Choque CardiogênicoDocumento16 páginasM2P2 - Choque CardiogênicoDarla MariaAinda não há avaliações
- Curso 104663 Aula 02 v1Documento55 páginasCurso 104663 Aula 02 v1Damiao WelllingtonAinda não há avaliações