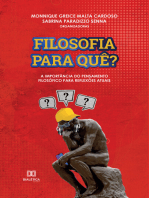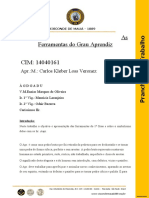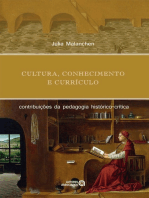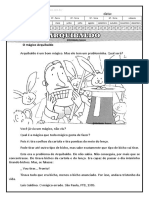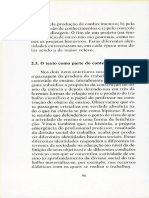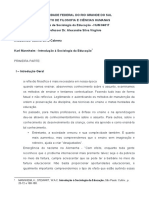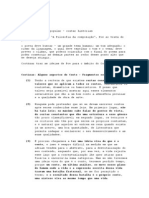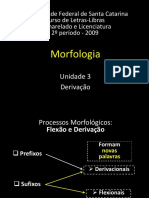Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Para Além Do Pensamento Abissal
Para Além Do Pensamento Abissal
Enviado por
bruno_vianna_10 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações24 páginasIn the first part of the essay, the author states that the “abys-
sal” cartographical lines that used to demarcate the Old and the New World during colonial times are still alive in the
structure of modern occidental thought and remain constitutive of the political and cultural relations held by the con-
temporary world system. Global social iniquity would thus be strictly related to global cognitive iniquity, in such a way
that the struggle for a global social justice requires the construction of a “post-abyssal” thought.
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoIn the first part of the essay, the author states that the “abys-
sal” cartographical lines that used to demarcate the Old and the New World during colonial times are still alive in the
structure of modern occidental thought and remain constitutive of the political and cultural relations held by the con-
temporary world system. Global social iniquity would thus be strictly related to global cognitive iniquity, in such a way
that the struggle for a global social justice requires the construction of a “post-abyssal” thought.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações24 páginasPara Além Do Pensamento Abissal
Para Além Do Pensamento Abissal
Enviado por
bruno_vianna_1In the first part of the essay, the author states that the “abys-
sal” cartographical lines that used to demarcate the Old and the New World during colonial times are still alive in the
structure of modern occidental thought and remain constitutive of the political and cultural relations held by the con-
temporary world system. Global social iniquity would thus be strictly related to global cognitive iniquity, in such a way
that the struggle for a global social justice requires the construction of a “post-abyssal” thought.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 24
PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL
Boaventura de Sousa Santos
RESUMO
Na primeira parte do ensaio, o autor argumenta que as linhas
cartogrficas abissais que demarcavam o Velho e o Novo Mundo na era colonial subsistem estruturalmente no pen-
samento moderno ocidental e permanecem constitutivas das relaes polticas e culturais excludentes mantidas no sis-
tema mundial contemporneo. A injustia social global estaria portanto estritamente associada injustia cognitiva
global, de modo que a luta por justia social global requer a construo de um pensamento ps-abissal.
PALAVRAS-CHAVE: emancipao social; excluso social; epistemologia;
colonialismo; globalizao.
SUMMARY
In the first part of the essay, the author states that the abys-
sal cartographical lines that used to demarcate the Old and the New World during colonial times are still alive in the
structure of modern occidental thought and remain constitutive of the political and cultural relations held by the con-
temporary world system. Global social iniquity would thus be strictly related to global cognitive iniquity, in such a way
that the struggle for a global social justice requires the construction of a post-abyssal thought.
KEYWORDS: social emancipation; social exclusion; epistemology;
colonialism; globalization.
71 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
[1] Este texto foi apresentado em
diferentes verses no Fernand Brau-
del Center (Binghamton, Nova York)
e nas universidades de Glasgow, Vic-
toria (Canad), Wisconsin-Madison
e Coimbra. Gostaria de agradecer os
comentrios de Gavin Anderson, Ali-
son Phipps, Emilios Christodoulidis,
David Schneiderman, Claire Cutler,
Upendra Baxi, James Tully, Len
Kaplan, Marc Galanter, Neil Kome-
sar, Joseph Thome, Javier Couso,
Jeremy Webber, Rebecca Johnson,
John Harrington, Antonio Sousa
Ribeiro,Joaquin Herrera Flores,Con-
ceio Gomes e Joo Pedroso. Maria
Paula Meneses, alm de comentar o
texto, auxiliou-me no trabalho de
pesquisa, pelo que lhe sou muito
grato. Este trabalho no teria sido
possvel sem a inspirao das longas
conversas com Maria Irene Ramalho
sobre as relaes entre as cincias
sociais e as cincias humanas.
O pensamento moderno ocidental um pensa-
mento abissal
2
. Consiste num sistema de distines visveis e invis-
veis, sendo que estas ltimas fundamentam as primeiras. As distin-
es invisveis so estabelecidas por meio de linhas radicais que
dividem a realidade social em dois universos distintos:o deste lado da
linha e o do outro lado da linha. A diviso tal que o outro lado da
linha desaparece como realidade,torna-se inexistente e mesmo pro-
duzido como inexistente. Inexistncia significa no existir sob qual-
quer modo de ser relevante ou compreensvel
3
. Tudo aquilo que pro-
duzido como inexistente excludo de forma radical porque
permanece exterior ao universo que a prpria concepo de incluso
considera como o outro. A caracterstica fundamental do pensa-
mento abissal a impossibilidade da co-presena dos dois lados da
linha. O universo deste lado da linha s prevalece na medida em que
esgota o campo da realidade relevante: para alm da linha h apenas
inexistncia, invisibilidade e ausncia no-dialtica.
Das linhas globais a uma ecologia de saberes
1
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 71
[2] No pretendo que o pensa-
mento moderno ocidental seja a
nica forma de pensamento abissal.
Ao contrrio, muito provvel que
existam ou tenham existido formas
de pensamento abissal fora do Oci-
dente. No meu propsito analis-
las neste texto. Defendo apenas que,
abissais ou no, as formas de pensa-
mento no-ocidentais tm sido trata-
das de um modo abissal pelo pensa-
mento moderno ocidental. Tambm
no trato aqui do pensamento pr-
moderno ocidental nem das verses
do pensamento moderno ocidental
marginalizadas ou suprimidas por se
oporem s verses hegemnicas, as
nicas de que me ocupo aqui.
[3] Sobre a sociologia das ausncias
como crtica produo de realidade
inexistente pelo pensamento hege-
mnico, ver Santos, Boaventura de S.
A crtica da razo indolente. So Paulo:
Cortez, 2002; A critique of lazy rea-
son: against the waste of experience.
In: Wallerstein, Immanuel (org.). The
modern world-system in the longue
dure. Boulder: Paradigm, 2004, pp.
157-97;A gramtica do tempo: para uma
nova cultura poltica. So Paulo: Cor-
tez, 2006.
[4] Essa tenso representa o outro
lado da discrepncia moderna entre
as experincias atuais e as expectati-
vas quanto ao futuro,tambm expres-
sas no mote positivista ordem e pro-
gresso. O pilar da regulao social
constitudo pelos princpios do Es-
tado, da comunidade e do mercado,
enquanto o pilar da emancipao
consiste nas trs lgicas da racionali-
dade: a racionalidade esttico-ex-
pressiva das artes e da literatura, a
racionalidade instrumental-cogni-
tiva da cincia e da tecnologia e a
racionalidade moral-prtica da tica e
do direito. Cf. Santos, Boaventura de
S. Toward a new common sense. Nova
York: Routledge, 1995; A crtica da
razo indolente, op. cit.
[5] Ainda que de formas muito dis-
tintas, Pascal, Kierkegaard e Nietzs-
che foram os filsofos que mais a
fundo analisaram, e viveram, as anti-
nomias contidas nessa questo. Mais
recentemente, cabe mencionar Karl
Jaspers (Reason and anti-reason in our
time. New Haven: Yale University
Press, 1952; Basic philosophical wri-
tings. Athens: Ohio University Press,
1986; The great philosophers. Nova
York: Harcourt Brace, 1995) e Ste-
Para dar um exemplo baseado em meu prprio trabalho, venho
caracterizando a modernidade ocidental como um paradigma fun-
dado na tenso entre a regulao e a emancipao sociais
4
. Essa dis-
tino visvel fundamenta todos os conflitos modernos, tanto em ter-
mos de fatos substantivos como de procedimentos. Mas a essa
distino subjaz uma outra, invisvel, na qual a anterior se funda: a
distino entre as sociedades metropolitanas e os territrios colo-
niais. De fato, a dicotomia regulao/emancipao se aplica apenas
a sociedades metropolitanas. Seria impensvel aplic-la aos territ-
rios coloniais, aos quais se aplica a dicotomia apropriao/violn-
cia, por sua vez inconcebvel de aplicar a este lado da linha. Contudo,
a inaplicabilidade do paradigma regulao/emancipao aos terri-
trios coloniais no comprometeu sua universalidade. O pensa-
mento abissal moderno se destaca pela capacidade de produzir e radi-
calizar distines. Por mais radicais que sejam essas distines e por
mais dramticas que possam ser as conseqncias de estar em um ou
outro de seus lados, elas pertencem a este lado da linha e se combi-
nam para tornar invisvel a linha abissal na qual esto fundadas. As
distines intensamente visveis que estruturam a realidade social
deste lado da linha se baseiam na invisibilidade das distines entre
este e o outro lado da linha.
O conhecimento e o direito modernos representam as manifesta-
es mais cabais do pensamento abissal.Do-nos conta das duas prin-
cipais linhas abissais globais dos tempos modernos, as quais, embora
distintas e operando de modo diferenciado, so interdependentes.
Cada uma cria um subsistema de distines visveis e invisveis de tal
modo que as ltimas se tornam o fundamento das primeiras. No
campo do conhecimento, o pensamento abissal consiste na concesso
do monoplio da distino universal entre o verdadeiro e o falso cin-
cia, em detrimento de dois conhecimentos alternativos: a filosofia e a
teologia. Esse monoplio est no cerne da disputa epistemolgica
moderna entre as formas de verdade cientficas e no-cientficas.J que
a validade universal da verdade cientfica sempre reconhecidamente
muito relativa pois s pode ser estabelecida em relao a certos tipos
de objetos em determinadas circunstncias e segundo determinados
mtodos , de que modo ela se relaciona com outras verdades poss-
veis que at podem reclamar um estatuto superior mas que no podem
ser estabelecidas conforme o mtodo cientfico, como o caso da razo
como verdade filosfica e da f como verdade religiosa
5
? Essas tenses
entre a cincia, de um lado, e a filosofia e a teologia, de outro, vieram a
se tornar altamente visveis, mas todas elas, como defendo, tm lugar
deste lado da linha. Sua visibilidade assenta na invisibilidade de for-
mas de conhecimento que no se encaixam em nenhuma dessas moda-
lidades. Refiro-me aos conhecimentos populares, leigos, plebeus,
72 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 72
73 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
phen Toulmin (Return to reason.
Cambridge, MA: Harvard University
Press, 2001).
[6] Para uma viso geral dos debates
recentes sobre as relaes entre a cin-
cia e outros conhecimentos, ver San-
tos,Boaventura de S.,Meneses,Maria
Paula e Nunes, Joo A. Introduo.
In: Santos, Boaventura de S. (org.).
Semear outras solues. Rio de Janeiro:
Civilizao Brasileira, 2005, pp. 21-
121; Santos, Boaventura de S. Toward a
new common sense, op. cit., pp. 7-55.
[7] Analiso em detalhe a natureza
do direito moderno e a coexistncia
de mais de um sistema jurdico no
mesmo espao geopoltico em San-
tos, Boaventura de S. Toward a new
legal common sense. Londres: Butter-
worths, 2002.
[8] Neste trabalho tomo por assen-
te a ligao ntima entre capitalismo e
colonialismo. Ver, por exemplo, Wil-
liams, Eric. Capitalism and slavery.
Chapel Hill: University of North
Carolina Press, 1994 [1944]; Arendt,
Hannah. The origins of totalitarism.
Nova York: Harcourt Brace, 1951;
Fanon, Franz. Black skin, white masks.
Nova York: Grove Press, 1967; Hor-
kheimer, Max e Adorno, Theodor.
Dialectic of Enlightenment. Nova York:
Herde and Herder, 1972; Wallerstein,
Immanuel M. The modern world-
system. Nova York: Academic Press,
1974; Dussel, Enrique. 1492: el encu-
brimiento del otro. Bogot: Anthropos,
1992; Mignolo, Walter. The darker side
of Renaissance. Michigan: University
of Michigan Press, 1995; Quijano,
Anibal. Colonialidad del poder y
classificacin social. Journal of
World-Systems Research, vol. 6, n. 2,
2000, pp. 342-86.
[9] Assim, contrariamente quilo
que afirmam as teorias convencionais
do direito internacional, o imperia-
lismo constitutivo do Estado mo-
derno, e no um produto dele. O
Estado moderno,o direito internacio-
nal e o constitucionalismo nacional e
global advm do mesmo processo his-
trico imperial. Cf. Koskenniemi,
Martti. The gentle civilizer of nations: the
rise and fall of international law, 1870-
1960. Cambridge, UK: Cambridge
University Press, 2002; Anghie,
Anthony. Imperialism, sovereignty and
the making of international law. Cam-
bridge, UK: Cambridge University
Press, 2005; Tully, James. The impe-
camponeses ou indgenas do outro lado da linha, que desaparecem
como conhecimentos relevantes ou comensurveis por se encontra-
rem para alm do universo do verdadeiro e do falso. inimaginvel
aplicar-lhes no s a distino cientfica entre verdadeiro e falso, mas
tambm as verdades inverificveis da filosofia e da teologia, que cons-
tituem o outro conhecimento aceitvel deste lado da linha
6
. Do outro
lado no h conhecimento real; existem crenas, opinies, magia, ido-
latria, entendimentos intuitivos ou subjetivos, que na melhor das
hipteses podem se tornar objeto ou matria-prima de investigaes
cientficas. Assim, a linha visvel que separa a cincia de seus outros
modernos est assente na linha abissal invisvel que separa, de um
lado, cincia, filosofia e teologia e, de outro, conhecimentos tornados
incomensurveis e incompreensveis por no obedecerem nem aos cri-
trios cientficos de verdade nem aos critrios dos conhecimentos
reconhecidos como alternativos, da filosofia e da teologia.
No campo do direito moderno, este lado da linha determinado
por aquilo que se reputa como legal ou ilegal de acordo com o direito
oficial do Estado ou o direito internacional. Distinguidos como as
duas nicas formas de existncia relevantes perante a lei, o legal e o ile-
gal acabam por constituir-se numa distino universal. Tal distino
central deixa de fora todo um territrio social onde essa dicotomia
seria impensvel como princpio organizador, isto , o territrio sem
lei, fora da lei, o territrio do a-legal, ou mesmo do legal e ilegal de
acordo com direitos no reconhecidos oficialmente
7
. Assim, a linha
abissal invisvel que separa o domnio do direito do domnio do no-
direito fundamenta a dicotomia visvel entre o legal e o ilegal que deste
lado da linha organiza o domnio do direito.
Em cada um dos dois grandes domnios a cincia e o direito
as divises levadas a cabo pelas linhas globais so abissais no sentido
de que eliminam definitivamente quaisquer realidades que se encon-
trem do outro lado da linha. Essa negao radical de co-presena fun-
damenta a afirmao da diferena radical que deste lado da linha
separa o verdadeiro do falso, o legal e o ilegal. O outro lado da linha
compreende uma vasta gama de experincias desperdiadas, tornadas
invisveis, assim como seus autores, e sem uma localizao territorial
fixa. Na verdade, como j apontei, existiu originalmente uma localiza-
o territorial, a qual coincidiu historicamente com um territrio
social especfico:a zona colonial
8
.Tudo o que no pudesse ser pensado
em termos de verdadeiro ou falso, de legal ou ilegal, ocorria na zona
colonial. A esse respeito, o direito moderno parece ter alguma prece-
dncia histrica sobre a cincia na criao do pensamento abissal. De
fato, foi a linha global que separava o Velho Mundo do Novo Mundo
que tornou possvel a emergncia, deste lado da linha, do direito
moderno e em particular do direito internacional moderno
9
.
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 73
rialism of modern constitutional
democracy. In: Loughlin, Martin e
Walker,Neil (orgs.).Constituent power
and constitutional form. Oxford:
Oxford University Press, no prelo.
[10] A definio das linhas globais
ocorre gradualmente. Segundo Carl
Schmitt (The nomos of the Earth in the
international law of the jus publicum
europaeum. Nova York: Telos Press,
2003, p. 91), as linhas cartogrficas
do sculo XV pressupunham ainda
uma ordem espiritual global vigente
de ambos os lados da diviso:a Respu-
blica Christiana, simbolizada pelo
papa. Isso explica as dificuldades
enfrentadas por Francisco Vitoria, o
grande telogo e jurista espanhol do
sculo XVI, para justificar a ocupao
de terras nas Amricas. Vitoria ques-
tiona se a descoberta suficiente
como ttulo jurdico de posse da terra.
A sua resposta muito complexa, no
s por ser formulada em estilo aristo-
tlico, mas sobretudo porque Vitria
no concebe qualquer resposta con-
vincente que no parta da premissa
da superioridade europia. Esse fato,
contudo, no confere qualquer di-
reito moral ou positivo sobre as ter-
ras ocupadas. Segundo Vitoria, nem
mesmo a superioridade civilizacional
dos europeus suficiente como base
de um direito moral. Para ele, a con-
quista podia servir apenas de funda-
mento a um direito reversvel terra,
a jura contraria,nas suas palavras.Isto
, a questo da relao entre a con-
quista e o direito terra deve ser colo-
cada inversamente: se os ndios tives-
sem descoberto e conquistado os
europeus, teriam eles igual direito a
ocupar as terras? A justificao de
Vitoria para a ocupao de terras
assenta ainda na ordem crist medie-
val, na misso atribuda pelo papa aos
reis espanhol e portugus e no con-
ceito de guerra justa. Ver ibidem, pp.
101-25; Anghie, op. cit., pp. 13-31; Pag-
den,Anthony.Spanish imperialism and
the political imagination. New Haven:
Yale University Press, 1990, p. 15.
[11] Com as amity lines a primeira
das quais poder ter surgido do Tra-
tado de Cateau-Cambresis entre
Espanha e Frana (1559) ,as linhas
cartogrficas abandonam a idia de
uma ordem comum global e estabele-
cem uma dualidade abissal entre os
territrios deste lado da linha, onde
vigoram a verdade, a paz e a amizade,
e do outro lado da linha, onde impe-
ram a lei do mais forte, a violncia e a
A primeira linha global moderna foi provavelmente a do Tratado
de Tordesilhas entre Portugal e Espanha (1494)
10
, mas as verdadeiras
linhas abissais emergem em meados do sculo XVI com as amity lines
(linhas de amizade)
11
. Seu carter abissal se manifesta no elabo-
rado trabalho cartogrfico investido em sua definio, na extrema
preciso exigida a cartgrafos, fabricantes de globos terrestres e pilo-
tos, no policiamento vigilante e nas duras punies s violaes. Na
sua constituio moderna, o colonial representa no o legal ou o ile-
gal, mas o sem lei. Uma mxima que ento se populariza, No h
pecados ao sul do Equador, ecoa na famosa passagem dos Pensamen-
tos de Pascal, escritos em meados do sculo XVII: Trs graus de lati-
tude subvertem toda a jurisprudncia. Um meridiano determina a
verdade [...]. Singular justia que um rio delimita! Verdade aqum
dos Pirineus, errado alm
12
. De meados do sculo XVI em diante, o
debate jurdico e poltico entre os Estados europeus acerca do Novo
Mundo concentra-se na linha global, isto , na determinao do colo-
nial, e no na ordenao interna do colonial. O colonial o estado de
natureza, onde as instituies da sociedade civil no tm lugar. Hob-
bes refere-se explicitamente aos povos selvagens em muitos lugares
da Amrica como exemplares do estado de natureza, e Locke pensa
da mesma forma ao escrever em Sobre o governo civil: No princpio
todo o mundo foi Amrica
13
.
O colonial constitui o grau zero a partir do qual so construdas as
concepes modernas de conhecimento e direito. As teorias do con-
trato social dos sculos XVII e XVIII so to importantes por aquilo
que dizem como por aquilo que silenciam. O que dizem que os indi-
vduos modernos,ou seja,os homens metropolitanos,entram no con-
trato social abandonando o estado de natureza para formar a socie-
dade civil
14
. O que silenciam que com isso se cria uma vasta regio do
mundo em estado de natureza um estado de natureza a que so con-
denados milhes de seres humanos sem quaisquer possibilidades de
escapar por via da criao de uma sociedade civil. A modernidade oci-
dental, em vez de significar o abandono do estado de natureza e a pas-
sagem sociedade civil, significa a coexistncia de sociedade civil e
estado de natureza separados por uma linha abissal com base na qual
o olhar hegemnico, localizado na sociedade civil, deixa de ver e
declara efetivamente como no-existente o estado de natureza. O pre-
sente que vai sendo criado do outro lado da linha tornado invisvel ao
ser reconceitualizado como o passado irreversvel deste lado da linha.
O contato hegemnico converte simultaneidade em no-contempo-
raneidade, inventando passados para dar lugar a um futuro nico e
homogneo. Assim, o fato de que os princpios legais vigentes na
sociedade civil deste lado da linha no se aplicam ao outro lado no
compromete sua universalidade.
74 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 74
pilhagem. O que quer que ocorra do
outro lado da linha no est sujeito
aos mesmos princpios ticos e jurdi-
cos que se aplicam deste lado da
linha, de modo que no poder dar
origem ao tipo de conflitos que a vio-
lao de tais princpios causaria se
ocorresse deste lado da linha. Essa
dualidade permitiu aos reis catlicos
da Frana, por exemplo, manter uma
aliana com os reis catlicos da Espa-
nha deste lado da linha e ao mesmo
tempo aliar-se aos piratas que ataca-
vam os barcos espanhis do outro
lado da linha.
[12] Pascal, Blaise. Penses. Londres:
Penguin Books, 1966, p. 46 [em tra-
duo de Novos Estudos com base no
francs].
[13] Hobbes, Thomas. Leviathan.
Londres: Penguin Books, 1985
[1651], p. 187; Locke, John. The second
treatise of civil government and a letter
concerning toleration. Oxford: B.
Blackwell, 1946 [1690], 49 [em tra-
duo do autor].
[14] Sobre as diferentes concepes
do contrato social, ver Santos, Boa-
ventura de S. Toward a new legal com-
mon sense, op. cit., pp. 30-39.
[15] De acordo com a bula,os ndios
eram verdadeiros homens e [...] no
eram capazes de entender a f cat-
lica, mas, de acordo com as nossas
informaes, desejam ardentemente
receb-la (Papa Paulo III. Sublimis
Deus, 1537 <www.papalencyclicals.net/
Paul03/p3subli.htm, acessado em 22/
9/2006>).
[16] Cf., por exemplo, Emerson, Bar-
bara. Leopold II of the Belgians: king of
colonialism. Londres: Weidenfeld and
Nicolson, 1979; Hochschild, Adam.
King Leopolds ghost: a story of greed,
terror, and heroism in colonial Africa.
Boston: Houghton Mifflin, 1999.
A mesma cartografia abissal constitutiva do conhecimento
moderno. Mais uma vez, a zona colonial por excelncia o universo
das crenas e dos comportamentos incompreensveis, que de forma
alguma podem ser considerados como conhecimento e por isso esto
para alm do verdadeiro e do falso. O outro lado da linha alberga ape-
nas prticas mgicas ou idoltricas, cuja completa estranheza condu-
ziu prpria negao da natureza humana de seus agentes. Com base
nas suas refinadas concepes de humanidade e de dignidade
humana,os humanistas dos sculos XV e XVI chegaram concluso de
que os selvagens eram subumanos. A questo era: os ndios tm alma?
Quando o papa Paulo III respondeu afirmativamente em sua bula
Sublimis Deus, de 1537, f-lo concebendo a alma dos povos selvagens
como um receptculo vazio, uma anima nullius, muito semelhante
terra nullius
15
, o conceito de vazio jurdico que justificou a invaso e a
ocupao dos territrios indgenas. Com base nessas concepes
abissais de epistemologia e legalidade, a universalidade da tenso
entre regulao e emancipao, aplicada a este lado da linha, no entra
em contradio com a tenso entre apropriao e violncia,aplicada ao
outro lado da linha.
A apropriao e a violncia assumem formas diferentes nas linhas
abissais jurdica e epistemolgica, mas em geral a apropriao envolve
incorporao, cooptao e assimilao, enquanto a violncia implica
destruio fsica, material, cultural e humana. Na prtica, profunda a
ligao entre a apropriao e a violncia. No domnio do conheci-
mento, a apropriao vai desde o uso de habitantes locais como guias
e de mitos e cerimnias locais como instrumentos de converso at a
pilhagem de conhecimentos indgenas sobre a biodiversidade, ao
passo que a violncia exercida mediante a proibio do uso das ln-
guas prprias em espaos pblicos, a adoo forada de nomes cris-
tos, a converso e a destruio de smbolos e lugares de culto e a pr-
tica de todo tipo de discriminao cultural e racial.
No tocante ao direito, a tenso entre apropriao e violncia par-
ticularmente complexa em virtude de sua relao direta com a extrao
de valor: trfico de escravos e trabalho forado, uso manipulador do
direito e das autoridades tradicionais por meio do governo indireto
(indirect rule), pilhagem de recursos naturais, deslocao macia de
populaes, guerras e tratados desiguais, diferentes formas de apar-
theid e assimilao forada etc. Enquanto a lgica da regulao/eman-
cipao impensvel sem a distino matricial entre o direito das pes-
soas e o direito das coisas, a lgica da apropriao/violncia reconhece
apenas o direito das coisas, sejam elas humanas ou no. A verso
extrema desse tipo de direito, irreconhecvel deste lado da linha, o
direito de propriedade pessoal do Estado Livre do Congo pelo rei Leo-
poldo II da Blgica [a partir de 1885]
16
.
75 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 75
[17] Essa negao da humanidade
denunciada com extrema lucidez por
Franz Fanon ( Black skin, white masks,
op. cit.; The wretched of the Earth. Nova
York: Grove Press, 1963). O radica-
lismo da negao fundamenta sua
defesa da violncia como uma dimen-
so intrnseca da revolta anticolonial,
aspecto sobre o qual Fanon e Gandhi
divergiram ainda que partilhassem
uma luta comum.
[18] Sobre Guantnamo e tpicos
relacionados, ver, por exemplo,
Amann, Diane M. Guantnamo.
Columbia Journal of Transnational Law,
vol. 42, n. 2, 2004, pp. 263-348; Steyn,
Johan. Guantanamo Bay: the legal
black hole. International and Compa-
rative Law Quarterly, vol. 53, n. 1, 2004,
pp. 1-15; Dickinson, Laura. Torture
and contract e Sadat,Leila N.Ghost
prisoners and black sites: extraordi-
nary rendition under international
law. Case Western Reserve Journal of
International Law, vol. 37, n. 2-3, 2005-
06, pp. 267-75 e 309-42.
Existe portanto uma cartografia moderna dual nos mbitos episte-
molgico e jurdico. A profunda dualidade do pensamento abissal e a
incomensurabilidade entre os termos da dualidade foram implementa-
das por meio das poderosas bases institucionais universidades,cen-
tros de pesquisa, escolas de direito e profisses jurdicas e das sofis-
ticadas linguagens tcnicas da cincia e da jurisprudncia.O outro lado
da linha abissal um universo que se estende para alm da legalidade e
da ilegalidade e para alm do verdade e da falsidade. Juntas, essas for-
mas de negao radical produzem uma ausncia radical: a ausncia de
humanidade, a subumanidade moderna. Assim, a excluso se torna
simultaneamente radical e inexistente, uma vez que seres subumanos
no so considerados sequer candidatos incluso social (a suposta
exterioridade do outro lado da linha na verdade a conseqncia de seu
pertencimento ao pensamento abissal como fundao e como negao
da fundao). A humanidade moderna no se concebe sem uma subu-
manidade moderna
17
. A negao de uma parte da humanidade sacrifi-
cial, na medida em que constitui a condio para que a outra parte da
humanidade se afirme como universal (e essa negao fundamental
permite, por um lado, que tudo o que possvel se transforme na possi-
bilidade de tudo e, por outro, que a criatividade do pensamento abissal
banalize facilmente o preo da sua destrutividade).
Meu argumento que essa realidade to verdadeira hoje quanto
era no perodo colonial. O pensamento moderno ocidental continua a
operar mediante linhas abissais que separam o mundo humano do
mundo subumano, de tal modo que princpios de humanidade no
so postos em causa por prticas desumanas. As colnias represen-
tam um modelo de excluso radical que permanece no pensamento e
nas prticas modernas ocidentais tal como no ciclo colonial. Hoje,
como ento, a criao e a negao do outro lado da linha fazem parte de
princpios e prticas hegemnicos. Atualmente, Guantnamo repre-
senta uma das manifestaes mais grotescas do pensamento jurdico
abissal, da criao do outro lado da fratura como um no-territrio em
termos jurdicos e polticos, um espao impensvel para o primado da
lei, dos direitos humanos e da democracia
18
. Contudo, seria um erro
consider-la exceo. Existem muitas Guantnamos, desde o Iraque
at a Palestina e Darfur. Mais do que isso, existem milhes de Guant-
namos nas discriminaes sexuais e raciais, quer na esfera pblica,
quer na privada:nas zonas selvagens das megacidades,nos guetos,nas
prises, nas novas formas de escravido, no trfico ilegal de rgos
humanos, no trabalho infantil, na explorao da prostituio.
Neste artigo,comeo por argumentar que a tenso entre regulao e
emancipao continua a coexistir com a tenso entre apropriao e vio-
lncia, e de tal maneira que a universalidade da primeira tenso no
questionada pela existncia da segunda. Em seguida, sustento que as
76 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 76
[19] Nas vsperas da II Guerra Mun-
dial as colnias e ex-colnias cobriam
cerca de 85% da superfcie terrestre.
[20] Cf. Fanon, Black skin, white masks
e The wretched of the Earth, op. cit.;
Nkrumah,Kwame.Consciencism: philo-
sophy and ideology for decolonization and
development with particular reference to
the African revolution. Nova York:
Monthly Review Press, 1965; Gandhi,
Mahatma.Selected writings of Mahatma
Gandhi. Boston: Beacon, 1951; The
Gandhi reader. Bloomington: Indiana
University Press, 1956; Cabral, Aml-
car. Unity and struggle: speeches and wri-
tings of Amlcar Cabral. Nova York:
Monthly Review Press, 1979.
[21] Cf. Memmi, Albert. The colonizer
and the colonized. Nova York: The
Orion Press,1965;Dos Santos,Theo-
tonio. Socialismo o fascismo: el nuevo
carcter de la dependencia... Buenos
Aires: Periferia, 1973; Cardoso, Fer-
nando Henrique e Faletto, Enzo.
Dependencia y desarrollo en America
Latina. Cidade do Mxico: Siglo XXI,
1969; Frank, Andre G. Latin America:
underdevelopment or revolution. Nova
York: Monthly Review, 1969; Rodney,
Walter. How Europe underdeveloped
Africa. Londres: Bogle-LOuverture,
1973; Wallerstein, Immanuel M.
World-systems analysis: an introduc-
tion. Durham: Duke University Press,
2004; The modern world-system, op.
cit.; Bambirra, Vania. Teoria de la
dependencia: una anticritica.Cidade do
Mxico: Era, 1978; Dussel, Enrique.
The invention of the Americas. Nova
York: Continuum, 1995; Escobar,
Arturo. Encountering development. Prin-
ceton: Princeton University Press,
1995; Chew, Sing C. e Denemark,
Robert A. (orgs.). The underdevelop-
ment of development: essays in honor of
Andre Gunder Frank. Thousand Oaks,
CA: Sage, 1996; Spivak, Gayatri Ch. A
critique of postcolonial reason. Cam-
bridge, MA: Harvard University
Press, 1999; Csaire, Aim. Discourse
on colonialism. Nova York: New York
University Press, 2000; Mignolo,
Walter. Local histories/global designs.
Princeton: Princeton University
Press, 2000; Afzal-Khan, Fawzia e
Sheshadri-Crooks, Kalpana (orgs.).
The pre-occupation of postcolonial stu-
dies. Durham: Duke University Press,
2000; Mbembe, Achille. On the pos-
tcolony. Berkeley: University of Cali-
fornia Press, 2001; Dean, Bartholo-
mew e Levi, Jerome M. (orgs.). At the
risk of being heard: identity, indigenous
linhas abissais ainda estruturam o conhecimento e o direito modernos
e so constitutivas das relaes e interaes polticas e culturais que o
Ocidente protagoniza no interior do sistema-mundo. Em suma, meu
argumento o de que a cartografia metafrica das linhas globais sobre-
viveu cartografia literal das linhas que separavam o Velho do Novo
Mundo. A injustia social global est assim intimamente ligada injus-
tia cognitiva global, de modo que a luta pela justia social global tam-
bm deve ser uma luta pela justia cognitiva global. Para ser bem-suce-
dida, essa luta exige um novo pensamento um pensamento
ps-abissal, cujas caractersticas apresento na parte final do artigo.
A DIVISO ABISSAL ENTRE REGULAO/EMANCIPAO
E APROPRIAO/VIOLNCIA
A permanncia das linhas abissais globais ao longo de todo o
perodo moderno no significa que elas tenham se mantido fixas, j
que historicamente sofreram deslocamentos. No entanto, em cada
momento histrico elas so fixas e sua posio fortemente vigiada e
preservada,assim como sucedia com as linhas de amizade.Nos lti-
mos sessenta anos essas linhas sofreram dois grandes abalos. O pri-
meiro teve lugar com as lutas anticoloniais e os processos de indepen-
dncia das antigas colnias
19
. O outro lado da linha sublevou-se
contra a excluso radical medida que os povos que haviam sido sujei-
tos ao paradigma da apropriao/violncia se organizaram e reclama-
ram o direito incluso no paradigma da regulao/emancipao
20
.
Durante algum tempo o paradigma da apropriao/violncia parecia
estar chegando ao fim, bem como a diviso abissal entre este lado da
linha e o outro lado da linha. Os deslocamentos das linhas globais
epistemolgica e jurdica pareciam convergir para o encolhimento e
finalmente para a eliminao do outro lado da linha, mas no foi isso o
que aconteceu, como mostram a teoria da dependncia, a teoria do sis-
tema-mundo moderno e os estudos ps-coloniais
21
.
O segundo abalo das linhas abissais no qual concentro minha
ateno neste texto vem ocorrendo desde os anos 1970 e segue na
direo oposta.Desta feita,o movimento das linhas globais se d de tal
forma que o outro lado da linha parece estar se expandindo enquanto
este lado da linha parece se encolher.A lgica da apropriao/violncia
passa a ganhar fora em detrimento da lgica da regulao/emancipa-
o numa extenso tal que o domnio desta ltima no s se encolhe,
como tambm se contamina internamente pela primeira. A complexi-
dade desse movimento nos difcil de divisar se no conseguimos nos
abstrair do fato de que o estamos olhando desde este lado da linha.
Para captar sua totalidade necessrio um grande esforo de descen-
tramento,e nenhum estudioso pode faz-lo sozinho,como indivduo.
77 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 77
rights, and postcolonial states. Ann
Arbor: University of Michigan Press,
2003.
[22] Entre 1999 e 2002 realizei um
projeto internacional sobre a Rein-
veno da emancipao social, que
envolveu sessenta pesquisadores de
seis pases (frica do Sul, Brasil,
Colmbia, ndia, Moambique e Por-
tugal) e cujos principais resultados
esto compilados numa coleo em
sete volumes, dos quais j esto
publicados os cinco primeiros [San-
tos, Boaventura de S. (org.). Coleo
Reinventar a Emancipao Social:
para Novos Manifestos. Rio de Ja-
neiro: Civilizao Brasileira, 2002].
Sobre as implicaes epistemolgi-
cas desse projeto, ver Santos, Boa-
ventura de S. (org.). Conhecimento
prudente para uma vida decente. So
Paulo: Cortez, 2004; sobre as liga-
es entre o projeto e o Frum Social
Mundial, ver Idem. Frum Social
Mundial: manual de uso. So Paulo:
Cortez, 2005.
[23] Para o caso do terrorista, ver por
exemplo Scheppele, Kim L. Other
peoples patriot acts: Europes res-
ponse to September 11. Loyola Law
Review, vol. 50, n. 1, 2004, pp. 89-148;
Law in a time of emergency: states of
exception and the temptations of
9/11. University of Pennsylvania Jour-
nal of Constitutional Law, vol. 6, n. 5,
2004, pp. 1.001-83; North American
emergencies: the use of emergency
powers in Canada and the United
States. International Journal of Cons-
titutional Law, vol. 4, n. 2, 2006, pp.
213-43. Sobre o imigrante indocu-
mentado, ver Genova, Nicholas P. de.
Migrant illegality and deportabi-
lity in everyday life. Annual Review of
Anthropology, n. 31, 2002, pp. 419-47;
Hansen, Thomas B. e Stepputat, Finn
(orgs.). Sovereign bodies: citizens,
migrants, and states in the postcolonial
world. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 2004; Silverstein, Paul A.
Immigrant racialization and the
new savage slot: race, migration, and
immigration in the new Europe.
Annual Review of Anthropology, n. 34,
2005, pp. 363-84; Sassen, Saskia.
Guests and aliens. Nova York: The New
Press, 1999. Sobre o refugiado, ver
Akram, Susan M. Scheherezade
meets Kafka: two dozen sordid tales
of ideological exclusion. Georgetown
Immigration Law Journal, n. 14, 1999,
pp. 51-150; Menefee, Samuel P. The
smuggling of refugees by sea: a
Com base num esforo coletivo para desenvolver uma epistemologia
das regies perifricas e semiperifricas do sistema-mundo
22
, argu-
mento que esse movimento composto de um movimento principal,
que designo como regresso do colonial e do colonizador, e por um
contramovimento que designo como cosmopolitismo subalterno.
Regresso do colonial e do colonizador Nesse movi-
mento, o colonial uma metfora daqueles que entendem que suas
experincias de vida ocorrem do outro lado da linha e se rebelam con-
tra isso. O regresso do colonial a resposta abissal quilo que per-
cebido como uma intromisso ameaadora do colonial nas socieda-
des metropolitanas. Esse regresso assume trs formas principais: a
do terrorista, a do imigrante indocumentado e a do refugiado
23
. De
maneiras distintas, cada um deles traz consigo a linha abissal global
que define a excluso radical e a inexistncia jurdica. A nova onda de
leis de imigrao e de legislao antiterrorismo, por exemplo, segue a
lgica reguladora do paradigma apropriao/violncia em muitas
de suas disposies
24
. O regresso do colonial no significa necessa-
riamente sua presena fsica nas sociedades metropolitanas. Basta
que tenha uma ligao relevante com elas. No caso do terrorista, essa
ligao pode ser estabelecida pelos servios secretos. No caso do tra-
balhador imigrante indocumentado, basta que seja um subempre-
gado numa das muitas centenas de sweatshops, as manufaturas sub-
contratadas por corporaes metropolitanas multinacionais que
operam no Sul global
25
. No caso dos refugiados, a ligao estabele-
cida mediante a solicitao do status de refugiado numa dada socie-
dade metropolitana.
O colonial que regressa de fato um novo colonial abissal. Desta
feita, o colonial retorna no s aos antigos territrios coloniais mas
tambm s sociedades metropolitanas. Aqui reside a grande trans-
gresso, pois o colonial do perodo colonial clssico no podia ingres-
sar nas sociedades metropolitanas, a no ser por iniciativa do coloni-
zador (como escravo, por exemplo). Os espaos metropolitanos que
se encontravam demarcados desde o incio da modernidade ocidental
deste lado da linha esto sendo invadidos ou perpassados pelo colo-
nial. Mais ainda, o colonial demonstra um nvel de mobilidade imen-
samente superior ao dos escravos fugidos
26
. Nessas circunstncias, o
abissal metropolitano se v confinado a um espao cada vez mais limi-
tado e reage remarcando a linha abissal. Na sua perspectiva, a nova
intromisso do colonial tem de ser confrontada com a lgica ordena-
dora da apropriao/violncia. Chegou ao fim o tempo de uma divi-
so ntida entre o Velho e o Novo Mundo, entre o metropolitano e o
colonial.A linha tem de ser desenhada a uma distncia curta o bastante
para garantir a segurana. O que costumava pertencer inequivoca-
78 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 78
modern day maritime slave trade.
Regent Journal of International Law, n.
2, 2004, pp. 1-28; Akram, Susan M. e
Karmely, Maritza. Immigration and
constitutional consequences of post-
9/11 policies involving Arabs and
Muslims in the United States. U.C.
Davis Law Review, vol. 38, n. 3, 2005,
pp. 609-99. Com base na noo de
orientalismo de Edward Said, Su-
san Akram (Orientalism revisited in
asylum and refugee claims. Interna-
tional Journal of Refugee Law, vol. 12,
n. 1, 2000, pp. 7-40) identifica uma
nova forma de esteretipo que chama
de neo-orientalismo, a qual afeta a
avaliao metropolitana dos pedidos
de asilo e refgio por parte de pessoas
provenientes do mundo rabe ou
muulmano.
[24] Sobre as implicaes dessa onda,
ver os ttulos citados na nota anterior e
tambm os seguintes: Immigrant
Rights Clinic (New York University
School of Law). Indefinite detention
without probable cause.... New York
University Review of Law & Social Chan-
ge, vol. 26, n. 3, 2001, pp. 397-430;
Chang, Nancy. The USA Patriot
Act.... Guild Practitioner, vol. 58, n. 3,
2001,pp.142-58;Lobel,Jules.The war
on terrorism and civil liberties.Univer-
sity of Pittsburgh Law Review,vol.63,n.4,
2002,pp.767-90;Whitehead,John W.
e Aden,Steven H.Forfeiting enduring
freedom for homeland security....
American University Law Review, vol. 51,
n. 6, 2002, pp. 1.081-133; Zelman, Jos-
hua D. Recent developments in inter-
national law:anti-terrorism legislation
part one: an overview. Journal of
Transnational Law & Policy, vol. 11, n. 1,
2002, pp. 183-200; Barr, Bob. USA
Patriot Act and progeny threaten the
very foundation of freedom. George-
town Journal of Law & Public Policy,vol.2,
n.2,2004,pp.385-92.
[25] Refiro-me aqui aos pases das
regies perifricas e semiperifricas
do sistema-mundo moderno, que
aps a II Guerra Mundial foram
denominadas Terceiro Mundo (cf.
Santos, Toward a new common sense,
op. cit., pp. 506-19). Sobre as sweats-
hops, ver Rodrguez-Garavito, Csar
A. Nikes law: the anti-sweatshop
movement.... In: Santos, Boaven-
tura S. e Rodrguez-Garavito, Csar
A. (orgs.). Law and globalization from
below. Cambridge: Cambridge Uni-
versity Press, 2005, pp. 64-91, bem
como a bibliografia ali citada.
mente a este lado da linha agora um territrio confuso, atravessado
por uma linha abissal sinuosa. O muro segregativo erguido por Israel
na Palestina
27
e a categoria combatente inimigo ilegal
28
, criada pela
administrao norte-americana aps o 11 de Setembro,possivelmente
constituem as metforas mais adequadas da nova linha abissal e da
cartografia confusa que ela gera.
Uma cartografia confusa no pode deixar de levar a prticas con-
fusas. A regulao/emancipao cada vez mais desfigurada pela
presena e pela crescente presso da apropriao/violncia em seu
interior. Mas nem a presso nem a desfigurao podem ser percebi-
das por inteiro, precisamente pelo fato de que o outro lado da linha foi
desde sempre incompreensvel em seu atributo de territrio subu-
mano
29
. De formas distintas, o terrorista e o trabalhador imigrante
indocumentado so ambos ilustrativos da presso da lgica da apro-
priao/violncia e da inabilidade do pensamento abissal para se
aperceber dessa presso como algo estranho regulao/emancipa-
o. Cada vez se torna mais evidente que as legislaes antiterro-
rismo promulgadas em muitos pases seguindo a Resoluo 1.566
do Conselho de Segurana da ONU, de 8/10/2004
30
, e sob forte
presso de Washington esvaziam o contedo civil e poltico dos
direitos e das garantias bsicas das constituies nacionais.Visto que
tudo isso ocorre sem que haja uma suspenso formal desses direitos
e garantias, estamos assistindo escalada do estado de exceo, que,
diferena do estado de stio ou do estado de emergncia, restringe
os direitos democrticos sob o pretexto da sua salvaguarda ou
mesmo expanso
31
.
De forma mais ampla, parece que a modernidade ocidental s
poder se expandir globalmente na medida em que viole todos os
princpios sobre os quais fez assentar a legitimidade histrica do para-
digma da regulao/emancipao deste lado da linha. Assim, direitos
humanos so violados para que possam ser defendidos, a democracia
destruda para que se garanta sua salvaguarda e a vida eliminada em
nome da sua preservao. Linhas abissais so traadas tanto no sen-
tido literal quanto no metafrico. No sentido literal, so linhas que
demarcam fronteiras como vedaes
32
e campos de morte; dividem
cidades em zonas civilizadas (condomnios fechadosem profuso
33
) e
zonas selvagens, e distinguem prises como locais de deteno legal e
margem da lei
34
.
O outro lado do movimento em questo o regresso do coloniza-
dor, que implica o ressuscitamento de formas de governo colonial
tanto nas sociedades metropolitanas agora incidindo sobre a vida
dos cidados comuns como naquelas anteriormente sujeitas ao
colonialismo europeu. A expresso mais saliente desse movimento
pode ser concebida como uma nova forma de governo indireto
35
, que
79 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 79
[26] Cf. David, C. W. A. The fugitive
slave law of 1793 and its antece-
dents. The Journal of Negro History,
vol. 9, n. 1, 1924, pp. 18-25; Tushnet,
Mark. The American law of slavery,
1810-1860. Princeton:Princeton Uni-
versity Press, 1981, pp. 169-88.
[27] Cf. International Court of Jus-
tice. Legal consequences of the cons-
truction of a wall in the occupied Pales-
tinian territory.Israel Law Review,vol.
38, nos 1-2, 2005, pp. 17-82.
[28] Cf. Drmann, Knut. The legal
situation of unlawful/unprivileged
combatants. International Review of
the Red Cross, n. 849, 2003, pp. 45-74;
Gill, Terry e Sliedgret, Elies van. A
reflection on the legal status and
rights of unlawful enemy com-
batant. Utrecht Law Review, vol. 1, n.
1, 2005, pp. 28-54.
[29] Assim, profissionais do direito
so solicitados a acomodar a presso
proveniente da reorganizao da
doutrina convencional, alterando
regras de interpretao e redefinindo
o objetivo dos princpios e das hierar-
quias entre eles. Um exemplo revela-
dor o debate entre Alan Dershowitz
e seus crticos. Ver Dershowitz, Alan.
Why terrorism works: understanding the
threat, responding to the challenge. New
Haven: Yale University Press, 2002;
Reply: torture without visibility and
accountability is worse than with it.
University of Pennsylvania Journal of
Constitutional Law, n. 6, 2003, p. 326;
The torture warrant: a response to
professor Strauss. New York Law
School Law Review, vol. n. 48, 2003,
pp. 275-94; Posner, Richard. The
best offense, New Republic, 2/9/
2002; Strauss, Marcy. Torture. New
York Law School Law Review, n. 48,
2004, pp. 201-74.
[30] Essa resoluo antiterrorismo
veio na esteira da Resoluo 1.373 de
28/9/2001, que por sua vez foi ado-
tada como resposta aos ataques de 11
de Setembro. Para uma anlise deta-
lhada do processo de aprovao da
Resoluo 1.566,ver Saul,Ben.Defi-
nition of terrorism in the UN Secu-
rity Council: 1985-2004. Chinese
Journal of International Law,vol.4,n.1,
2005, pp. 141-66.
[31] Ver Scheppele, Law in a time of
emergency, op. cit.; Agamben, Gior-
gio. State of exception. Chicago: Uni-
versity of Chicago Press, 2004.
emerge em diversas situaes em que o Estado se retira da regulao
social e os servios pblicos so privatizados, de modo que poderosos
atores no-estatais adquirem controle sobre a vida e o bem-estar de
vastas populaes.A obrigao poltica que ligava o sujeito de direito ao
Rechtstaat, o Estado constitucional moderno, antes prevalecente neste
lado da linha, passou a ser substituda por obrigaes contratuais pri-
vadas e despolitizadas, nas quais a parte mais fraca se encontra mais ou
menos merc da parte mais forte. Essa forma de governo apresenta
algumas semelhanas perturbadoras com o governo da apropria-
o/violncia que historicamente prevaleceu do outro lado da linha.
Tenho descrito essa situao como a ascenso do fascismo social,
um regime social de relaes de poder extremamente desiguais, que
concedem parte mais forte poder de veto sobre a vida e o modo de
vida da parte mais fraca. Noutro lugar distingui cinco formas de fas-
cismo social
36
. Aqui me refiro a trs delas, que refletem mais clara-
mente a presso da lgica da apropriao/violncia sobre a lgica da
regulao/emancipao. A primeira forma o fascismo do apartheid
social.Trata-se da segregao social dos excludos por meio de uma car-
tografia urbana dividida em zonas selvagens e zonas civilizadas. As
zonas selvagens so as zonas do estado de natureza hobbesiano, as
zonas de guerra civil interna existentes em muitas megacidades em
todo o Sul global. As zonas civilizadas so as zonas do contrato social,
e vivem sob a constante ameaa das zonas selvagens. Para se defende-
rem, transformam-se em castelos neofeudais, os enclaves fortificados
que caracterizam as novas formas de segregao urbana (cidades pri-
vadas ou condomnios fechados). A diviso entre zonas selvagens e
civilizadas est se transformando em um critrio geral de sociabili-
dade, em um novo espao-tempo hegemnico que perpassa todas as
relaes sociais, econmicas, polticas e culturais e que por isso
comum aos mbitos estatal e no-estatal.
A segunda forma o fascismo contratual. Ocorre nas situaes em
que a diferena de poder entre as partes do contrato de direito civil
(seja ele um contrato de trabalho ou um contrato de fornecimento de
bens ou servios) de tal ordem que a parte mais fraca,vulnerabilizada
por no ter alternativa ao contrato, aceita as condies que lhe so
impostas pela parte mais poderosa, por mais onerosas e despticas
que sejam. O projeto neoliberal de transformar o contrato de trabalho
num contrato de direito civil como qualquer outro configura uma
situao de fascismo contratual. Essa forma de fascismo ocorre hoje
freqentemente nas situaes de privatizao de servios pblicos
como os de sade,segurana social,abastecimento de gua etc.
37
.Nes-
ses casos,o contrato social que orientava a produo de servios pbli-
cos no Estado-Providncia e no Estado desenvolvimentista redu-
zido ao contrato individual do consumo de servios privatizados.
80 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 80
[32] Um bom exemplo da lgica legal
abissal subjacente construo de
uma vedao na fronteira entre M-
xico e Estados Unidos encontra-se
em Glon, Justin C. Good fences
make good neighbors: national secu-
rity and terrorism time to fence in
our Southern border. Indiana Inter-
national & Comparative Law Review,
vol. 15, n. 2, 2005, pp. 349-88.
[33] Cf. Atkinson, Rowland e Blandy,
Sarah. International perspectives on
the new enclavism and the rise of
gated communities. Housing Studies,
vol. 20, n. 2, 2005, pp. 177-86; Blakely,
Edward J. e Snyder, Mary G. Fortress
America: gated communities in the Uni-
ted States. Cambridge, MA: Brookings
Institution Press/Lincoln Institute of
Land Policy, 1999; Coy, Martin.
Gated communities and urban frag-
mentation in Latin America: the Bra-
zilian experience. GeoJournal, vol.
66, n. 1-2, 2006, pp. 121-32.
[34] Como o caso de Guantnamo
(cf. Amann, op. cit.). Um relatrio do
Comit Parlamentar Temporrio
Europeu de novembro de 2006
sobre a atividade ilegal da CIA na
Europa mostra como os governos
europeus tm atuado como facilita-
dores dos abusos da CIA, tais como a
deteno secreta e a tortura. Essas
operaes margem da lei envolve-
ram 1.245 vos e aterrissagens de
avies da CIA na Europa (alguns
deles para transporte de prisionei-
ros) e a criao de centros de deten-
o secreta na Polnia, na Romnia e
provavelmente tambm na Bulgria,
Ucrnia, Macednia e em Kosovo.
[35] O governo indireto foi uma po-
ltica praticada nas antigas colnias
britnicas mediante a qual as estrutu-
ras tradicionais de poder local foram
em alguma medida incorporadas
administrao colonial. Cf. Lugard,
Frederick D. The dual mandate in Bri-
tish tropical Africa. Londres: W. Black-
wood, 1929; Perham, Margery. A re-
statement of indirect rule. Africa:
Journal of the International African Ins-
titute,vol.7,n.3,1934,pp.321-34;Mali-
nowski, Bronislaw. Indirect rule and
its scientific planning. In: Kaberry,
Phyllis M. (org.). The dynamics of cul-
ture change: an inquiry into race rela-
tions in Africa. New Haven: Yale Uni-
versity Press, 1945, pp. 138-50;
Furnivall, John S. Colonial policy and
practice: a comparative study of Burma
and Netherlands India. Cambridge:
luz das deficincias da regulao pblica, essa reduo preconiza a eli-
minao do mbito contratual de aspectos decisivos para a proteo
dos consumidores, de modo que esses aspectos se tornam extracon-
tratuais e ficam merc da benevolncia das empresas. Ao assumirem
poderes extracontratuais, as agncias de servios privadas ou paraes-
tatais assumem as funes de regulao social anteriormente exerci-
das pelo Estado.Este,implcita ou explicitamente,subcontrata a essas
agncias o desempenho dessas funes,e ao faz-lo sem a participao
efetiva e mesmo o controle dos cidados torna-se conivente com a pro-
duo social de fascismo contratual.
A terceira forma de fascismo social o fascismo territorial. Ocorre
sempre que atores sociais com forte capital patrimonial tomam do
Estado o controle do territrio onde atuam ou neutralizam esse con-
trole, cooptando ou violentando as instituies estatais e exercendo a
regulao social sobre os habitantes do territrio sem a participao
destes e contra os seus interesses. Na maioria dos casos, trata-se de
novos territrios coloniais privados dentro de Estados que quase
sempre estiveram sujeitos ao colonialismo europeu. Sob diferentes
formas, a usurpao original de terras como prerrogativa do conquis-
tador e a subseqente privatizao das colnias encontram-se pre-
sentes na reproduo do fascismo territorial e, mais geralmente, nas
relaes entre terratenentes e camponeses sem terra. As populaes
civis residentes em zonas de conflitos armados tambm se encontram
submetidas ao fascismo territorial
38
.
O fascismo social a nova forma do estado de natureza, e prolifera
sombra do contrato social sob duas formas: ps-contratualismo e pr-
contratualismo. O ps-contratualismo o processo pelo qual grupos e
interesses sociais so excludos do contrato social sem nenhuma pers-
pectiva de regresso:trabalhadores e membros das classes populares em
geral so expulsos do contrato social em virtude da eliminao dos seus
direitos econmicos e sociais,tornando-se assim populaes descart-
veis.O pr-contratualismo consiste no bloqueamento do acesso cida-
dania a grupos sociais que tinham a expectativa fundamentada de nela
ingressar: por exemplo, a juventude urbana dos guetos das megacida-
des do Norte e do Sul globais
39
. Como regime social, o fascismo social
pode coexistir com a democracia poltica liberal. Ele a banaliza a ponto
de no ser necessrio, nem sequer conveniente, sacrificar a democracia
para promover o capitalismo. Trata-se pois de um fascismo pluralista, e
por isso de uma forma de fascismo indita.De fato,creio que talvez este-
jamos entrando num perodo em que as sociedades so politicamente
democrticas e socialmente fascistas.
As novas formas de governo indireto constituem tambm a
segunda grande transformao da propriedade e do direito de proprie-
dade na era moderna. Como apontei de incio, a propriedade dos terri-
81 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 81
Cambridge University Press, 1948;
Morris, Henry F. e Read, James S. Indi-
rect rule and the search for justice: essays
in East African legal history. Oxford:
Clarendon Press, 1972; Mamdani,
Mahmood. Citizen and subject: contem-
porary Africa and the legacy of late colo-
nialism. Princeton: Princeton Univer-
sity Press, 1996; Historicizing power
and responses to power: indirect rule
and its reform. Social Research, vol.
66, n. 3, 1999, pp. 859-86.
[36] Analiso em detalhe a emergn-
cia do fascismo social como conse-
qncia da quebra da lgica do con-
trato social em Santos, A gramtica do
tempo, op. cit., pp. 317-40.
[37] Sobre a privatizao da gua e
suas dramticas conseqncias so-
ciais , ver Buhlungu, Sakhela e outros
(orgs.). State of the nation: South Africa
2005-2006. frica do Sul: HSRC
Press, 2006; Oliveira Filho, Abe-
lardo. Brasil: luta e resistncia contra a
privatizao da gua. Texto apresen-
tado PSI InterAmerican Water Con-
ference, San Jos, julho de 2002
<www.psiru.org/Others/BrasilLuta-
port.doc, acessado em 23/5/ 2006>;
Olivera, Oscar. Cochabamba! Water
war in Bolivia. Cambridge, MA: South
End Press, 2005; Flores, Carlos C. La
guerra del agua de Cochabamba: cinco
lecciones para las luchas anti neolibera-
les en Bolivia <www.aguabolivia.org,
acessado em 2/2/ 2005>; Bauer, Carl
J. Against the current: privatization,
water markets, and the state in Chile.
Londres: Kluwer Academic, 1998;
Trawick, Paul B. The struggle for water
in Peru.Stanford:Stanford University
Press, 2003; Castro, Jos E. Water,
power and citizenship: social struggle in
the Basin of Mexico. Basingstoke
[Inglaterra]/ Nova York: Palgrave
Macmillan, 2006. Ver tambm Klare,
Michael. Resource wars: the new lands-
cape of global conflict. Nova York:
Metropolitan Books, 2001; Hall,
David, Lobina, Emanuele e De La
Motte, Robin. Public resistance to
privatization in water and energy.
Development in Practice, vol. 15, n. 3-4,
2005, pp. 286-301.
[38] Para o caso da Colmbia, ver
Santos, Boaventura de S. e Villegas,
Mauricio G. El caleidoscopio de las jus-
ticias en Colombia. Bogot: Siglo del
Hombre, 2001.
[39] Uma anlise eloqente pode ser
encontrada em Wilson, William J. The
trios do Novo Mundo fundamentou o estabelecimento das linhas
abissais modernas. A primeira transformao teve lugar quando a
propriedade sobre as coisas se expandiu, com o capitalismo, perante
a propriedade sobre os meios de produo.Como bem descreveu Karl
Renner, o proprietrio das mquinas se tornou proprietrio da fora
de trabalho que nelas operava, de modo que o controle sobre as coisas
se converteu em controle sobre as pessoas
40
. Evidentemente, Renner
negligenciou o fato de que essa transformao no ocorreu nas col-
nias, j que nelas o controle sobre as pessoas era a forma original do
controle sobre as coisas, compreendendo tanto as coisas no-huma-
nas como as humanas. A segunda grande transformao da proprie-
dade tem lugar muito alm da produo, quando a propriedade de
servios se torna um meio de controlar as pessoas que deles necessi-
tam para sobreviver. Recorrendo aqui caracterizao do governo
colonial na frica proposta por Mamdani, o novo governo indireto
promove um despotismo descentralizado
41
. O despotismo descen-
tralizado no conflita com a democracia liberal; antes, torna-a cada
vez mais irrelevante para a qualidade de vida de populaes cada vez
mais vastas.
Sob as condies do novo governo indireto, o pensamento abissal
moderno, mais do que regular os conflitos sociais entre cidados,
solicitado a suprimir os conflitos sociais e a ratificar a impunidade
deste lado da linha, como sempre ocorreu do outro lado da linha. Pres-
sionado pela lgica da apropriao/violncia, o prprio conceito de
direito moderno uma norma universalmente vlida que emana do
Estado e por ele imposta coercitivamente caso necessrio encon-
tra-se em transformao. Entre as mudanas conceituais em curso
verifica-se a proposio de uma modalidade de regulamentao eufe-
misticamente denominada lei branda (soft law)
42
. Apresentada
como a manifestao mais benevolente do ordenamento regulao/
emancipao, essa forma de regulamentao traz consigo a lgica da
apropriao/violncia sempre que estejam em jogo relaes de poder
muito desiguais. Trata-se de uma lei cujo cumprimento voluntrio.
Sem surpresa, vem sendo aplicada, em meio a outros mbitos sociais,
no campo das relaes capital/trabalho, e sua verso mais cabal a dos
cdigos de conduta recomendados s multinacionais metropolitanas
na subcontratao de servios s suas sweatshops em todo o mundo.
Essa forma de lei eufemisticamente denominada branda por ser
branda com aqueles cujo comportamento empreendedor conside-
rado regular (empregadores) e dura com aqueles que sofrem as conse-
qncias do seu no-cumprimento (trabalhadores) apresenta
semelhanas intrigantes com o direito colonial, cuja aplicao depen-
dia mais da vontade do colonizador do que de qualquer outra coisa. As
relaes sociais que ela regula so, se no um novo estado de natureza,
82 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 82
truly disadvantaged: the inner city, the
underclass and public policy. Chicago:
University of Chicago Press, 1987.
[40] Renner, Karl. Die Rechtsinstitute
des Privatrechts und ihre soziale Funk-
tion: ein Beitrag zur Kritik des Burgerli-
chen Rechts. Stuttgart: Gustav Fischer,
1965.
[41] Mamdani, Citizen and subject...,
op. cit., cap. 2.
[42] Nos ltimos anos vem-se pro-
duzindo uma vasta literatura terica e
emprica sobre procedimentos insti-
tucionais baseados na colaborao
entre atores no-estatais (firmas,
associaes civis, ONGs, sindicatos
etc.), em lugar da regulao estatal.
Em contraposio ao rigor e imposi-
o, essa abordagem enfatiza a bran-
dura e a obedincia voluntria me-
diante uma ampla variedade de
designaes: regulao responsiva
(Ayres, Ian e Braithwaite, John. Res-
ponsive regulation: transcending the
deregulation debat. Nova York: Oxford
University Press, 1992), lei ps-
regulatria (Teubner, Gunther.
Transnational politics: contention
and institutions in international
politics. Annual Review of Political
Science, vol. 4, 1986, pp. 1-20), lei
branda (Snyder, Francis. Soft law and
institutional practice in the European
Community. Florena: European Uni-
versity Institute, 1993 [EUI Working
Paper Law no 93/5]; Governing glo-
balisation. In: Likosky, Michael
(org.). Transnational legal processes:
globalisation and power disparities.
Londres:Butterworths,2002,pp.65-
97; Trubek, David e Moscher, James.
New governance, employment
policy, and the European social
model. In: Teubner, Gunther (org.).
Governing work and welfare in a new
economy. Berlim: De Gruyter, 2003,
pp. 33-58; Mrth, Ulrika (org.). Soft
law in governance and regulation. Chel-
tenham, UK: E. Elgar, 2004; Trubek,
David e Trubek, Louise G. Hard and
soft law in the construction of social
Europe. European Law Journal, vol.
11, n. 3, 2005, pp. 343-64), experi-
mentalismo democrtico (Dorf,
Michael e Sabel, Charles. A constitu-
tion of democratic experimenta-
lism. Columbia Law Review, vol. 98,
n. 2, 1998, 267-473; Unger, Roberto
M. Democracy realized. Londres:
Verso, 1998), governana coopera-
tiva (Freeman, Jody. Collaborative
governance in the administrative
uma zona intermdia entre o estado de natureza e a sociedade civil,
onde o fascismo social prolifera e floresce.
Em suma, o pensamento abissal moderno, que deste lado da linha
era chamado a regular as relaes entre cidados e entre estes e o
Estado, agora chamado, nos domnios sociais sujeitos a uma maior
presso por parte da lgica da apropriao/violncia, a lidar com os
cidados como se fossem no-cidados e com os no-cidados como
se fossem perigosos selvagens coloniais. Assim como o fascismo
social coexiste com a democracia liberal, o estado de exceo coexiste
com a normalidade constitucional, a sociedade civil coexiste com o
estado de natureza e o governo indireto coexiste com o primado do
direito. Longe de ser a perverso de alguma regra normal, fundadora,
esse estado de coisas constitui o projeto original da epistemologia e da
legalidade modernas, ainda que a linha abissal entre o metropolitano
e o colonial tenha se deslocado, transformando o colonial numa
dimenso interna do metropolitano.
Cosmopolitismo subalterno luz do que foi dito ante-
riormente, ficamos com a idia de que o pensamento abissal conti-
nuar a auto-reproduzir-se por mais excludentes que sejam as pr-
ticas que origina a menos que se defronte com uma resistncia
ativa. Assim, a resistncia poltica deve ter como postulado a resistn-
cia epistemolgica. Como foi dito de incio, no existe justia social
global sem justia cognitiva global. Isso significa que a tarefa crtica
que se avizinha no pode ficar limitada gerao de alternativas: ela
requer um pensamento alternativo de alternativas. preciso um novo
pensamento, um pensamento ps-abissal. Ser isso possvel? Existi-
ro as condies que, se devidamente aproveitadas, podero propiciar
sua emergncia? A investigao sobre essas condies explica minha
especial ateno ao contramovimento acima mencionado, resultante
do abalo que as linhas abissais globais vm sofrendo desde os anos
1970 e o qual designei como cosmopolitismo subalterno
43
.
Apesar de seu carter por ora claramente embrionrio, o cosmopo-
litismo subalterno contm uma promessa real. De fato, para capt-lo
necessrio realizar aquilo que chamo de sociologia das emergn-
cias
44
, a qual consiste numa amplificao simblica de sinais, pistas
e tendncias latentes que, embora dispersas, embrionrias e fragmen-
tadas, apontam para novas constelaes de sentido referentes tanto
compreenso como transformao do mundo. O cosmopolitismo
subalterno se manifesta mediante os diversos movimentos e organi-
zaes que configuram a globalizao contra-hegemnica, lutando
contra a excluso social, econmica, poltica e cultural gerada pela
mais recente encarnao do capitalismo global, conhecida como glo-
balizao neoliberal
45
. Tendo em mente que a excluso social sempre
83 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 83
state. UCLA Law Review, vol. 45,
1997, pp. 1-98), regulao externali-
zada (ORourke, Dara. Outsour-
cing regulation: analysing non-
governmental systems of labor
standards monitoring. Policy Studies
Journal,vol.31,2003,pp.1-29) ou sim-
plesmente governana (MacNeil,
Michael, Sargent, Neil e Swan, Peter
(orgs.). Law, regulation and gover-
nance. Ontrio: Oxford University
Press, 2000; Nye, Joseph e Donahue,
John (orgs.). Governance in a globali-
zing world. Washington, DC: Broo-
kings Institution, 2000). Para uma
crtica, ver Santos, Frum Social Mun-
dial, op. cit., pp. 29-63.
[43] No me ocupo aqui dos debates
atuais sobre cosmopolitismo. Na sua
longa histria, o cosmopolitismo
significou universalismo, tolerncia,
patriotismo,cidadania global,comu-
nidade global de seres humanos, cul-
turas globais etc. O que mais fre-
qentemente ocorre quando esse
conceito aplicado como instru-
mento para descrever uma realidade
ou como instrumento em lutas pol-
ticas que o carter incondicional-
mente inclusivo de sua formulao
abstrata utilizado em nome de inte-
resses excludentes de um grupo
social especfico. De certo modo, o
cosmopolitismo tem sido privilgio
daqueles que podem usufru-lo. A
forma como retomo esse conceito
prev a identificao dos grupos cu-
jas aspiraes so negadas ou torna-
das invisveis pelo uso hegemnico
do conceito, mas que podem ser
beneficiados pelo uso alternativo do
conceito. Parafraseando Stuart Hall,
que levantou uma questo seme-
lhante em relao ao conceito de
identidade (Who needs identity?.
In: Hall Stuart e Du Gay, Paul (orgs.).
Questions of cultural identity.Londres:
Sage, 1996, pp. 1-17), pergunto: quem
precisa do cosmopolitismo? A res-
posta simples: todo aquele que for
vtima de intolerncia e discrimina-
o necessita de tolerncia; todo
aquele a quem seja negada a digni-
dade humana bsica necessita de
uma comunidade de seres humanos;
todo aquele que seja no-cidado
necessita da cidadania numa dada
comunidade ou nao. Em suma, os
socialmente excludos, vtimas da
concepo hegemnica de cosmopo-
litismo, necessitam de um tipo
diverso de cosmopolitismo. Assim, o
cosmopolitismo subalterno consti-
tui uma variante oposta. Da mesma
produto de relaes de poder desiguais, essas iniciativas so anima-
das por um ethos redistributivo no sentido mais amplo da expresso
compreendendo a redistribuio de recursos materiais, sociais, polti-
cos, culturais e simblicos , e como tal baseado simultaneamente
nos princpios da igualdade e do reconhecimento da diferena. Desde
o incio deste sculo, o Frum Social Mundial tem sido a expresso
mais cabal da globalizao contra-hegemnica e do cosmopolitismo
subalterno
46
. Entre as entidades que dele participam, os movimentos
indgenas so, do meu ponto de vista, aqueles cujas concepes e pr-
ticas representam a mais convincente emergncia do pensamento
ps-abissal, o que muito auspicioso para a possibilidade de um tal
pensamento, j que os povos indgenas so os habitantes paradigm-
ticos do outro lado da linha, o campo histrico do paradigma apro-
priao/violncia.
A novidade do cosmopolitismo subalterno reside acima de tudo
em seu profundo sentido de incompletude, sem contudo ambicionar
a completude. Por um lado, defende que a compreenso do mundo
excede largamente a compreenso ocidental do mundo, e que a nossa
compreenso da globalizao, portanto, muito menos global do que
a prpria globalizao. Por outro lado, defende que quanto mais com-
preenses no-ocidentais forem identificadas mais evidente se tor-
nar o fato de que ainda restam muitas outras por identificar, e que as
compreenses hbridas com elementos ocidentais e no-ociden-
tais so virtualmente infinitas. O pensamento ps-abissal parte da
idia de que a diversidade do mundo inesgotvel e continua despro-
vida de uma epistemologia adequada,de modo que a diversidade epis-
temolgica do mundo est por ser construda.
A seguir apresento um esquema geral do pensamento ps-abissal.
Concentro-me nas suas dimenses epistemolgicas, deixando de
lado suas dimenses jurdicas.
PENSAMENTO PS-ABISSAL COMO UM SABER ECOLGICO
O pensamento ps-abissal parte do reconhecimento de que a
excluso social, no seu sentido mais amplo, assume diferentes formas
conforme seja determinada por uma linha abissal ou no-abissal, e da
noo de que enquanto persistir a excluso definida abissalmente no
ser possvel qualquer alternativa ps-capitalista progressista. Du-
rante um perodo de transio possivelmente longo, confrontar a
excluso abissal ser um pr-requisito para abordar de modo eficiente
as muitas formas de excluso no-abissal que tm dividido o mundo
moderno deste lado da linha. Uma concepo ps-abissal do mar-
xismo (em si mesmo um bom exemplo de pensamento abissal) pre-
tende que a emancipao dos trabalhadores seja conquistada em con-
84 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 84
forma que a globalizao neoliberal
no reconhece quaisquer formas
alternativas de globalizao, tam-
bm o cosmopolitismo sem adjetivos
nega a sua prpria especificidade. O
cosmopolitismo subalterno de opo-
sio uma forma cultural e poltica
de globalizao contra-hegemnica.
o nome dos projetos emancipat-
rios cujas reivindicaes e critrios
de incluso social vo alm dos hori-
zontes do capitalismo global. Ou-
tros, com preocupaes similares,
tambm adjetivaram o cosmopoli-
tismo: cosmopolitismo enraizado
(Cohen, Mitchell. Rooted cosmo-
politanism: thoughts on the left,
nationalism, and multiculturalism.
Dissent, vol. 39, n. 4, 1992, pp. 478-
83), cosmopolitismo patritico
(Appiah, Kwame A. Cosmopolitan
patriots. In: Cheah, Pheng e Rob-
bins, Bruce (orgs.). Cosmopolitics:
thinking and feeling beyond the natio.
Minneapolis: University of Minne-
sota Press, 1998, pp. 91-116), cos-
mopolitismo vernacular (Bhabha,
Homi. Unsatisfied: notes on verna-
cular cosmopolitanism. In: Garca-
Moreno, Laura e Pfeifer, Peter C.
(orgs.). Text and nation. Londres:
Camden House, 1996, pp. 191-207;
Diouf, Mamadou. The Senegalese
Murid trade diaspora and the
making of a vernacular cosmopolita-
nism. Public Culture, vol. 12, n. 3,
2000, pp. 679-702), etnicidade
cosmopolita (Werbner, Richard.
Cosmopolitan ethnicity, entrepre-
neurship and the nation: minority
elites in Botswana. Journal of Sou-
thern African Studies, vol. 28, n. 4,
2002, 731-53), cosmopolitismo das
classes trabalhadoras (Werbner,
Pnina. Global pathways: working
class cosmopolitans and the creation
of transnational ethnic worlds.
Social Anthropology, vol. 7, n. 1, 1999,
pp. 17-37). Sobre as distintas formas
de cosmopolitismo, ver Brecken-
ridge, Carol e outros (orgs.). Cosmo-
politanism. Durham: Duke University
Press, 2002.
[44] Santos, A critique of lazy rea-
son, op. cit.; A gramtica do tempo,
op. cit., pp. 93-136.
[45] Cf. Santos, Boaventura de S.
Os processos da globalizao. In:
idem (org.). Globalizao e cincias
sociais. So Paulo: Cortez, 2002, pp.
25-104; A gramtica do tempo, op. cit.
junto com a emancipao de todas as populaes descartveis do Sul
global, que so oprimidas mas no diretamente exploradas pelo capi-
talismo global. Da mesma forma, reivindica que os direitos dos cida-
dos no estaro assegurados enquanto os no-cidados sofrerem um
tratamento sub-humano
47
.
Assim, o reconhecimento da persistncia do pensamento abissal
condio sine qua non para comear a pensar e a agir para alm dele. Sem
esse reconhecimento, o pensamento crtico permanecer um pensa-
mento derivativo, que continuar a reproduzir as linhas abissais por
mais antiabissal que se autoproclame. Pelo contrrio, o pensamento
ps-abissal um pensamento no-derivativo, pois envolve uma rup-
tura radical com as formas de pensamento e ao da modernidade oci-
dental. No nosso tempo, pensar em termos no-derivativos significa
pensar a partir da perspectiva do outro lado da linha,precisamente por-
que ele o domnio do impensvel no Ocidente moderno. A emergn-
cia do ordenamento da apropriao/violncia s poder ser enfrentada
se situarmos nossa perspectiva epistemolgica na experincia social do
outro lado da linha, isto , do Sul global, concebido como a metfora do
sofrimento humano sistmico e injusto provocado pelo capitalismo
global e pelo colonialismo
48
. O pensamento ps-abissal pode ser sin-
tetizado como um aprender com o Sul usando uma epistemologia do
Sul. Ele confronta a monocultura da cincia moderna com uma ecologia
de saberes, na medida em que se funda no reconhecimento da plurali-
dade de conhecimentos heterogneos (sendo um deles a cincia
moderna) e em interaes sustentveis e dinmicas entre eles sem com-
prometer sua autonomia.A ecologia de saberes se baseia na idia de que
o conhecimento interconhecimento
49
.
Assim, a primeira condio para um pensamento ps-abissal a
co-presena radical. A co-presena radical significa que prticas e agen-
tes de ambos os lados da linha so contemporneos em termos iguali-
trios. Implica conceber simultaneidade como contemporaneidade, o
que requer abandonar a concepo linear de tempo
50
. S assim ser
possvel ir alm de Hegel, para quem ser membro da humanidade his-
trica isto ,estar deste lado da linha significava:no sculo V a.C.,
ser um grego e no um brbaro; nos primeiros sculos da era crist, ser
um cidado romano e no um grego; na Idade Mdia, ser um cristo e
no um judeu; no sculo XVI, ser um europeu e no um selvagem do
Novo Mundo; e no sculo XIX ser um europeu (incluindo os europeus
deslocados da Amrica do Norte) e no um asitico, estagnado na his-
tria, ou um africano, que sequer faz parte dela
51
. Alm disso, a co-pre-
sena radical pressupe a abolio da guerra, que, juntamente com a
intolerncia, constitui a negao mais radical da co-presena.
Como ecologia de saberes, o pensamento ps-abissal tem por pre-
missa a idia da inesgotvel diversidade epistemolgica do mundo, o reco-
85 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 85
[46] Sobre a dimenso cosmopolita
do Frum Social Mundial, ver Fisher,
William F. e Ponniah, Thomas. Ano-
ther world is possible: popular alternati-
ves to globalization at the World Social
Forum. Londres: Zed Books, 2003;
Sen, Jai e outros (orgs.). World Social
Forum: challenging empires. Nova Dli:
Viveka Foundation, 2004; Santos,
Frum Social Mundial, op. cit.
[47] Gandhi provavelmente foi o
pensador-ativista dos tempos mo-
dernos que mais consistentemente
pensou e atuou em termos no-abis-
sais. Tendo experienciado as exclu-
ses radicais tpicas do pensamento
abissal, no se desviou do seu prop-
sito de construir uma nova forma de
universalidade capaz de libertar tan-
to o opressor como a vtima, con-
forme reafirma Ashis Nandy: A viso
gandhiana desafia a tentao de igua-
lar o opressor na violncia e de read-
quirir uma auto-estima prpria como
competidor num mesmo sistema.
uma viso assente numa identifi-
cao com os oprimidos que exclui a
fantasia da superioridade do estilo de
vida do opressor, to profundamente
enraizada na conscincia daqueles
que reclamam falar em nome das vti-
mas da histria (Traditions, tyrann-
yand utopias: essays in the politics of
awareness. Oxford:Oxford University
Press, 1987, p. 35).
[48] Cf. Santos, Toward a new com-
mon sense, op. cit., pp. 506-19.
[49] Cf.Santos, A gramtica do tempo,
pp. 137-78.
[50] Imaginemos que um campons
africano e um funcionrio do Banco
Mundial se encontrassem num cam-
po africano: segundo o pensamento
abissal, esse encontro seria simult-
neo (pleonasmo intencional) mas
no contemporneo; j de acordo
com o pensamento ps-abissal o
encontro simultneo e ocorre entre
dois indivduos contemporneos.
[51] Hegel, Georg W. F. Vorlesungen
ber die Philosophie der Geschichte.
Frankfurt am Main:Suhrkamp,1970.
[52] Esse reconhecimento da diver-
sidade e da diferenciao um dos
componentes fundamentais da Wel-
tanschaung [viso de mundo] por
meio da qual podemos imaginar o
sculo XXI. Essa Weltanschaung
radicalmente diferente daquela ado-
nhecimento da existncia de uma pluralidade de formas de conheci-
mento alm do conhecimento cientfico
52
. Isso implica renunciar a
qualquer epistemologia geral.Existem em todo o mundo no s diver-
sas formas de conhecimento da matria, da sociedade, da vida e do
esprito, mas tambm muitos e diversos conceitos e critrios sobre o
que conta como conhecimento. No perodo de transio que se inicia,
em que ainda persistem as perspectivas abissais de totalidade e uni-
dade, provavelmente precisamos de uma epistemologia geral residual
ou negativa para seguir em frente: uma epistemologia geral da impos-
sibilidade de uma epistemologia geral.
O contexto cultural em que se situa a ecologia de saberes amb-
guo.Por um lado,a idia da diversidade sociocultural do mundo se for-
taleceu nas trs ltimas dcadas, favorecendo o reconhecimento da
pluralidade epistemolgica como uma de suas dimenses. Por outro
lado, se todas as epistemologias partilham as premissas culturais do
seu tempo, uma das mais bem consolidadas premissas do pensa-
mento abissal talvez seja, ainda hoje, a da crena na cincia como nica
forma de conhecimento vlida e rigorosa.Ortega y Gasset props uma
distino radical entre crenas e idias, entendendo por estas ltimas
a cincia ou a filosofia
53
. A distino reside em que as crenas fazem
parte de nossa identidade e subjetividade, enquanto as idias nos so
exteriores. Enquanto nossas idias nascem da dvida e permanecem
nela,nossas crenas nascem da ausncia de dvida.No fundo,a distin-
o entre ser e ter: somos as nossas crenas, temos idias. O que
caracterstico do nosso tempo o fato de a cincia moderna pertencer
simultaneamente ao campo das idias e ao campo das crenas. A
crena na cincia excede em muito o que as idias cientficas nos per-
mitem realizar. Assim, a relativa perda de confiana epistemolgica na
cincia durante a segunda metade do sculo XX ocorreu de par com a
crescente crena popular na cincia. A relao entre crenas e idias
como duas entidades distintas passa a ser uma relao entre duas
maneiras de experienciar socialmente a cincia. Essa dualidade faz
com que o reconhecimento da diversidade cultural do mundo no sig-
nifique necessariamente o reconhecimento da diversidade epistemo-
lgica do mundo.
Nesse contexto, a ecologia de saberes basicamente uma contra-
epistemologia. O impulso bsico para o seu avano resulta de dois
fatores. O primeiro consiste nas novas emergncias polticas de povos
do outro lado da linha como parceiros da resistncia ao capitalismo
global: globalizao contra-hegemnica. Em termos geopolticos,
trata-se de sociedades perifricas do sistema-mundo moderno onde a
crena na cincia moderna mais tnue, onde mais visvel a vincula-
o da cincia moderna aos desgnios da dominao colonial e impe-
rial, onde conhecimentos no-cientficos e no-ocidentais prevale-
86 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 86
tada pelos pases centrais no incio do
sculo XX,quando a imaginao epis-
temolgica estava dominada pela
idia de unidade.
[53] Ortega y Gasset, Jose. Ideas y
creencias. Madri: Revista de Occi-
dente, 1942.
[54] As epistemologias feministas
tm sido centrais para a crtica dos
dualismos clssicos da moderni-
dade, tais como natureza/cultura, su-
jeito/objeto e humano/no-humano,
e da naturalizao das hierarquias de
classe, gnero e raa. Para algumas
contribuies relevantes s crticas
feministas da cincia, ver Keller,
Evelyn F. Reflections on gender and
science. New Haven: Yale University
Press, 1985; Harding, Sandra. The
science question in feminism. Ithaca:
Cornell University Press, 1986; Is
science multicultural? Postcolonialisms,
feminisms, and epistemologies. Bloo-
mington: Indiana University Press,
1998; Idem (org.). The feminist stand-
point theory reader. Nova York: Rou-
tledge, 2003; Haraway, Donna J. Pri-
mate visions: gender, race, and nature in
the world of modern science. Londres:
Verso, 1992; Modest_witness [...]:
feminism and technoscience.Nova York:
Routledge, 1997. Uma panormica
interessante, ainda que centrada no
Norte global, encontra-se em Crea-
ger, Angela, Lunbeck, Elizabeth e
Schiebinger, Londa (orgs.). Feminism
in twentieth-century: science, techno-
logy, and medicine. Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, 2001. Quanto
s epistemologias ps-coloniais, ver,
entre muitos outros, Alvares, Claude.
Science, development and violence: the
revolt against modernity. Nova Dli:
Oxford University Press, 1992; Dus-
sel, The invention of the Americas, op.
cit.; Guha, Ramachandra e Martnez-
Allier, Juan. Varieties of environmenta-
lism: essays North and South. Londres:
Earthscan, 1997; Quijano, op. cit.;
Mignolo,Local histories/global designs,
op. cit.; Mbembe, op. cit.
cem nas prticas cotidianas das populaes. O segundo fator uma
proliferao sem precedentes de alternativas, as quais porm no
podem ser agrupadas sob a alada de uma nica alternativa global,
visto que globalizao contra-hegemnica se destaca pela ausncia de
uma alternativa no singular. A ecologia de saberes procura dar consis-
tncia epistemolgica ao pensamento pluralista e propositivo.
Na ecologia de saberes cruzam-se conhecimentos e tambm igno-
rncias. No existe uma unidade de conhecimento, assim como no
existe uma unidade de ignorncia. As formas de ignorncia so to
heterogneas e interdependentes quanto as formas de conhecimento.
Dada essa interdependncia, a aprendizagem de certos conhecimentos
pode envolver o esquecimento e em ltima instncia a ignorncia de
outros. Desse modo, na ecologia de saberes a ignorncia no necessa-
riamente um estado original ou ponto de partida.Pode ser um ponto de
chegada.Pode ser o resultado do esquecimento ou da desaprendizagem
implcito num processo de aprendizagem recproca. Assim, num pro-
cesso de aprendizagem conduzido por uma ecologia de saberes crucial
a comparao entre o conhecimento que est sendo aprendido e o
conhecimento que nesse processo esquecido e desaprendido. A igno-
rncia s uma forma desqualificada de ser e de fazer quando aquilo que
se aprende vale mais do que aquilo que se esquece. A utopia do interco-
nhecimento consiste em aprender outros conhecimentos sem esquecer
os prprios. O princpio da prudncia que subjaz ecologia de saberes
(do qual falaremos mais adiante) convida a uma reflexo mais pro-
funda sobre a diferena entre a cincia como conhecimento monopo-
lista e a cincia como parte de uma ecologia de saberes.
Como produto do pensamento abissal, o conhecimento cientfico
no se encontra distribudo socialmente de forma equitativa nem
poderia estar, uma vez que o seu desgnio original foi converter este
lado da linha em sujeito do conhecimento e o outro lado em objeto de
conhecimento. As intervenes no mundo real por ele propiciadas
tendem a servir aos grupos sociais que tm maior acesso a esse conhe-
cimento. Enquanto as linhas abissais continuarem a ser traadas, a
luta por uma justia cognitiva no ter xito caso se apie apenas na
idia de uma distribuio mais equitativa do conhecimento cientfico.
Alm do fato de que tal distribuio impossvel nas condies do
capitalismo e do colonialismo, o conhecimento cientfico tem limites
intrnsecos quanto ao tipo de interveno que promove no mundo
real. Na ecologia de saberes, a busca de credibilidade para os conheci-
mentos no-cientficos no implica o descrdito do conhecimento
cientfico. Implica simplesmente a sua utilizao contra-hegemnica.
Trata-se, por um lado, de explorar a pluralidade interna da cincia, isto
, as prticas cientficas alternativas que tm se tornado visveis por
meio das epistemologias feministas e ps-coloniais
54
, e, por outro
87 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 87
[55] Cf. Santos, Meneses e Nunes,
op. cit.
lado, de promover a interao e a interdependncia entre os saberes
cientficos e outros saberes, no-cientficos.
Uma das premissas bsicas da ecologia de saberes que todos os
conhecimentos tm limites internos, referentes s intervenes no
real que eles permitem, e externos, decorrentes do reconhecimento de
intervenes alternativas propiciadas por outras formas de conheci-
mento. Por definio, as formas de conhecimento hegemnicas s
conhecem limites internos, de modo que o uso contra-hegemnico da
cincia moderna s possvel mediante a explorao paralela de seus
limites internos e externos como parte de uma concepo contra-
hegemnica de cincia. por isso que o uso contra-hegemnico da
cincia no pode se limitar cincia. S faz sentido no mbito de uma
ecologia de saberes.
Para uma ecologia de saberes, o conhecimento como interveno
no real no como representao do real a medida do realismo.
A credibilidade da construo cognitiva mensurada pelo tipo de
interveno no mundo que ela proporciona, auxilia ou impede. Como
a avaliao dessa interveno sempre combina o cognitivo com o
tico-poltico, a ecologia de saberes distingue a objetividade analtica
da neutralidade tico-poltica.Hoje em dia ningum questiona o valor
geral das intervenes no real propiciadas pela cincia moderna por
meio de sua produtividade tecnolgica. Mas isso no deve nos impe-
dir de reconhecer intervenes propiciadas por outras formas de
conhecimento. Em muitas reas da vida social a cincia moderna tem
demonstrado uma indiscutvel superioridade em relao a outras for-
mas de conhecimento, mas h outros modos de interveno no real
que hoje nos so valiosos e para os quais a cincia moderna em nada
contribuiu. o caso, por exemplo, da preservao da biodiversidade
possibilitada por formas de conhecimento camponesas e indgenas,
que se encontram ameaadas justamente pela crescente interveno
da cincia moderna
55
. E no deveria nos impressionar a riqueza dos
conhecimentos que lograram preservar modos de vida,universos sim-
blicos e informaes vitais para a sobrevivncia em ambientes hostis
com base exclusivamente na tradio oral? Dir algo sobre a cincia o
fato de que por intermdio dela isso nunca teria sido possvel?
Eis o impulso para a co-presena igualitria (como simultanei-
dade e contemporaneidade) e para a incompletude. Dado que ne-
nhuma forma de conhecimento pode responder por todas as inter-
venes possveis no mundo, todas as formas de conhecimento so,
de diferentes maneiras, incompletas. A incompletude no pode ser
erradicada, porque qualquer descrio completa das variedades de
saber no incluiria a forma de saber responsvel pela prpria descri-
o. No h conhecimento que no seja conhecido por algum para
certos objetivos. Todos os conhecimentos sustentam prticas e cons-
88 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 88
[56] Cf. Santos, A crtica da razo
indolente, op. cit., pp. 225-53.
tituem sujeitos. Todos os conhecimentos so testemunhais porque
aquilo que conhecem sobre o real (sua dimenso ativa) sempre
duplicado por aquilo que do a conhecer sobre o sujeito do conheci-
mento (sua dimenso subjetiva). Ao questionar a distino sujeito/
objeto, as cincias da complexidade do conta desse fenmeno mas o
confinam s prticas cientficas. A ecologia de saberes expande o
carter testemunhal dos conhecimentos de modo a abarcar igual-
mente as relaes entre o conhecimento cientfico e o no-cientfico,
ampliando assim o alcance da intersubjetividade como interconheci-
mento e vice-versa.
Num regime de ecologia de saberes, a busca de intersubjetividade
to importante quanto complexa.Uma vez que diferentes prticas de
conhecimento tm lugar em diferentes escalas espaciais e com dife-
rentes duraes e ritmos,a intersubjetividade requer a disposio para
conhecer e agir em diferentes escalas (interescalaridade) e com dife-
rentes duraes (intertemporalidade).Muitas das experincias subal-
ternas de resistncia so locais ou foram localizadas e assim tornadas
irrelevantes ou inexistentes pelo conhecimento abissal moderno, o
nico capaz de gerar experincias globais. Dado porm que a resistn-
cia contra as linhas abissais precisa ocorrer em uma escala global,
imperativo desenvolver algum tipo de articulao entre as experin-
cias subalternas por meio de ligaes entre o local e o global. Desse
modo, a ecologia de saberes tem de ser transescalar
56
.
Alm disso, a coexistncia de diferentes temporalidades ou dura-
es em diferentes prticas de conhecimento requer uma expanso da
moldura temporal. Na medida em que as modernas tecnologias ten-
dem a favorecer a moldura temporal e a durao da ao estatal,tanto na
administrao pblica como na poltica (o ciclo eleitoral,por exemplo),
as experincias subalternas do Sul global tm sido foradas a responder
tanto curta durao das necessidades imediatas de sobrevivncia
como longa durao do capitalismo e do colonialismo. Mesmo nas
lutas subalternas podem estar presentes diferentes duraes. A luta
pela terra empreendida pelos camponeses empobrecidos no Brasil, por
exemplo, pode incluir: a durao do Estado moderno, quando o Movi-
mento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) luta pela reforma
agrria; a durao da escravatura, quando os afro-descendentes lutam
pela recuperao dos quilombos; ou ainda a durao do colonialismo,
quando os povos indgenas lutam para reaver seus territrios histri-
cos, dos quais foram esbulhados pelos conquistadores.
A ecologia de saberes no concebe os conhecimentos em abstrato,
mas como prticas de conhecimento que possibilitam ou impedem
certas intervenes no mundo real. Um pragmatismo epistemolgico
justificado acima de tudo pelo fato de que as experincias de vida dos
oprimidos lhes so inteligveis por via de uma epistemologia das con-
89 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 89
[57] A prevalncia dos juzos cogni-
tivos ao efetuar determinada prtica
de conhecimento no conflita com a
prevalncia dos juzos tico-polticos
na deciso a favor de um determinado
tipo de interveno real que esse
conhecimento especfico possibilita
em detrimento de intervenes alter-
nativas possibilitadas por conheci-
mentos alternativos.
seqncias. No mundo em que vivem, as conseqncias vm sempre
primeiro que as causas.
A ecologia de saberes assenta na idia pragmtica de que neces-
sria uma reavaliao das intervenes e relaes concretas na socie-
dade e na natureza que os diferentes conhecimentos proporcionam.
Centra-se pois nas relaes entre saberes, nas hierarquias que se
geram entre eles, uma vez que nenhuma prtica concreta seria poss-
vel sem essas hierarquias. No entanto, em vez de subscrever uma
hierarquia nica, universal e abstrata entre os saberes, estabelece hie-
rarquias em conformidade com o contexto, luz dos resultados con-
cretos pretendidos ou atingidos pelas diferentes formas de saber.
Hierarquias concretas emergem do valor relativo de intervenes
alternativas no mundo real. Entre os diferentes tipos de interveno
pode existir complementaridade ou contradio
57
. Sempre que h
intervenes no real que em princpio podem ser levadas a cabo por
diferentes sistemas de conhecimento, as escolhas concretas das for-
mas de conhecimento a privilegiar devem ser informadas pelo princ-
pio da prudncia, que no contexto da ecologia de saberes consiste em
dar preferncia s formas de conhecimento que garantam a maior
participao possvel dos grupos sociais envolvidos na concepo,
execuo, controle e fruio da interveno.
O exemplo a seguir ilustra bem os perigos de substituir um tipo de
conhecimento por outro com base em hierarquias abstratas. Nos anos
1960,os milenares sistemas de irrigao dos campos de arroz da ilha de
Bali, na Indonsia, foram substitudos por sistemas cientficos promo-
vidos pelos proslitos da Revoluo Verde. Os sistemas tradicionais se
baseavam em conhecimentos hidrolgicos, agrcolas e religiosos
ancestrais e eram administrados por sacerdotes de um templo hindu-
budista dedicado a Dewi-Danu, a deusa do lago. Foram substitudos
precisamente por serem considerados produtos da magia e da supers-
tio, daquilo que foi depreciativamente designado como culto do
arroz. S que a substituio teve resultados desastrosos para a cultura
do arroz, cuja colheita decresceu drasticamente nos anos subseqen-
tes. Diante disso, os sistemas cientficos tiveram de ser abandonados e
os sistemas tradicionais restaurados.Esse caso ilustra a importncia do
princpio da prudncia quando lidamos com uma possvel comple-
mentaridade ou contradio entre diferentes tipos de conhecimento. A
suposta incompatibilidade entre dois sistemas de conhecimento (o re-
ligioso e o cientfico) para a realizao da mesma interveno (a irriga-
o dos campos de arroz) resultou de uma m avaliao (m cincia)
provocada precisamente por juzos abstratos, baseados na superiori-
dade abstrata do conhecimento cientfico.Trinta anos depois da desas-
trosa interveno tcnico-cientfica, a modelagem computacional
uma rea das novas cincias ou cincias da complexidade veio
90 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 90
[58] Cf. Lansing, John S. Balinese
water temples and the management
of irrigation. American Anthropolo-
gist, vol. 89, n. 2, 1987, pp. 326-41;
Priests and programmers: technologies
of power in the engineered landscape of
Bali. Princeton: Princeton University
Press, 1991; Lansing, John S. e Kre-
mer, James N. Emergent properties
of Balinese water temples: coadapta-
tion on a rugged fitness landscape.
American Anthropologist, vol. 95, n. 1,
1993, pp. 97-114.
[59] Cf. Eze, Emmanuel Ch. (org.).
Postcolonial African philosophy: a criti-
cal reader. Oxford: Blackwell Publis-
hers, 1997; Karp, Ivan e Masolo, Dis-
mas (orgs.). African philosophy as
cultural inquiry. Bloomington: In-
diana University Press, 2000; Houn-
tondji, Paulin J. The struggle for mea-
ning: reflections on philosophy, culture,
and democracy in Africa. Athens: Ohio
University Center for International
Studies, 2002.
[60] Nessa rea os problemas esto
freqentemente associados lingua-
gem, a qual de fato um instrumento
essencial para o desenvolvimento de
uma ecologia de saberes. Desse mo-
do, a traduo deve operar nos nveis
lingstico e cultural. A traduo cul-
tural representa uma das tarefas mais
desafiantes para filsofos, cientistas
sociais e ativistas no sculo XXI.
Abordo esse tema com maior detalhe
em Santos, A critique of lazy rea-
son, op. cit.; A gramtica do tempo,
op. cit.
demonstrar que as seqncias da gua geridas pelos sacerdotes da
deusa Dewi-Danu eram as mais eficientes possveis,portanto mais efi-
cientes do que as do sistema cientfico de irrigao
58
.
Na perspectiva das epistemologias abissais do Norte global, o
policiamento das fronteiras do conhecimento relevante de longe
mais decisivo do que as discusses sobre diferenas internas. Assim,
em razo do epistemicdio em massa perpetrado nos ltimos cinco
sculos, desperdiou-se uma imensa riqueza de experincias cogniti-
vas. Para recuperar algumas dessas experincias, a ecologia de saberes
recorre ao seu atributo ps-abissal mais caracterstico, a traduo
intercultural. Embebidas em diferentes culturas ocidentais e no-oci-
dentais, essas experincias no s usam linguagens diferentes, mas
tambm diferentes categorias, universos simblicos e aspiraes a
uma vida melhor.
As profundas diferenas entre saberes levantam a questo da
incomensurabilidade, questo utilizada pela epistemologia abissal
para desacreditar a mera possibilidade de uma ecologia de saberes.
Um exemplo ajuda a ilustrar essa questo. Ser possvel estabelecer
um dilogo entre a filosofia ocidental e a filosofia africana? Formu-
lada assim, a pergunta parece s permitir uma resposta positiva, uma
vez que ambas so filosofia (o mesmo argumento pode ser usado em
relao a um dilogo entre religies). No entanto, para muitos filso-
fos ocidentais e africanos no possvel referirmo-nos a uma filo-
sofia africana porque existe apenas uma filosofia, cuja universalidade
no posta em causa pelo fato de que at o momento seu desenvolvi-
mento se deu sobretudo no Ocidente. Na frica, tal a posio dos
filsofos chamados modernistas. J para os tradicionalistas h fi-
losofia africana, mas como ela est embebida na cultura africana
incomensurvel com a filosofia ocidental e deve seguir seu desenvol-
vimento autnomo
59
. Mas, alm dessas duas posies, h perspecti-
vas para as quais existem muitas filosofias e possvel haver entre
elas um dilogo, um enriquecimento mtuo. Essas perspectivas se
vem freqentemente confrontadas com os problemas da incomen-
surabilidade, da incompatibilidade e da ininteligibilidade recpro-
cas, os quais procuram resolver explorando formas de complementa-
ridade. Tudo depende do uso de procedimentos adequados de
traduo intercultural, mediante os quais possvel identificar preo-
cupaes comuns e aproximaes complementares, assim como,
est claro, contradies intransponveis
60
.
O seguinte exemplo ilustra o que est em jogo. O filsofo ganense
Kwasi Wiredu afirma que na lngua akan (do grupo tnico a que per-
tence) no possvel traduzir o preceito cartesiano Cogito,ergo sum,j
que nela no h palavras para exprimir tal idia. Em akan, pensar sig-
nifica medir algo,o que no faz sentido quando ligado idia de exis-
91 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 91
[61] Wiredu,Kwasi.Are there cultu-
ral universals?.Quest,vol.4,n.2,1990,
pp. 5-19; Cultural universals and par-
ticulars: an African perspective. Bloo-
mington: Indiana University Press,
1996.
[62] Sobre essa questo e o debate
que ela suscita, ver Idem. African
philosophy and inter-cultural dialo-
gue.Quest,vol.11,n.1/2,1997,pp.29-
41; Osha, Sanya. Kwasi Wiredu and
the problems of conceptual decoloni-
zation. Quest, vol. 13, n. 1/2, 1999, pp.
157-64.
[63] Bloch, Ernst. The principle of
hope.Cambridge,MA:The MIT Press,
1995 [1947],p.241.Sobre a sociologia
das emergncias, ver Santos, A criti-
que of lazy reason, op. cit.; A gram-
tica do tempo, op. cit., pp. 93-136.
[64] De uma perspectiva distinta, a
ecologia dos saberes procura a mesma
complementaridade que Paracelso
identificou entre Archeus, a von-
tade elementar na semente e no
corpo, e Vulcanus, a fora natural
da matria. Cf. Paracelsus. Mikrokos-
mos und Makrokosmos. Munique:
Eugen Diedrichs Verlag, 1989, p. 33;
ver tambm Idem. The hermetic and
alchemical writings. Nova York: Uni-
versity Books, 1967.
[65] Cf. Santos, Boaventura de S.
Reinventar a democracia. Lisboa: Gra-
diva, 1998.
[66] Cf. Epicurus. Epicuruss morals:
collected and faithfully englished. Lon-
dres: Peter Davies, 1926; Lucretius.
Lucretius on the nature of things. New
Brunswick: Rutgers University Press,
1950. O conceito de clinamen entrou
na teoria literria pela mo de Harold
Bloom,que em A angstia da influncia
se serve da noo para explicar a cria-
tividade potica como uma treslei-
tura que antes transleitura (o
termo original misreading, um ler-
mal que tambm ler-mais-do-que-
bem, ou corrigir). Diz Bloom: Um
poeta desvia-se do poema do seu pre-
cursor executando um clinamen em
relao a ele (The anxiety of influence.
Oxford: Oxford University Press,
1973, p. 14 [em traduo do autor]).
tir. E o existo igualmente dificlimo de exprimir, porque o equiva-
lente mais prximo algo semelhante a estou a. O locativo a,
segundo Wiredu, seria suicida tanto do ponto de vista da epistemolo-
gia como da metafsica do cogito
61
. Ou seja, a lngua permite exprimir
certas idias e no outras. Mas isso no significa que a relao entre a
filosofia africana e a filosofia ocidental tenha de ficar por aqui. Como
Wiredu tenta demonstrar, possvel desenvolver argumentos autno-
mos com base na filosofia africana no s sobre o motivo pelo qual ela
no poder exprimir o cogito, mas tambm sobre as muitas idias alter-
nativas que ela pode exprimir e a filosofia ocidental no pode
62
.
A ecologia de saberes no ocorre apenas no nvel do lgos, mas tam-
bm no nvel do mythos. A idia de emergncia ou a noo do ainda-
no-ser de Bloch lhe so essenciais
63
. A intensificao da vontade
resulta de uma leitura potencializadora de tendncias objetivas, que
empresta fora a uma possibilidade auspiciosa, mas frgil, mediante
uma compreenso mais profunda das possibilidades humanas com
base em saberes que, ao contrrio do cientfico, privilegiam a fora
interior em vez da fora exterior,a natura naturans em vez da natura natu-
rata
64
. Por meio desses saberes possvel alimentar o valor intensifi-
cado de um empenho, o que incompreensvel do ponto de vista do
mecanicismo positivista e funcionalista da cincia moderna. Desse
empenho surgir uma capacidade nova de inquirio e indignao,
capaz de fundamentar teorias e prticas novas, umas e outras incon-
formistas, desestabilizadoras e mesmo rebeldes. O que est em jogo
a criao de uma previso ativa baseada na riqueza da diversidade no-
cannica do mundo e de um grau de espontaneidade baseado na
recusa a deduzir o potencial do factual. Dessa forma, os poderes cons-
titudos deixam de ser destino, podendo ser realisticamente confron-
tados com os poderes constituintes. O que importa, pois, desfami-
liarizar a tradio cannica das monoculturas do saber sem parar a,
como se essa desfamiliarizao fosse a nica familiaridade possvel.
A ecologia de saberes uma epistemologia desestabilizadora na
medida em que se empenha numa crtica radical da poltica do poss-
vel, sem ceder a uma poltica impossvel. Central a uma ecologia de
saberes no a distino entre estrutura e agncia, mas a distino
entre ao conformista e aquilo que denomino ao-com-clina-
men
65
. A ao conformista uma prtica rotineira, reprodutiva e repe-
titiva que reduz o realismo quilo que existe e apenas porque existe.
Para a minha noo de ao-com-clinamen tomo de Epicuro e Lucrcio
o conceito de clinamen,entendido como o quiddaminexplicvel que per-
turba a relao entre causa e efeito, ou seja, como a capacidade de des-
vio que Epicuro atribuiu aos tomos de Demcrito: o clinamen aquilo
que faz com que os tomos deixem de parecer inertes e revelem um
poder de inclinao,de movimento espontneo
66
.Ao contrrio do que
92 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 92
[67] Cf.o ensaio introdutrio de Fre-
deric Manning em Epicurus, op. cit.,
pp. xxxiv.
se d na ao revolucionria, a criatividade da ao-com-clinamen no
assenta numa ruptura dramtica, mas num ligeiro desvio cujos efeitos
cumulativos promovem complexas e criativas combinaes entre
indivduos e grupos sociais, assim como ocorre entre os tomos
67
. O
clinamen no recusa o passado; pelo contrrio, assume-o e redime-o
pelo modo como dele se desvia. Seu potencial para o pensamento ps-
abissal decorre de sua capacidade de atravessar as linhas abissais.
A ocorrncia de ao-com-clinamen em si mesma inexplicvel. O
papel de uma ecologia de saberes a esse respeito ser somente o de iden-
tificar as condies que maximizam a probabilidade de uma tal ocorrn-
cia e definir o horizonte de possibilidades em que o desvio vir a ope-
rar. A ecologia de saberes ao mesmo tempo constituda por sujeitos
desestabilizadores individuais ou coletivos e constitutiva deles. A
subjetividade capaz da ecologia de saberes uma subjetividade especial-
mente dotada de capacidade, energia e vontade para agir com clinamen. A
prpria construo social de uma tal subjetividade necessariamente
implica recorrer a formas excntricas ou marginais de sociabilidade ou
subjetividade dentro ou fora da modernidade ocidental, formas que se
recusaram a ser definidas de acordo com os critrios abissais.
CONCLUSO
A construo epistemolgica de uma ecologia de saberes no
tarefa fcil. A ttulo de concluso, proponho um programa de pesquisa
no qual podemos identificar trs conjuntos principais de questes.
O primeiro conjunto se refere identificao de saberes e levanta
uma srie de questes que tm sido ignoradas pelas epistemologias do
Norte global.A partir de qual perspectiva possvel identificar diferen-
tes conhecimentos? Como se pode distinguir o conhecimento cient-
fico do no-cientfico? Como distinguir entre os vrios conhecimentos
no-cientficos? Como se distingue o conhecimento no-ocidental do
ocidental? Se existem vrios conhecimentos ocidentais e vrios
conhecimentos no-ocidentais, como distingui-los entre si? Qual a
configurao dos conhecimentos que agregam tanto componentes
ocidentais como no-ocidentais?
O segundo conjunto levanta questes referentes aos procedimen-
tos que permitem relacionar os diferentes saberes entre si. Como dis-
tinguir incomensurabilidade, contradio, incompatibilidade e com-
plementaridade? De onde provm a vontade de traduzir? Quem so os
tradutores? Como escolher os parceiros e tpicos de traduo? Como
formar decises partilhadas e distingui-las das impostas? Como asse-
gurar que a traduo intercultural no se transforme numa verso
renovada do pensamento abissal, numa verso suavizada de impe-
rialismo e colonialismo?
93 NOVOS ESTUDOS 79 NOVEMBRO 2007
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 93
O terceiro questionamento diz respeito natureza e avaliao das
intervenes no mundo real possibilitadas pelos saberes. Como se
pode traduzir tal perspectiva em prticas de conhecimento? Na busca
de alternativas dominao e opresso, como distinguir entre alter-
nativas ao sistema de opresso e dominao e alternativas dentro do
sistema? Mais especificamente, como distinguir alternativas ao capi-
talismo de alternativas dentro do capitalismo?
Em suma, como combater as linhas abissais usando instrumen-
tos conceituais e polticos que as no reproduzam? E por fim uma
questo com especial interesse para educadores: qual seria o impacto
de uma concepo de conhecimento ps-abissal (como uma ecologia
de saberes) sobre as instituies educativas? Nenhuma dessas per-
guntas tem respostas definitivas, mas a tentativa de dar-lhes respos-
tas decerto um esforo coletivo e civilizacional provavelmente
a nica forma de confrontar a nova e mais insidiosa verso do pensa-
mento abissal tal como identificada neste ensaio: a constante ascen-
so do paradigma da apropriao/violncia no interior do paradigma
da regulao/emancipao.
prprio da natureza da ecologia de saberes constituir-se
mediante perguntas constantes e respostas incompletas. A reside sua
caracterstica de conhecimento prudente. A ecologia de saberes nos
capacita a uma viso mais abrangente tanto daquilo que conhecemos
como daquilo que desconhecemos, e tambm nos previne de que
aquilo que no sabemos ignorncia nossa e no ignorncia em geral.
A vigilncia epistemolgica requerida pela ecologia de saberes trans-
forma o pensamento ps-abissal num profundo exerccio de auto-refle-
xividade. Requer que os pensadores e atores ps-abissais se vejam num
contexto semelhante quele em que Santo Agostinho se encontrava ao
escrever suas Confisses, o qual expressou eloqentemente desta forma:
Converti-me numa questo para mim. A diferena que o tpico dei-
xou de ser a confisso dos erros passados para ser a participao solid-
ria na construo de um futuro pessoal e coletivo,sem nunca ter a certeza
de no repetir os erros cometidos no passado.
Boaventura de Sousa Santos professor catedrtico da Faculdade de Economia da Universi-
dade de Coimbra (Portugal) e da Universidade de Warwick (Inglaterra). autor, entre outros livros,
de A gramtica do tempo: para uma nova cultura poltica (Cortez, 2006) e Para uma revoluo democrtica da
justia (Cortez, 2007).
94 PARA ALM DO PENSAMENTO ABISSAL Boaventura de Sousa Santos
Recebido para publicao
em 14 de agosto de 2007.
NOVOS ESTUDOS
CEBRAP
79, novembro 2007
pp. 71-94
04_Boaventura.qxd 12/7/08 9:45 PM Page 94
Você também pode gostar
- Tornar-Se Pessoa LivroDocumento208 páginasTornar-Se Pessoa Livrocharnels88% (8)
- A Vida Depois Da MorteDocumento166 páginasA Vida Depois Da MorteRoberto Mac50% (2)
- RAVLTDocumento2 páginasRAVLTPriscila Klein100% (1)
- Apostila Fluxo de ProsperidadeDocumento12 páginasApostila Fluxo de ProsperidadeAlda BBarbosa100% (1)
- 06 - As Aventuras de Xexeu e FuxicoDocumento13 páginas06 - As Aventuras de Xexeu e FuxicoKeilita Igor FabrineAinda não há avaliações
- Filosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisNo EverandFilosofia para quê?: a importância do pensamento filosófico para reflexões atuaisAinda não há avaliações
- Educar e Cuidar Questões Sobre o Perfil Do Profissional de Educação InfantilDocumento11 páginasEducar e Cuidar Questões Sobre o Perfil Do Profissional de Educação Infantilsilvio_machado_2100% (1)
- Aritmética Elementar PDFDocumento40 páginasAritmética Elementar PDFnelson de oliveira50% (4)
- CASSIRER,+Ernst+ +Ensaio+Sobre+o+Homem.+Introdução+a+Uma+Filosofia+Da+Cultura+HumanaDocumento188 páginasCASSIRER,+Ernst+ +Ensaio+Sobre+o+Homem.+Introdução+a+Uma+Filosofia+Da+Cultura+Humanafzcq6yx2gq100% (1)
- KANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEDocumento812 páginasKANTPOSTERIDADEEACTUALIDADEemankcinAinda não há avaliações
- AmricoSommerman OOBJETOOMTODOEAFINALIDADEdaINTERDISCIPLINARIDADEDocumento44 páginasAmricoSommerman OOBJETOOMTODOEAFINALIDADEdaINTERDISCIPLINARIDADENatália Ta100% (1)
- As Ferramentas Do Grau Aprendiz 14040161Documento3 páginasAs Ferramentas Do Grau Aprendiz 14040161Carlos Kleber VeronezAinda não há avaliações
- Antoine - Berman - Traducao - e - A - Letra - 2a Ed - 2013Documento204 páginasAntoine - Berman - Traducao - e - A - Letra - 2a Ed - 2013interfaces filosóficasAinda não há avaliações
- Texto Do Filme Caminhando Com Tim TimDocumento2 páginasTexto Do Filme Caminhando Com Tim Timsilvio_machado_2100% (1)
- Teoria Dos Modos Na Ética de SpinozaDocumento4 páginasTeoria Dos Modos Na Ética de SpinozadecosampaAinda não há avaliações
- Carta Asiática para Os Direitos Humanos PDFDocumento20 páginasCarta Asiática para Os Direitos Humanos PDFJean NasgueweitzAinda não há avaliações
- O Conceito de Modos em SpinozaDocumento6 páginasO Conceito de Modos em Spinozaglautonvarela6090100% (2)
- MARROU, H-I (1954) Do Conhecimento HistóricoDocumento142 páginasMARROU, H-I (1954) Do Conhecimento HistóricolaertemoreirasantosAinda não há avaliações
- Linguagens E Tecnologias 7Documento92 páginasLinguagens E Tecnologias 7Donizete Silva Oliveira100% (1)
- Noções Gerais Sobre A Mediação de ConflitosDocumento15 páginasNoções Gerais Sobre A Mediação de ConflitosIvana Lima Regis100% (2)
- Tratado Sobre A TolerânciaDocumento112 páginasTratado Sobre A TolerânciaCarlos Henrique FerreiraAinda não há avaliações
- Plano de Aulas 2012 1Documento5 páginasPlano de Aulas 2012 1Fernanda TeixeiraAinda não há avaliações
- Arquibaldo1986 PDFDocumento4 páginasArquibaldo1986 PDFIris Silva100% (2)
- História Da Expressão - Afinidade EletivaDocumento14 páginasHistória Da Expressão - Afinidade EletivaSílvia PintoAinda não há avaliações
- Avaliação Final IDocumento14 páginasAvaliação Final IJoão Ítalo100% (1)
- O Texto Como Parte Do Conteúdo de Ensino GeraldiDocumento19 páginasO Texto Como Parte Do Conteúdo de Ensino GeraldiProfessora Juliana FerreiraAinda não há avaliações
- (Kaio Gomes) Cuidado de Si em Michel FoucaultDocumento9 páginas(Kaio Gomes) Cuidado de Si em Michel FoucaultKaio GomesAinda não há avaliações
- SuelyDocumento21 páginasSuelySandro NovaesAinda não há avaliações
- O Tempo Que o Tempo Tem - Alexandre Cherman e Fernando Vieira PDFDocumento110 páginasO Tempo Que o Tempo Tem - Alexandre Cherman e Fernando Vieira PDFEliane Fernandes100% (1)
- O Existencialismo e Um HumanismoDocumento4 páginasO Existencialismo e Um HumanismoDayse HansaAinda não há avaliações
- Oliveira, M. Mossi C (2014) Cartografia Como Estratégia MetodologicaDocumento14 páginasOliveira, M. Mossi C (2014) Cartografia Como Estratégia MetodologicaRebeca SassoAinda não há avaliações
- A Essência Do Pensamento de Johann Friedrich Herbart - Uma Ciência EducacionalDocumento9 páginasA Essência Do Pensamento de Johann Friedrich Herbart - Uma Ciência EducacionalFabio Jean Brito100% (1)
- O Economico Na Obra Geografia Economica de Pierre GeorgeDocumento12 páginasO Economico Na Obra Geografia Economica de Pierre GeorgeLeomarcos AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila ENEM Filosofia 20212023Documento122 páginasApostila ENEM Filosofia 20212023Marcus Vinicios Pantoja da SilvaAinda não há avaliações
- Estudo: Os Trabalhos e Os DiasDocumento3 páginasEstudo: Os Trabalhos e Os DiasGabriela Munin75% (4)
- Industrialização e Capitalismo em WeberDocumento12 páginasIndustrialização e Capitalismo em WebermauriliobotelhoAinda não há avaliações
- Robert Stam - Intertextualidade PDFDocumento35 páginasRobert Stam - Intertextualidade PDFCarol BenazzatoAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura MestradoDocumento2 páginasFicha de Leitura MestradoCarlos Henrique AndradeAinda não há avaliações
- Searle, J. Nomes Próprios (Tradução)Documento11 páginasSearle, J. Nomes Próprios (Tradução)Isabela TavaresAinda não há avaliações
- MannheimDocumento5 páginasMannheimCamilaAinda não há avaliações
- A Situação Social de Desenvolvimento e As Neoformações Da ConsciênciaDocumento20 páginasA Situação Social de Desenvolvimento e As Neoformações Da ConsciênciaSérgio DarwichAinda não há avaliações
- Noçoes Fundamentais Do Pensamento FilosoficoDocumento24 páginasNoçoes Fundamentais Do Pensamento FilosoficowfamarinhoAinda não há avaliações
- Teorias Psicanalíticas Da Criminalidade e Da Sociedade PunitivaDocumento6 páginasTeorias Psicanalíticas Da Criminalidade e Da Sociedade Punitivamarilia moreli parisi de castro100% (1)
- SOKAL - Transgredindo As FronteirasDocumento18 páginasSOKAL - Transgredindo As FronteirasCristiana CangussúAinda não há avaliações
- Crianças, Infâncias, Culturas e Práticas EducativasDocumento311 páginasCrianças, Infâncias, Culturas e Práticas EducativasEmily100% (1)
- Enelf - Anais - Vol IIIDocumento384 páginasEnelf - Anais - Vol IIIVandemberg SaraivaAinda não há avaliações
- Martins, Helena. Tres CaminhosDocumento18 páginasMartins, Helena. Tres CaminhosManoelFilhuAinda não há avaliações
- Metafísica Da Morte - Pedro GalvãoDocumento23 páginasMetafísica Da Morte - Pedro GalvãoheliostevenAinda não há avaliações
- mondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesDocumento33 páginasmondOLFO Rodolfo História Do Pensamento Antigo AristótelesÉsio SalvettiAinda não há avaliações
- Canone e Valor Estetico em Uma Teoria Autoritaria Da Literatura - Jaime Ginzburg ImprimirDocumento7 páginasCanone e Valor Estetico em Uma Teoria Autoritaria Da Literatura - Jaime Ginzburg ImprimirMarcella MotaAinda não há avaliações
- AS QUATRO PRÁTICAS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA Ligia Regina Klein PDFDocumento10 páginasAS QUATRO PRÁTICAS DO ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA Ligia Regina Klein PDFJeferson Oliveira100% (1)
- Edital 032 Divulga o Resultado Final Do ConcursoDocumento47 páginasEdital 032 Divulga o Resultado Final Do ConcursoLima França Augusto100% (1)
- Artigo Reflexoes Sobre A Etica Pos ModernaDocumento9 páginasArtigo Reflexoes Sobre A Etica Pos ModernaCipriano CaísseAinda não há avaliações
- Bastidores Obsessao PDFDocumento144 páginasBastidores Obsessao PDFReginaldo CarvalhoAinda não há avaliações
- Epicuro, O Pensamento Ético em PDFDocumento113 páginasEpicuro, O Pensamento Ético em PDFvicfiori402Ainda não há avaliações
- Reflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldDocumento25 páginasReflexoes Sobre o Romance Moderno RosenfeldBruna Abelin100% (1)
- (Tese) A Ficção Historica de Goethe PDFDocumento355 páginas(Tese) A Ficção Historica de Goethe PDFfelzurcAinda não há avaliações
- Estetica e Hermeneutica - A Arte Como Decla - Almir Ferreira Da Silva JuniorDocumento206 páginasEstetica e Hermeneutica - A Arte Como Decla - Almir Ferreira Da Silva JuniorJorge SayãoAinda não há avaliações
- Aula 15 - Do ContoDocumento9 páginasAula 15 - Do ContoKelly CristinaAinda não há avaliações
- Extensão Universitária No Currículo Das LicenciaturasDocumento11 páginasExtensão Universitária No Currículo Das LicenciaturasDébora ReisAinda não há avaliações
- J. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoDocumento16 páginasJ. L. Borges, Filosofia Da Ciência e Crítica Ontológica: Verdade e EmancipaçãoLeandro Velasques LimaAinda não há avaliações
- O Papel Do Cientista Na SociedadeDocumento12 páginasO Papel Do Cientista Na SociedadeEster Souza100% (1)
- Rascunho Do Artigo de Lit Port IIDocumento5 páginasRascunho Do Artigo de Lit Port IIRegina SampaioAinda não há avaliações
- A Memória Coletiva ResumoDocumento2 páginasA Memória Coletiva ResumoHallison PhelipeAinda não há avaliações
- Bourdieu - Novas Reflexões Sobre A Dominação MasculinaDocumento8 páginasBourdieu - Novas Reflexões Sobre A Dominação MasculinaJussara Carneiro CostaAinda não há avaliações
- Estilística Da EnunciaçãoDocumento20 páginasEstilística Da EnunciaçãoHeloisa MarchioroAinda não há avaliações
- Oralidade EscrituralidadeDocumento15 páginasOralidade EscrituralidadeMônica VieiraAinda não há avaliações
- LEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãoDocumento49 páginasLEITURA COMPLEMENTAR - Semiótica - Filosófica - IntroduçãopoeticacontemporaneaAinda não há avaliações
- Criação Na Perspectiva Da DiferençaDocumento12 páginasCriação Na Perspectiva Da Diferençasilvio_machado_2Ainda não há avaliações
- Os Ingovernáveis Silvio Munari UfscarDocumento98 páginasOs Ingovernáveis Silvio Munari Ufscarsilvio_machado_2Ainda não há avaliações
- 6.14 - GUIMARÃES, A.S.A. - Racismo e Anti-Racismo No Brasil (18 CPS) PDFDocumento18 páginas6.14 - GUIMARÃES, A.S.A. - Racismo e Anti-Racismo No Brasil (18 CPS) PDFsilvio_machado_2Ainda não há avaliações
- (Sousa Dias) Grandeza de Marx - Por Uma Política (Bokos-Z1)Documento89 páginas(Sousa Dias) Grandeza de Marx - Por Uma Política (Bokos-Z1)silvio_machado_2Ainda não há avaliações
- EBD - A Disciplina Na IgrejaDocumento2 páginasEBD - A Disciplina Na IgrejaWanderson SilvaAinda não há avaliações
- Mapa Astral (Lázaro)Documento18 páginasMapa Astral (Lázaro)Lázaro BarbosaAinda não há avaliações
- Coroinha de Nossa SenhoraDocumento4 páginasCoroinha de Nossa SenhoraDeposito da Fé da Igreja Católica Apostolica RomanaAinda não há avaliações
- Apostila MúsicaDocumento76 páginasApostila MúsicaFernanda RodriguesAinda não há avaliações
- Anota Aí Eu Sou Ninguém - Peter Pál PelbartDocumento2 páginasAnota Aí Eu Sou Ninguém - Peter Pál PelbartÉlida LimaAinda não há avaliações
- MashinDocumento3 páginasMashinInfamous GamerAinda não há avaliações
- Kwame Ture & Molefi Asante, África e o FuturoDocumento47 páginasKwame Ture & Molefi Asante, África e o FuturoLuizFernandoAinda não há avaliações
- Apostila 14 - Ética CristãDocumento54 páginasApostila 14 - Ética CristãElias Da Silva ArrudaAinda não há avaliações
- Oliveira Erivam Pioneiro Fotografia BrasilDocumento18 páginasOliveira Erivam Pioneiro Fotografia BrasilHenrique LuizAinda não há avaliações
- Diário CaracterísticasDocumento12 páginasDiário CaracterísticaseliAinda não há avaliações
- Quadro Conceitual para Gestão de Estoques: Enfoque Nos ItensDocumento12 páginasQuadro Conceitual para Gestão de Estoques: Enfoque Nos ItensDiogo DiasAinda não há avaliações
- Do Mito de Dioniso À Visão Dionisíaca Do Mundo - Clademir Luís AraldiDocumento15 páginasDo Mito de Dioniso À Visão Dionisíaca Do Mundo - Clademir Luís AraldiTúlio Madson GalvãoAinda não há avaliações
- Regulamento-Academico Actualizado UpDocumento50 páginasRegulamento-Academico Actualizado Upmecanicoscribd80% (10)
- Da VideoAula 3Documento16 páginasDa VideoAula 3Montagner MontanherAinda não há avaliações
- Sexualidade e Educação Infantil Texto 04Documento13 páginasSexualidade e Educação Infantil Texto 04Camila NogueiraAinda não há avaliações
- Islã Sem VéuDocumento150 páginasIslã Sem VéuVinícius GuimarãesAinda não há avaliações
- Superando Os TraumasDocumento3 páginasSuperando Os Traumaspedro35alves100% (1)
- Características Das Escolas LiteráriasDocumento6 páginasCaracterísticas Das Escolas LiteráriasAntonio José AlvesAinda não há avaliações