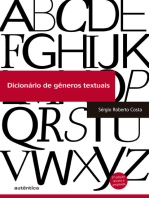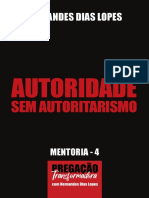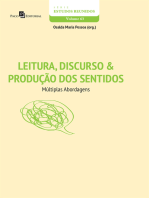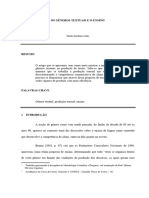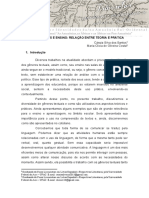Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
11 Texto Rodrigues
11 Texto Rodrigues
Enviado por
Literacia SapiensDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
11 Texto Rodrigues
11 Texto Rodrigues
Enviado por
Literacia SapiensDireitos autorais:
Formatos disponíveis
53
1 Introduo
Pesquisas muito recentes tm revelado novas concepes e tipologias
de gneros textuais/discursivos na esfera das interaes verbais, mas o
assunto ainda tem sabor de novidade nos materiais didticos e entre os
professores que atuam no Ensino Fundamental. Ao manusearmos algu-
mas das colees de livros didticos de Lngua Portuguesa mais atuais,
que se enquadram na classificao estelar do MEC, podemos constatar
uma grande variedade de gneros textuais encabeando as propostas de
atividades em compreenso, produo e anlise lingstica.
A pergunta que nos colocamos, ento, se essa nova prtica est
se construindo em favor da eficcia comunicativa ou apenas um novo
modismo com velhos pretextos. Para respond-la, apresentamos, inicial-
mente, algumas concepes de gneros textuais e tipologias, a seguir,
avaliamos o tratamento dado ao assunto nos Parmetros Curriculares
Nacionais - PCNs e em algumas colees de livros didticos para o 3 e
4 ciclos do Ensino Fundamental.
2 As concepes de gnero e tipo textual
A tipologia tradicional apia-se numa classificao tridica para
os gneros textuais no-literrios: narrao, descrio e dissertao.
Esta a que vem sendo praticada na Escola e tratada nos livros
didticos em geral at os nossos dias. As teorias mais recentes, po-
rm, esto mostrando que essa classificao no d conta das dife-
rentes prticas sociais atravs da linguagem, ou seja, no contempla
os inmeros gneros textuais, mas apenas modalidades ou formas de
organizar as informaes nos mais variados gneros, que podem ocor-
rer, no raramente, de forma combinada.
Atualmente a obra que tem sido referncia obrigatria para o
reconhecimento dos gneros e para a elaborao de quadros tipolgicos
a de Bakhtin (1992, p.281). O autor enquadra os gneros discursivos
em duas classes: os gneros primrios (simples) - a conversao
oral cotidiana e a carta pessoal - que so constitudos em circuns-
tncias de comunicao verbal espontnea; e os gneros secund-
rios (complexos) - o romance, o teatro, o discurso cientfico e o dis-
curso ideolgico, entre outros - que aparecem em circunstncias de
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
54
uma comunicao cultural mais complexa e relativamente mais evo-
luda, principalmente escrita: artstica, cientfica, scio-
poltica(BAKHTIN, 1992, p. 28).
Alm disso, Bakhtin (1992,p.28) aponta trs aspectos que carac-
terizam os gneros em geral: o contedo ou seleo de temas; o estilo
ou escolha dos recursos lingsticos; e a construo composicional
ou formas de organizao textual. Essa caracterizao tem motivado
muitos pesquisadores envolvidos com a anlise de gneros a descrever
as estratgias de seleo e distribuio do contedo e as escolhas de
recursos lingsticos, reveladas na superfcie textual em instncias de
interao verbal. Segundo Meurer (1998), a organizao retrica de
um texto diz respeito ao conjunto de recursos que o escritor usa para
indicar ao leitor como seu texto se organiza e qual a funo ou fun-
es das vrias partes em relao ao todo.
Nas concepes mais recentes de gnero discursivo - muitas
das quais inspiradas em Bakhtin (1992, p.28), ou de gnero textual
- denominao que vem ganhando espao na literatura sobre o tema,
est se realando principalmente a sua dimenso social. A lingua-
gem verbal uma ao social (MILLER, 1984) e a noo de audi-
ncia, ou de uma audincia potencial, sem dvida, um fator
determinante dessa ao. O sentido de audincia exerce influncia
direta nas escolhas que o falante/escritor faz, quando em situaes
de produo: seja do tpico, da quantidade e do balanceamento das
informaes (mais ou menos explcitas), das estratgias de organi-
zao do texto em termos de seleo lexical e de relaes semnti-
co-sintticas, seja do estilo e do registro mais adequados para criar
textualidade e interagir com o provvel ouvinte/leitor.
Quando as situaes comunicativas so mediadas pela escrita,
o escritor precisa saber lidar com parmetros de organizao textual
relativos a cada gnero, para distribuir as informaes no seu texto
de acordo com esses parmetros e com convenes que reconhece
como sendo daquele gnero e que, muito provavelmente, sero reco-
nhecidos pela sua audincia potencial.
Embora a preocupao com a audincia venha adquirindo cada vez
mais importncia na literatura e nos manuais didticos, ainda carece de
maiores cuidados nos meios escolares, mesmo de nvel superior. Confor-
me bem coloca Long (1990, p.73), mesmo que
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
55
(...) o conselho mais tradicional dado aos estudantes escritores
sobre o(s) leitor(es) seja No esquea a sua audincia!, dentro
do contexto da sala de aula, tal conselho, provavelmente, tem sido
sempre suprfluo para a maioria dos estudantes, porque eles es-
to conscientes da sua real audincia - o professor, que atribui a
nota para o seu texto escrito e, ultimamente, para o seu desempe-
nho como um todo.
De fato, essa uma realidade que no se pode negar e que repercute
na qualidade da produo escrita no ambiente escolar, restringindo o seu
domnio e impedindo uma prtica efetiva de variados gneros ou o reco-
nhecimento da sua fora comunicativa em instncias de uso especficas.
Para que a noo de audincia deixe de ser fico entre os estu-
dantes como membros efetivos de uma comunidade discursiva, o pro-
fessor no pode ser o nico interlocutor de seus alunos. Segundo Martin
(1989, p. 62-63), a linguagem um recurso de fundamental importncia
na construo da experincia humana e aprender sobre linguagem sig-
nifica aprender a fazer escolhas. E todas as escolhas so polticas. Ns
no escrevemos ou falamos somente para passar o tempo.
A dimenso da habilidade de persuadir no se restringe, portanto,
ao orador, envolve tambm o interlocutor, pela sua reao, e o prprio
discurso, pelos seus mecanismos de persuaso. Inevitavelmente, a es-
colha de um gnero determinada pelas instncias sociais de uso, que
envolvem as necessidades imediatas dos interactantes, os objetivos e
efeitos pretendidos pelo locutor e as convenes que regulam cada
esfera comunicativa. Em vista disso, os pesquisadores dedicados a atu-
alizar a concepo de gnero textual e definir critrios em busca de
uma tipologia, reacendem o conceito clssico de retrica, recuperando
os trs componentes defendidos por Aristteles: o falante ou escritor;
o discurso, ele mesmo; e a audincia.
Assim, para Williams (1996, p. 27), uma definio contempor-
nea de retrica deve levar em conta que o controle consciente da
linguagem proporciona um efeito pretendido numa audincia. Man-
tm-se, portanto, o carter persuasivo da linguagem verbal, ou seja, o
sucesso da ao verbal medido pelo efeito que causa na audincia,
por ganhar a adeso desta e no s por transmitir informaes consi-
deradas relevantes pelo falante/escritor.
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
um novo modismo?
56
Cabe acrescentar que novas formas genricas vm sendo institu-
das nesse final de sculo e que a tecnologia da informao se desenvol-
ve cada vez mais rapidamente, ampliando a complexa rede de possibili-
dades de intercomunicao global. Em face disso, a noo de audincia
ganha outra dimenso, e novas convenes so acordadas entre os mem-
bros dessa comunidade discursiva globalizada. Quem quiser dela fazer
parte precisa estar preparado para participar de um novo e sofisticado
processo de intercmbio verbal, apropriando-se das estratgias adequa-
das de conduo de informaes em contextos especficos.
Os estudos tipolgicos atuais tm revelado uma gama variada de
critrios classificatrios, na inteno de cobrir a diversidade de gneros
que so praticados efetivamente na sociedade contempornea. Dos pes-
quisadores que vm trabalhando nessa rea, selecionamos alguns para
ilustrar as novas tendncias e tambm para evidenciar a terminologia
empregada no tratamento do assunto.
Silva (1997 ,p. 79, grifo meu) em artigo publicado na revista Alfa, inicia
o seu resumo com a seguinte frase: este artigo apresenta reflexes sobre os
gneros do discurso e/ou tipos de texto, defendendo a preferncia dos
lingistas pela expresso tipo de texto, pelo fato de o termo gnero estar
tradicionalmente atrelado a estudos literrios. Em sua proposta para uma
tipologia de textos, a autora apresenta trs critrios classificatrios, um for-
mal, outro funcional, e um terceiro, associando os dois primeiros.
O primeiro toma por base a concepo de Schiffrin (1994) para
estruturas discursivas, entendidas como modos de organizao de
informao, que representariam as potencialidades da lngua, as rotinas
retricas ou formas convencionais que o falante tem sua disposio na
lngua quando quer organizar o discurso (SILVA, 1997, p.89).
Assim uma classificao de natureza formal, que leva em conta as
estruturas disponveis na lngua, corresponde em linhas gerais ao que
tradicionalmente se identifica como gneros do discurso: estruturas
narrativas, descritivas, expositivas, expressivas, procedurais e dialgicas
(SILVA, p. 90, grifo meu).
O segundo critrio funcional e volta-se para o uso dessas es-
truturas em situaes reais de comunicao, em que se produzem
unidades comunicativas, correspondentes a tipos relativamente
estveis de enunciados (Cf. BAKHTIN, 1992), por exemplo, a confe-
rncia, a estria, a piada, a reportagem policial, o editorial, a carta etc.
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
57
Entre essas unidades destaca-se a estria, que ilustra, tipicamente, a
concretizao de uma estrutura narrativa, e a receita, de uma estrutu-
ra procedural (SILVA, 1997, p.91).
Um terceiro critrio de classificao, que associa os dois primeiros,
resulta em categorias mais complexas de gneros discursivos, como a
carta e a conversa, unidades discursivas onde diversas unidades meno-
res ou estruturas discursivas coexistem (idem, p. 94).
Outra referncia sobre o tema Marcuschi (1999, p.27) que, em
texto ainda indito, intitulado Por uma proposta para a classificao
dos gneros textuais, sugere a expresso gneros comunicativos em
substituio a tipos textuais e justifica:
Textos so artefatos ou fenmenos que exorbitam suas estruturas e
s tm efeito se se situarem em algum contexto comunicativo. As-
sim, o termo comunicativo ao lado da expresso gnero daria a qua-
lificao mais adequada.
O autor apresenta extensa escala de gneros comunicativos
orais e escritos, preenchendo um continuum que vai desde os mais
prototpicos da fala, as conversaes, aos mais prototpicos da escrita,
os acadmicos. Sua proposta por uma tipologia conjunta para a fala e
a escrita, a partir de uma anlise multidimensional (Cf. Biber, 1988), de
um conjunto de caractersticas detectadas em formas prototpicas da
fala e da escrita, que permitem desenhar uma classificao de gneros
textuais dentro de um continuum.
Uma ltima referncia que convm fazer obra de Kaufman e
Rodrguez (1995, p.12) voltada para o ensino de gneros textuais. As
autoras apresentam uma seleo de gneros que aparecem com mai-
or freqncia na realidade social e no universo escolar. Essa seleo
apoiada em dois critrios de classificao - trama e funo. As tra-
mas correspondem s seqncias ou modalidades discursivas que se
revelam na estrutura dos textos descritiva, argumentativa, narrativa
e conversacional, e estas so cruzadas com quatro funes informa-
tiva, expressiva, literria e apelativa.
Alguns gneros so definidos pelas autoras a partir desses critrios para
subsidiarem projetos de atividades escolares para o nvel bsico ou fundamen-
tal. Por exemplo, um artigo de opinio tem trama argumentativa e funo
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
58
apelativa; uma carta tem trama narrativa e funes informativa, expressiva e
apelativa; uma reportagem tem trama conversacional e funo informativa.
Como se pode perceber por essa amostra, o quadro classificatrio que as
autoras apresentam no esgota as possibilidades de combinaes e pode fa-
lhar se usado sem levar em conta outras dimenses de anlise.
3 Gneros textuais e ensino
3.1 O tratamento dos gneros nos PCNs
A concepo de gneros discursivos que subjaz s orientaes para
o ensino de Lngua Portuguesa nos Parmetros Curriculares Nacionais
(PCNs) a professada por Bakhtin (1992) e reproduzida quase ipsis
literis no texto do documento, no item intitulado Discurso e suas condi-
es de produo, gnero e texto:
Os gneros so, portanto, determinados historicamente, constituin-
do formas relativamente estveis de enunciados, disponveis na cultura.
So caracterizados por trs elementos:
- Contedo temtico: o que e o que pode tornar-se dizvel por
meio do gnero;
- Construo composicional: estrutura particular dos textos perten-
centes ao gnero;
- Estilo: configuraes especficas das unidades de linguagem deri-
vadas, sobretudo, da posio enunciativa do locutor; conjuntos parti-
culares de seqncias que compem o texto etc. (BAKHTIN,1992,
p. 21, grifo meu).
Essa abordagem terica, que conduz a uma nova perspectiva de
tratamento de interaes pela linguagem, adotada em substituio
taxonomia tradicional, trilogia clssica conhecida e praticada na esco-
la: narrao, descrio e dissertao. No entanto, os autores dos PCNs
no apresentam qualquer justificativa para a mudana, apenas esclare-
cem, em nota de rodap, o que so as seqncias, um novo construto
terico advogado por Adam (1987, p.21). Eis o texto da nota:
As seqncias so conjuntos de proposies hierarquicamente cons-
titudas, compondo uma organizao interna prpria de relativa au-
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
59
tonomia, que no funcionam da mesma maneira nos diversos gne-
ros e nem produzem os mesmos efeitos: assumem caractersticas
especficas em seu interior. Podem se caracterizar como narrativa,
descritiva, argumentativa, expositiva e conversacional .
No decorrer do documento, o termo gnero empregado sem
qualquer atributo (discursivo ou textual), demonstrando uma familiarida-
de no uso desse termo que, muito provavelmente, no correspondida
pelos leitores, pois certamente muitos deles sequer tiveram tempo de
digerir a novidade. Temos a considerar que a substituio proposta no
pode ser assimilada pelos professores do ensino fundamental num passe
de mgica, nem a adoo da nova nomenclatura.
Como complemento nova concepo de gnero, os PCNs apre-
sentam uma seleo deles em dois quadros: Gneros privilegiados para
a prtica de escuta e leitura de textos ( BRASIL, 1998 p. 54) e Gne-
ros sugeridos para a prtica de produo de textos orais e escritos
(Ibid, p. 57). Tal seleo precedida do seguinte esclarecimento:
(...) foram priorizados aqueles [gneros] cujo domnio fundamental
efetiva participao social, encontrando-se agrupados, em funo
de sua circulao social, em gneros literrios, de imprensa, publicit-
rios, de divulgao cientfica, comumente presentes no universo es-
colar (Ibid, p. 53).
A proposta de abordagem dos PCNs para os gneros discursivos
com base em Bakhtin , com certeza, louvvel e abre perspectivas
para o tratamento da linguagem como ao social, realando o
continuum das prticas scio-interacionais que se estabelecem na e
pela linguagem. O que est faltando, a nosso ver, a formulao de
uma proposta que realce a ativao do conhecimento de gneros esta-
belecidos socialmente e na comunidade discursiva do aluno, seguida do
exerccio de anlise e reconhecimento das propriedades comunicati-
vas e formais de cada um, realando seus efeitos comunicativos, em
funo dos interlocutores nas situaes reais de comunicao. Sem
isso, corre-se o risco de continuarmos incorrendo na artificialidade das
produes textuais, executadas como tarefa escolar e destinadas ao
leitor-professor-avaliador.
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
60
3.2 O tratamento dos gneros nos livros didticos
Analisamos trs colees de livros didticos (v. referncias didticas),
duas delas contempladas pela classificao do MEC no Guia de Livros
Didticos (PNLD 1999). O que encontramos em todos os exemplares ain-
da so fragmentos de gneros literrios (crnica, conto, romance e teatro),
fragmentos de artigos e de reportagens, com o formato original modificado.
Exemplo disso um texto composto de seqncias descritivas e narrativas
intercaladas, estas em negrito no formato original. O texto, intitulado Bate
corao compe a unidade 1 do livro didtico de Cocco e Hailer (1995, p.
17-18, ALP8). Outro exemplo um fragmento de uma pea teatral, cujo
contedo no contm qualquer pista que possa justificar o ttulo: No Natal a
gente vem te buscar (CCCO; HAILER, 1995, p. 41, ALP6 ).
A variedade de gneros explorada nas quatro colees inclui pro-
pagandas, histrias em quadrinhos e documentos, como carteira de iden-
tidade e certido de casamento, entre outros. Uma certido de casa-
mento reproduzida fielmente tambm num livro da coleo ALP, (Ibid,
p. 43, ALP8), com carimbo do cartrio e assinatura do oficial com firma
reconhecida. A estrutura do documento e as condies de produo so
exploradas em perguntas na seo Explorao, carecendo de uma boa
orientao do professor para o reconhecimento desse gnero textual.
Na seo de Produo, os autores propem como primeira ati-
vidade a confeco de um convite (Ibid, p. 44), nos seguintes termos:
Imagine que voc ficou responsvel pela confeco dos convites de
casamento dos noivos citados no texto Certido de casamento. H
muitas formas de apresentao e estilos possveis. Invente um convite
utilizando o estilo, a cor e a forma que quiser. Faa-o em folha avulsa.
H uma lacuna tambm nessa proposta de atividade de produo que
pode ser preenchida pelo professor, explorando as caractersticas do gnero
convite e examinando em vrios exemplos os aspectos lingsticos e formais.
O termo gnero e tudo o que envolve o reconhecimento de um gne-
ro textual/discursivo passam ao largo nas trs colees analisadas. As ativi-
dades propostas no exploram as condies de produo ou instncias co-
municativas em que os gneros so construdos e praticados, seus propsi-
tos comunicativos e as relaes que se estabelecem em funo desses pro-
psitos entre o produtor (falante/escritor) e o receptor (ouvinte/leitor).
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
61
claro que o livro didtico no tem o compromisso e nem condi-
es de propor cada tarefa passo a passo ao professor. Este precisa
ter embasamento terico e estar preparado para lidar com os novos
conceitos e para construir uma nova prtica que atenda atual deman-
da das interaes comunicativas.
Da segunda coleo, Palavras e idias (NICOLA; INFANTE,
1995), selecionamos duas das Atividades de redao e de pesquisa
para comentar. Uma delas (8 srie, p. 105), a partir de uma letra de
msica de Paulinho da Viola, 14 anos, solicita respostas a algumas
questes sobre o texto da msica na subseo Explorando o texto e,
em Produzindo o texto, apresenta a seguinte proposta:
Uma narrao um texto em que se estabelece uma seqncia
de fatos a fim de contar uma histria. O texto que abre este cap-
tulo, por exemplo, uma narrao.
Voc j deve ter notado que a narrao apresenta alguns ele-
mentos importantes: o narrador, os personagens, o cenrio, a
passagem do tempo.
Agora, voc vai escrever uma narrao relatando fatos aconte-
cidos com uma pessoa em sua atividade profissional. D um
ttulo ao seu texto.
Em outra unidade do mesmo volume, a subseo Produzindo o tex-
to antecedida por um poema de Manuel Bandeira, essencialmente descri-
tivo e por uma longa explanao sobre descrio, ilustrada com dois tre-
chos descritivos de Afonso Arinos. A proposta de produo a seguinte:
Voc vai descrever um prdio ou um monumento de sua cidade.
Procure realar aspectos particulares do ser descrito: sua arquite-
tura, seu passado, as histrias que ele presenciou.
Voc notou que os escritores falam de coisas como se tratassem de
gente: Jos Cndido de Carvalho nos fala do Engenho do visconde
como de um ancio orgulhoso e decadente; Manuel Bandeira cha-
ma a cidade de Ouro Preto de avozinha; Afonso Arinos destaca a
simpatia da casa do Ouvidor.
Faa o mesmo com a coisa que voc vai descrever.
Lembrete: dificilmente temos uma descrio pura (s em dicion-
rios e livros tcnicos); normalmente, a descrio um elemento da
narrao ou da dissertao.
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
62
Nas duas propostas, os autores privilegiam a classificao formal
clssica ao solicitar que os alunos produzam uma narrao e uma des-
crio, vistas como gneros. O curioso que, logo a seguir, propem
atividades de pesquisa que propiciam uma situao real de constitui-
o de gneros e de sua representao textual.
Em seguida proposta de narrao, os autores orientam para a
realizao de uma entrevista, sem qualquer exerccio de reconheci-
mento do gnero e de seus aspectos estruturais. A relao que a ativida-
de mantm com os textos explorados na unidade apenas temtica. A
oportunidade de produo autntica, pela experincia da pesquisa, no
devidamente aproveitada.
Aps a proposta de descrio, os autores tambm orientam para
uma pesquisa sobre cidades histricas e sugerem a produo de um
guia com roteiro histrico para os colegas que queiram visitar cada uma
dessas cidades. Nesse caso, o foco direcionado para o levantamento
do patrimnio arquitetnico, mas a confeco de um guia, que seria o
produto da pesquisa, no explorada, perdendo-se novamente a oportu-
nidade de um exerccio de produo autntica.
A terceira coleo que analisamos, Nossa palavra (CARVALHO;
RIBEIRO, 1998), mais recente e no foi contemplada na avaliao
estelar do Guia de Livros Didticos. Os autores tambm apresentam
em cada unidade as subsees Pesquisa e Produo de texto. Esco-
lhemos o captulo 8 para comentar.
Sob o ttulo Pesquisa, os autores propem uma pesquisa sobre cen-
sura, com base numa crnica de Joo Ubaldo Ribeiro, intitulada Cuida-
do com a censura e sugerem que os resultados devem ser apresenta-
dos em forma de debate, seguindo estes passos:
1) Os alunos elegem um colega para ser o coordenador do debate,
que dever abrir a discusso e apresentar o tema.
2) Cinco alunos sero escolhidos para a funo de debatedores, que
se sentaro lado a lado, de frente para o restante da classe (o pbli-
co), se possvel por trs de uma mesa. Entre eles deve estar o
coordenador.
3) Cada debatedor ter dois minutos para apresentar sua posio a
respeito dos temas em discusso: a) se considera a cano ra-
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
63
cista e; b) se contra ou a favor da censura a ela e a outras
formas de manifestao cultural (CARVALHO;RIBEIRO,
1998, p. 173 ).
A proposta, no resta dvida, bem orientada e tambm, sem
sombra de dvida, uma atividade de produo oral que deve ser
incentivada porque envolve os participantes numa situao interativa
real: o debate originado de uma pesquisa efetiva sobre o tema propos-
to. A questo : por que dissociar essa atividade da de Produo de
texto, algumas pginas adiante? Nesta os autores solicitam a releitura
da crnica de Joo Ubaldo e a resoluo de quatro questes sobre o
mesmo tema, a censura. Em seguida apresentam a seguinte proposta
para a atividade de produo escrita:
A sua tarefa agora escrever uma dissertao sobre o tema Censu-
ra e preconceito. (Lembre-se: quando escrevemos um texto em que
defendemos uma idia ou um ponto de vista, estamos escrevendo
uma dissertao.) O preconceito pode ser racial, moral ou religioso.
Pense antes nos argumentos que vai defender (CARVALHO; RI-
BEIRO, 1998, p. 181).
Essa proposta seguida de uma orientao em sete passos que
evidenciam a estrutura tradicional da dissertao: um pargrafo
introdutrio, o desenvolvimento e uma pequena concluso. Um claro
exemplo de que se praticam ainda alguns equvocos sobre o que
produo de textos autnticos e sobre os seus propsitos e efeitos s-
cio-comunicativos. E ainda preciso salientar que o gnero crnica,
utilizado como ponto de partida para as duas atividades, no foi explo-
rado ou sequer foi comentado!
3.3 Avaliao do Guia de Livros Didticos
O Guia de Livros Didticos (GLD) avalia os livros didticos que fo-
ram inscritos no Programa (PNLD/99) com a seguinte classificao: ***
recomendados com distino, ** recomendados e * recomendados com
ressalvas. O objetivo dessa classificao subsidiar o professor na escolha
do livro didtico, lembrando-lhe, porm, que este no o seu nico instru-
mento de trabalho e que o guia no cobre todos os aspectos positivos, ressal-
vas ou problemas detectados na anlise de cada livro didtico avaliado.
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
Dos exemplares que analisamos, selecionamos alguns comentri-
os que apresentamos a seguir. A coleo ALP recebeu trs estrelas
para os livros de 5 e 7 srie e duas estrelas para os de 6 e 8. Acerca
do livro 6, o guia diz, entre outras coisas, o seguinte: H grande vari-
edade de tipos de texto: sumrio de livro, reprodues de telas, msi-
cas, texto teatral, informativo, humorstico, poemas, entre tantos ou-
tros (sobre o ALP, vol. 6, GLD, p. 95). Os comentrios so em gran-
de parte elogiosos, como o que segue:
Na perspectiva da pragmtica, o mais importante que a obra traba-
lha a relao forma/contedo e chama a ateno para a estrutura
desses textos em funo de seu uso. Na perspectiva da lingstica
textual, h uma proposta visvel de busca da interlocuo leitor/
texto/autor, a partir de questes que propem sensibilizao para a
percepo de recursos lingsticos utilizados nos textos (sobre o
ALP, vol. 8, GLD, p. 192).
No entanto, a avaliao d realce nomenclatura tradicional e suas
prticas correspondentes, como se pode verificar no seguinte trecho:
O aluno recebe propostas diversificadas para elaborao de ti-
pos variados, sendo que, neste livro de 8 srie comeam a ser
trabalhados, sistematicamente, atividades que conduzam pro-
duo de textos dissertativos ou argumentativos (sobre o ALP,
vol. 8, GLD, p. 192)
Em todos os comentrios que lemos, no encontramos referncia
explcita a gneros, ou seja, nomeados como tais e, s vezes, gneros e
seqncias textuais so colocados na mesma categoria, como se pode
constatar no trecho abaixo:
Nas propostas de redao, faltam orientaes para exerccios de
reescriturao, no h propostas que explorem o uso social da es-
crita, no se observam instrues para os alunos sobre as condi-
es de produo. Entretanto o aluno levado a escrever textos de
tipologia variada, como dilogos, narraes, descries, disserta-
es, sambas, poemas, textos jornalsticos, entre outras (sobre Pa-
lavras e idias, 8 srie, GLD, p. 199-200).
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
Esses excertos do Guia de Livros Didticos mostram que as
novas concepes de gnero discursivo ou textual no transparecem
com propriedade e segurana nos comentrios dos avaliadores e que
muito mais no se pode esperar dos autores de livros didticos e de
seus usurios, os professores.
4 Comentrios finais
visvel, no material didtico selecionado para esta anlise, um
movimento no sentido de incorporar uma nova perspectiva de tratar a
linguagem, mas no se percebem critrios bem definidos nas aborda-
gens feitas nesses instrumentos de ensino que esto disponveis aos pro-
fessores e aos alunos. O uso da nomenclatura instvel e os gneros e
os tipos de textos ou seqncias so tomados uns pelos outros, numa
demonstrao de que a apreenso do novo objeto de conhecimento ain-
da no se deu por completo.
Os aspectos scio-comunicativos (o contexto de produo, a au-
dincia, o veculo) e o reconhecimento das caractersticas formais dos
gneros (mecanismos retricos, aspectos lingsticos) no so explo-
rados no processo de apreenso desse conhecimento, ou seja, antes da
produo e durante, especialmente nos livros didticos analisados.
H lacunas tericas e metodolgicas que precisam ser preenchi-
das, nos parmetros curriculares e nos livros didticos, para que o ensino
com base nos gneros discursivos/textuais no se torne apenas mais um
modismo, que s faa reproduzir novos artificialismos. Alm disso pre-
ciso investir na formao dos professores, para que possam ter acesso
direto ao conhecimento e, conseqentemente, tomar decises e posies
bem fundamentadas teoricamente ao selecionar material de ensino e ao
definir metodologia de trabalho em sala de aula.
5 Referncias
ADAM, J.M. Textualit e squentialit: le exemple de la description.
Langue Franaise, n. 74, p. 51-72, 1987.
ARISTTELES. Arte retrica e arte potica. Traduo de Antnio
Pinto de Carvalho. Rio de Janeiro: Tecnoprint, [19--]. Coleo.
Universidade de Bolso.
Bernardete Biasi-Rodrigues
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
66
BAKHTIN, M. M. Esttica da criao verbal. So Paulo: Martins
Fontes, 1992.
BRASIL, Secretaria de Educao Fundamental. Parmetros
curriculares nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamen-
tal lngua portuguesa. Braslia: MEC/SEF, 1998.
BIBER, D. Variation across speech and writing. Cambridge:
Cambridge University Press, 1988.
CARVALHO, A.; RIBEIRO, J. Nossa palavra. So Paulo: tica, 1998.
CCCO, M.F.; HAILER, M.A. ALP Anlise, linguagem e pensa-
mento: a diversidade de textos numa proposta socioconstrutivista. So
Paulo: FTD, 1995.
GUIA DE LIVROS DIDTICOS, 5 a 8 sries, PNLD 1999.
Braslia: MEC, 1998.
KAUFMAN, A. M.; RODRGUEZ, M. E. Escola, leitura e produo de
textos. Traduo de Inajara Rodrigues. Porto Alegre: Artes Mdicas, 1995.
LONG, R. C. The writers audience: fact or fiction. In: KIRSCH, G.;
ROEN, D.H. (Orgs.). A sense of audience in written
communication. London: Sage Publications, 1990. p. 73-84.
MARCUSCHI, L. A. Por uma proposta para a classificao dos
gneros textuais. Recife: UFPE, 1999. (indito).
MARTIN, J. R. Factual writing: exploring and challenging social
reality. Oxford: Oxford University Press, 1989.
MEURER, J. L. O conhecimento de gneros textuais e a formao
do profissional da linguagem. Florianpolis: UFSC, 1998. (indito).
MILLER, C. R. Genre as social action. In: FREEDMAN, Aviva;
MEDDWAY, PETER. Genre and the new rhetoric. London: Taylor
& Francis, 1994. p. 23-42.
NICOLA, J. de; INFANTE, U. Palavras e idias. 2. ed. So Paulo:
Scipione, 1995.
SILVA, V. L. Paredes. Forma e funo nos gneros de discurso. Alfa,
So Paulo, 41, 79-98, 1997. Nmero especial.
SCHIFRIN, D. Approaches to discourse. Cambridge: Blackwell, 1994.
WILLIAMS, J. D. Preparing to teach writing. New Jersey:
Lawrence Erlbaum Associates, 1996. voltar
A diversidade de gneros textuais no ensino: um novo modismo?
PERSPECTIVA, Florianpolis, v.20, n.01, p.49-64, jan./ jun. 2002
Você também pode gostar
- Mentoria 04 - Autoridade Sem AutoritarismoDocumento22 páginasMentoria 04 - Autoridade Sem AutoritarismoRafa Martins100% (2)
- Apostila Programação NeurolinguisticaDocumento26 páginasApostila Programação NeurolinguisticaSérgio Ventura100% (1)
- Como Tornar-Se Um LiderDocumento56 páginasComo Tornar-Se Um LiderJosé Roberto Neves86% (7)
- Velas, Amuletos, Incensos e PedrasDocumento56 páginasVelas, Amuletos, Incensos e PedrasRaphaël RoisAinda não há avaliações
- Aula-3 MatemáticaFinanceira Juros SimplesDocumento45 páginasAula-3 MatemáticaFinanceira Juros SimplesJulioJ.Roncal100% (1)
- Quadro Concepções Pedagógicas PDFDocumento4 páginasQuadro Concepções Pedagógicas PDFHellen RoseAinda não há avaliações
- Como Usar Grabovoi - Grigori Grabovoi Sequências NuméricasDocumento3 páginasComo Usar Grabovoi - Grigori Grabovoi Sequências NuméricasMaria IsabelAinda não há avaliações
- A terceira linguagem no cross-cultural marketingNo EverandA terceira linguagem no cross-cultural marketingAinda não há avaliações
- História de Óbidos, 6º AnoDocumento82 páginasHistória de Óbidos, 6º AnocarlosvieiraprofessorAinda não há avaliações
- O Projeto Didático Forma de Articulação Entre Leitura Literatura Produção de Texto e Analise LinguísticaDocumento18 páginasO Projeto Didático Forma de Articulação Entre Leitura Literatura Produção de Texto e Analise LinguísticaManuel Sena CostaAinda não há avaliações
- Leitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensNo EverandLeitura, discurso & produção dos sentidos: Múltiplas abordagensAinda não há avaliações
- ARGUMENTAÇÃO E LEITURA - A Importância Do Conhecimento Prévio PDFDocumento5 páginasARGUMENTAÇÃO E LEITURA - A Importância Do Conhecimento Prévio PDFDaniel FernandoAinda não há avaliações
- Crimes contra a dignidade sexual: A memória jurídica pela ótica da estilística léxicaNo EverandCrimes contra a dignidade sexual: A memória jurídica pela ótica da estilística léxicaAinda não há avaliações
- ROJO Generos Do DiscursODocumento28 páginasROJO Generos Do DiscursOViviane Miranda100% (2)
- "A semiótica em tirinhas": uma análise do livro didático, 'Português: conexão e uso, 9° ano'No Everand"A semiótica em tirinhas": uma análise do livro didático, 'Português: conexão e uso, 9° ano'Ainda não há avaliações
- O Desafio Do Escombro PDFDocumento14 páginasO Desafio Do Escombro PDFSérgio VenturaAinda não há avaliações
- Baltasar Lopes ChiquinhoDocumento1 páginaBaltasar Lopes ChiquinhoSérgio Ventura60% (5)
- Ficha Geo. Nº 2Documento7 páginasFicha Geo. Nº 2escolartctc100% (1)
- Curso de Analise Real (Cassio Neri) - 2008Documento232 páginasCurso de Analise Real (Cassio Neri) - 2008Marcos Huber MendesAinda não há avaliações
- Antropologia e PsicologiaDocumento17 páginasAntropologia e PsicologiaVitor AraujoAinda não há avaliações
- Generos MultimodaisDocumento25 páginasGeneros Multimodaisjane keli AlmeidaAinda não há avaliações
- LID 01 Liderança AmbidestraDocumento42 páginasLID 01 Liderança AmbidestraJaderson Boareto100% (1)
- Gêneros Orais Escritos Na EscolaDocumento8 páginasGêneros Orais Escritos Na EscolaAnaLíviaAinda não há avaliações
- Plano de Aula GramáticaDocumento11 páginasPlano de Aula GramáticaElcio Queiroz CoutoAinda não há avaliações
- Lucília Garcez - Técnicas de Redação e Revisão de TextosDocumento54 páginasLucília Garcez - Técnicas de Redação e Revisão de TextosKamila de Mesquita CamposAinda não há avaliações
- Letramento e Diversidade Textual - Roxane RojoDocumento6 páginasLetramento e Diversidade Textual - Roxane RojoMônica SatoAinda não há avaliações
- Generos - Unidade e DiversidadeDocumento10 páginasGeneros - Unidade e DiversidadewillianmonteiroAinda não há avaliações
- Coesao Textual PDFDocumento22 páginasCoesao Textual PDFMarcos Alves100% (1)
- Gêneros TestuaisDocumento5 páginasGêneros TestuaisPaulo RicardoAinda não há avaliações
- Os Gêneros Textuais e o EnsinoDocumento10 páginasOs Gêneros Textuais e o EnsinoGimi RamosAinda não há avaliações
- Rojo Gêneros Do DiscursoDocumento28 páginasRojo Gêneros Do DiscursoJu Clabdeux100% (1)
- Anais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulDocumento11 páginasAnais Do 6º Encontro Celsul - Círculo de Estudos Lingüísticos Do SulLiteracia SapiensAinda não há avaliações
- 1677282722GÊNEROSTEXTUAISFERRAMENTADocumento23 páginas1677282722GÊNEROSTEXTUAISFERRAMENTAraimundasousap10Ainda não há avaliações
- Sequência Didática Gênero Textual: Notícia Quarto Ciclo de Oficinas Do PIBID-LETRAS Do Campus de Porto NacionalDocumento18 páginasSequência Didática Gênero Textual: Notícia Quarto Ciclo de Oficinas Do PIBID-LETRAS Do Campus de Porto NacionalKailany Assunção FerreiraAinda não há avaliações
- 489-Texto Do Artigo-1311-1241-10-20150524Documento14 páginas489-Texto Do Artigo-1311-1241-10-20150524Manuela ArcosAinda não há avaliações
- O Gnero Propaganda Na Escola Artigo Gatilho1Documento11 páginasO Gnero Propaganda Na Escola Artigo Gatilho1Adriana MeloAinda não há avaliações
- O Genero Textual e o Futuro Profissional de LetrasDocumento7 páginasO Genero Textual e o Futuro Profissional de LetrasMarieli ZanottoAinda não há avaliações
- Manual PortuguesDocumento18 páginasManual PortuguesLana SantanaAinda não há avaliações
- Aula 11618255650Documento10 páginasAula 11618255650Adriano BarbosaAinda não há avaliações
- Textos InstrucionaisDocumento17 páginasTextos InstrucionaisMara AnjosAinda não há avaliações
- O Aspecto Social Dos Gêneros Textuais E O Processo de Ensino-Aprendizagem Da Língua PortuguesaDocumento11 páginasO Aspecto Social Dos Gêneros Textuais E O Processo de Ensino-Aprendizagem Da Língua PortuguesarosariodaconceicaoraulrosariorAinda não há avaliações
- Wa0070.Documento20 páginasWa0070.Lenny dos Reis santanaAinda não há avaliações
- Nota de Aula 6Documento5 páginasNota de Aula 6rayane thaynara santosAinda não há avaliações
- Artigo Genero Bula Remedio PerfeitoDocumento16 páginasArtigo Genero Bula Remedio PerfeitoErica Viqueti Gamez100% (1)
- Fake News: Verdade Ou Mentira?Documento11 páginasFake News: Verdade Ou Mentira?Jéssica PortoAinda não há avaliações
- Assuntos IFBADocumento13 páginasAssuntos IFBAMaumau Rocha0% (1)
- Mídia, Indústria Cultural e Conflito LinguísticoDocumento30 páginasMídia, Indústria Cultural e Conflito LinguísticoPierre SteinAinda não há avaliações
- A Producao Do Genero Textual Cientifico e DesdobramentosDocumento9 páginasA Producao Do Genero Textual Cientifico e DesdobramentosMacioniliaAinda não há avaliações
- Baygon,+02 AboniniDocumento17 páginasBaygon,+02 AboniniBeatriz BritoAinda não há avaliações
- Generos Textuais Ensino Li-Ngua Olhar Perspectiva Charles BazermanDocumento11 páginasGeneros Textuais Ensino Li-Ngua Olhar Perspectiva Charles BazermanNeudaAinda não há avaliações
- Gênero (S) Resumo Na Perspectiva BakhtinianaDocumento10 páginasGênero (S) Resumo Na Perspectiva BakhtinianaFlávia PessoaAinda não há avaliações
- Fundamentação Teórica-Do Estruturalismo Ao LetramentoDocumento11 páginasFundamentação Teórica-Do Estruturalismo Ao LetramentoteachertatoAinda não há avaliações
- Por Que Ensinar A Partir Da Teoria Dos Gêneros TextuaisDocumento7 páginasPor Que Ensinar A Partir Da Teoria Dos Gêneros Textuaisgfloures7666Ainda não há avaliações
- Tirinha em Sala de AulaDocumento9 páginasTirinha em Sala de AulaIdésio CoutoAinda não há avaliações
- TITELLO - Uma Reflexão Enunciativa Sobre o Ensino de EscritaDocumento18 páginasTITELLO - Uma Reflexão Enunciativa Sobre o Ensino de EscritaBernard PriettoAinda não há avaliações
- O Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaDocumento20 páginasO Ensino Do Gênero Resenha Pela Abordagem Sistêmico Funcional Vian e IkedaNaiane ReisAinda não há avaliações
- 18644-Texto Do Artigo-77690-1-10-20090803Documento8 páginas18644-Texto Do Artigo-77690-1-10-20090803Carlos JuniorAinda não há avaliações
- O Gênero Textual Charge e SuaDocumento17 páginasO Gênero Textual Charge e SuaDall RochaAinda não há avaliações
- Rosa Linhas Açúcar Química Relatório de LaboratórioDocumento3 páginasRosa Linhas Açúcar Química Relatório de LaboratórioGabriela Schwartz VitórioAinda não há avaliações
- Papper Do WilliamDocumento15 páginasPapper Do WilliamLara SousaAinda não há avaliações
- Generos DiscursivosDocumento0 páginaGeneros DiscursivosWilson GonçalvesAinda não há avaliações
- Projeto ElianeDocumento14 páginasProjeto ElianeEliane NogueiraAinda não há avaliações
- 2014 Uenp Port PDP Mara Delvaz Garcia GandolfoDocumento120 páginas2014 Uenp Port PDP Mara Delvaz Garcia Gandolfoluciana canalAinda não há avaliações
- ResenhaDocumento4 páginasResenhaAluisio Sampaio JuniorAinda não há avaliações
- Mídias Impressas Como Instrumento de LinguagemDocumento18 páginasMídias Impressas Como Instrumento de LinguagemTainara SilvaAinda não há avaliações
- Generos Textuais Joaquin DolzDocumento12 páginasGeneros Textuais Joaquin DolzIvete GarciaAinda não há avaliações
- Prática DiscursivaDocumento18 páginasPrática DiscursivaWillian de Sousa CostaAinda não há avaliações
- Artigo Terezinha Jesus Bauer UberDocumento23 páginasArtigo Terezinha Jesus Bauer UberHeldër Dhä PG SNAinda não há avaliações
- O Ensino Do Português para Falantes de Língua MaternaDocumento2 páginasO Ensino Do Português para Falantes de Língua MaternaInês AndradeAinda não há avaliações
- Textos Argumentativos Opinativos em Turmas Do 5 Ano Do Ensino FundamentalDocumento15 páginasTextos Argumentativos Opinativos em Turmas Do 5 Ano Do Ensino FundamentalDanielle RosaAinda não há avaliações
- Artigo IntertextualidadeDocumento15 páginasArtigo Intertextualidadegyn99Ainda não há avaliações
- Texto 1 - Gêneros Textuais e Ensino - Relação Entre Teoria e PráticaDocumento11 páginasTexto 1 - Gêneros Textuais e Ensino - Relação Entre Teoria e PráticaJenison AlissonAinda não há avaliações
- Revel 2 Generos Discursivos Ou Tipologias TextuaisDocumento16 páginasRevel 2 Generos Discursivos Ou Tipologias TextuaisDáfnie PaulinoAinda não há avaliações
- Letras e educação: encontros e inovações: - Volume 4No EverandLetras e educação: encontros e inovações: - Volume 4Ainda não há avaliações
- Lista Dos Cursos Da UNYLEYADocumento19 páginasLista Dos Cursos Da UNYLEYASérgio VenturaAinda não há avaliações
- Exemplo de Parágrafo de Definição. Definição de Cultura.Documento14 páginasExemplo de Parágrafo de Definição. Definição de Cultura.Sérgio VenturaAinda não há avaliações
- Coesão Lexical e CoerênciaDocumento3 páginasCoesão Lexical e CoerênciaSérgio VenturaAinda não há avaliações
- Apostila - Portugues - Texto - Cachorrinho Engraçadinho - OutrosDocumento55 páginasApostila - Portugues - Texto - Cachorrinho Engraçadinho - Outroskelly_crisitnaAinda não há avaliações
- Língua Fluída VS Língua ImagináriaDocumento12 páginasLíngua Fluída VS Língua ImagináriaSérgio VenturaAinda não há avaliações
- Redação: Banco Do BrasilDocumento2 páginasRedação: Banco Do BrasilEdmilson MeloAinda não há avaliações
- Exercícios Avaliativos Do Módulo 1Documento5 páginasExercícios Avaliativos Do Módulo 1Bruno Vinicius SobrinhoAinda não há avaliações
- BISPO-DOS-SANTOS - Somos Da Terra - FichadoDocumento11 páginasBISPO-DOS-SANTOS - Somos Da Terra - FichadoRanson SmithAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO TRIMESTRAL 2022 Do 1°anoDocumento2 páginasPLANEJAMENTO TRIMESTRAL 2022 Do 1°anoSandrely EvangelistaAinda não há avaliações
- Eja - Módulo 02 ApostilaDocumento49 páginasEja - Módulo 02 ApostilaJulieth13AquinoAinda não há avaliações
- 11 Coisas Que A Escola Não EnsinaDocumento1 página11 Coisas Que A Escola Não EnsinaEleonilton Leonardo100% (1)
- Como É A Escada Nutricional Da Dieta Dukan?Documento3 páginasComo É A Escada Nutricional Da Dieta Dukan?Vida MentalAinda não há avaliações
- Apostila, Retiro 2019Documento26 páginasApostila, Retiro 2019Adson FariasAinda não há avaliações
- Preparações InjectáveisDocumento10 páginasPreparações Injectáveisrogerio Jose SobraAinda não há avaliações
- QUESTIONARIO CAP 5 e 6Documento3 páginasQUESTIONARIO CAP 5 e 6lyssaAinda não há avaliações
- Sequência Recursiva - KallenDocumento8 páginasSequência Recursiva - KallenKallen CristinaAinda não há avaliações
- São Vicente de Paulo O Pai Dos Pobres Guillaume HünermannDocumento276 páginasSão Vicente de Paulo O Pai Dos Pobres Guillaume HünermannVanessaAinda não há avaliações
- TEXTOS Não Literários de Adonias FilhoDocumento4 páginasTEXTOS Não Literários de Adonias FilhomarcusAinda não há avaliações
- (2022) Criminologia - PC IurisDocumento132 páginas(2022) Criminologia - PC Iurisjorge.luiz.itapipocaAinda não há avaliações
- 4606-Texto Do Artigo-15555-16716-10-20210129Documento28 páginas4606-Texto Do Artigo-15555-16716-10-20210129Alexssandro AyresAinda não há avaliações
- 16 - O CompassoDocumento4 páginas16 - O CompassoFioravante CastilhoAinda não há avaliações
- Tim Ingold O Que e Um Animal What Is AnDocumento24 páginasTim Ingold O Que e Um Animal What Is AnLeonardo LessinAinda não há avaliações
- Anais Ebook 05.03.2012Documento480 páginasAnais Ebook 05.03.2012Joana De Oliveira DiasAinda não há avaliações
- Qualificação e Racionalização Do Transporte Público Por ÔnibusDocumento102 páginasQualificação e Racionalização Do Transporte Público Por ÔnibusAlexAlmeidaAinda não há avaliações
- História Do Descobrimento e Da Conquista Da India Pelos Portugueses - Fernão Lopez de CastanhedaDocumento531 páginasHistória Do Descobrimento e Da Conquista Da India Pelos Portugueses - Fernão Lopez de CastanhedaMaria do Rosário MonteiroAinda não há avaliações
- Trabalho de Direicto Adiministrativo 1 .Nayra Nelma Nelson BinzeDocumento12 páginasTrabalho de Direicto Adiministrativo 1 .Nayra Nelma Nelson BinzeJunior CassimoAinda não há avaliações