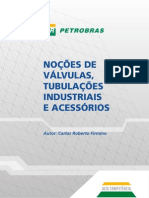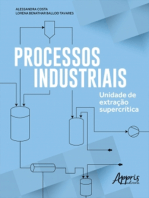Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aspectos Ambientais
Aspectos Ambientais
Enviado por
Alec PicançoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos Ambientais
Aspectos Ambientais
Enviado por
Alec PicançoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
1
CURSO DE FORMAO DE OPERADORES DE REFINARIA
ASPECTOS AMBIENTAIS DE UMA REFINARIA E RESPECTIVAS
FORMAS DE CONTROLE
2
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
3
CURITIBA
2002
ASPECTOS AMBIENTAIS DE UMA REFINARIA
E RESPECTIVAS FORMAS DE CONTROLE
ELOISIA B. A. P. COELHO
Equipe Petrobras
Petrobras / Abastecimento
UNs: Repar, Regap, Replan, Refap, RPBC, Recap, SIX, Revap
4
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
333.72 Coelho, Eloisia B. A. P.
C672 Curso de formao de operadores de refinaria: aspectos ambientais de
uma refinaria e respectivas formas de controle / Eloisia B. A. P. Coelho.
Curitiba : PETROBRAS : UnicenP, 2002.
46 p. : il. color. ; 30 cm.
Financiado pelas UN: REPAR, REGAP, REPLAN, REFAP, RPBC,
RECAP, SIX, REVAP.
1. Meio ambiente. 2. Refinaria. 3. Resduos. 4. Controle. I. Ttulo.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
5
Apresentao
com grande prazer que a equipe da Petrobras recebe voc.
Para continuarmos buscando excelncia em resultados, dife-
renciao em servios e competncia tecnolgica, precisamos de
voc e de seu perfil empreendedor.
Este projeto foi realizado pela parceria estabelecida entre o
Centro Universitrio Positivo (UnicenP) e a Petrobras, representada
pela UN-Repar, buscando a construo dos materiais pedaggicos
que auxiliaro os Cursos de Formao de Operadores de Refinaria.
Estes materiais mdulos didticos, slides de apresentao, planos
de aula, gabaritos de atividades procuram integrar os saberes tc-
nico-prticos dos operadores com as teorias; desta forma no po-
dem ser tomados como algo pronto e definitivo, mas sim, como um
processo contnuo e permanente de aprimoramento, caracterizado
pela flexibilidade exigida pelo porte e diversidade das unidades da
Petrobras.
Contamos, portanto, com a sua disposio para buscar outras
fontes, colocar questes aos instrutores e turma, enfim, aprofundar
seu conhecimento, capacitando-se para sua nova profisso na
Petrobras.
Nome:
Cidade:
Estado:
Unidade:
Escreva uma frase para acompanh-lo durante todo o mdulo.
6
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Sumrio
1 ASPECTOS AMBIENTAIS DE UMA REFINARIA DE PETRLEO, FORMAS DE
CONTROLE E ATUAO DO OPERADOR.................................................................... 7
1.1 Introduo ..................................................................................................................... 7
1.2 Evoluo dos conceitos sobre proteo ambiental ........................................................ 7
1.3 O Planeta Terra e seus Recursos Ambientais (Naturais) .............................................. 8
1.4 Poluio Ambiental ..................................................................................................... 13
1.4.1 Poluio qumica.............................................................................................. 13
1.4.2 Poluio Trmica ............................................................................................. 14
1.4.3 Poluio Radiativa ........................................................................................... 14
1.4.4 Poluio Sonora ............................................................................................... 15
1.4.5 Poluio Biolgica ........................................................................................... 15
1.5 Legislao Ambiental ................................................................................................. 15
1.6 Monitoramento Ambiental .......................................................................................... 18
1.7 Efluentes Atmosfricos ............................................................................................... 18
1.7.1 Sistema de Contaminao do ar ......................................................................... 18
1.7.2 Contaminantes Atmosfricos ........................................................................... 19
1.7.3 Aspectos atmosfricos da contaminao do ar ................................................ 20
1.7.4 Os efeitos da contaminao do ar .................................................................... 22
1.8 Efluentes Hdricos....................................................................................................... 24
1.8.1 Principais fontes de poluio hdrica em uma refinaria ................................... 24
1.8.2 Principais contaminantes encontrados nos efluentes hdricos
de uma refinaria ............................................................................................... 25
1.8.3 Segregao de efluentes hdricos ..................................................................... 26
1.8.4 Tratamentos Localizados ................................................................................. 26
1.8.5 Estao de Tratamento de Efluentes Hdricos ETEH ................................... 27
1.8.6 Tratamentos Secundrios/Tercirios ................................................................ 29
1.9 Resduos Slidos ......................................................................................................... 32
1.9.1 Introduo ........................................................................................................ 32
1.9.2 Resduos Slidos .............................................................................................. 33
1.9.3 Gerenciamento de resduos slidos .................................................................. 33
1.9.4 Alternativas de Disposio .............................................................................. 34
1.10 Atuao do Operador .................................................................................................. 40
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
7
1
Aspectos Ambientais de uma
Refinaria de Petrleo, Formas
de Controle e Atuao do
Operador
1.1 Introduo
O homem, hoje, mais do que nunca, deve
estar atento s alteraes por ele provocadas
no meio ambiente. Deve preocupar-se efeti-
vamente, quando constatar qualquer rompi-
mento, do equilbrio, com a natureza, perse-
guindo, ento, solues criativas e exeqveis.
Assim necessrio ter sempre em mente que
toda ao inteligente deve ser pensada e pla-
nejada antes de ser praticada. Toda atividade
humana deve, portanto, buscar, como finali-
dade, o bem estar da comunidade, e, desta for-
ma, torna-se bvio que o conhecimento minu-
cioso do ambiente em que vivemos constitui
matria de relevante interesse. Surge, ento,
necessidade do respeito e culto Ecologia, que
deve ser posta entre as primeiras reas no ramo
das cincias.
A Ecologia estuda, entre outros assuntos,
a estrutura e o desenvolvimento das comuni-
dades em suas relaes com o meio ambiente
e sua conseqente adaptao a ele. Estuda, ain-
da, os aspectos a partir dos quais os processos
tecnolgicos ou os sistemas de organizao
social interagem com as condies de vida do
homem.
A experincia constatou que a capacidade
do homem em prever as conseqncias de um
empreendimento em relao ao meio ambien-
te, at h pouco tempo, era muito limitada. Al-
gumas vezes, esta preocupao era relegada a
um plano secundrio. Como conseqncia, o
avano tecnolgico, sem preocupao ecol-
gica provocou, muito freqentemente, a alte-
rao dos elementos naturais, atingindo, por
vezes, situaes irreversveis, aniquilando-
se bens essenciais preservao da espcie.
A sociedade, estruturada sobre o conceito de
que os valores econmicos predominavam
sobre todos os demais, comea a se modificar
pela prpria conscientizao do homem, no
sentido de que toda alterao do meio ambien-
te deve sempre concorrer para a melhoria das
condies de vida presente e das geraes futuras.
Torna-se assim imperiosa, a qualquer cus-
to, a manuteno do equilbrio entre o homem
e a natureza, como condio nica de preser-
vao e melhoria da qualidade de vida. Para
tanto, deve-se agir de forma ordenada, visan-
do controlar ou eliminar os agentes modifica-
dores do meio ambiente. Esta filosofia de ao
traduz a convico de que a atividade indus-
trial, bem equacionada, no incompatvel
com a preservao do meio ambiente. A in-
dstria ser uma contribuio qualidade de
vida do homem, desde que orientada para tal.
Tendo em vista as presentes consideraes,
primordial que o homem exercite seus co-
nhecimentos tcnicos imensos para aplic-los
em benefcio de sua prpria sobrevivncia,
pois como a natureza no uma fonte inesgo-
tvel de riquezas, deve ser preservada perma-
nentemente.
1.2 Evoluo dos conceitos sobre proteo
ambiental
No perodo ps-guerra, a maior preocu-
pao era a retomada do crescimento econ-
mico, a reconstruo dos pases que sofreram
grandes perdas e o suprimento de toda uma
demanda reprimida de consumo da populao
economicamente ativa dos Estados Unidos. A
conscincia ecolgica era ainda incipiente,
priorizava-se a construo de novas indstrias.
Os aspectos ambientais podem ser dividos
em quatro fases distintas.
O primeiro movimento na formao de
uma conscincia ambiental foi a preocupao
sobre os recursos hdricos e o saneamento bsi-
co. Este estgio foi denominado de conscienti-
zao.
Somente nos anos 70, com o aumento sig-
nificativo de indstrias poluidoras do ar e da
gua e com contaminaes acidentais, o mun-
do comeou a se preocupar com os efeitos
danosos da poluio.
A Conferncia de Estocolmo (1972) tra-
tou, basicamente, do controle da poluio do
8
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
ar e da gua. Nesta poca, surgiram, tambm, os
primeiros organismos oficiais de controle da
poluio. J no final da dcada, verificou-se que,
apenas com o controle da poluio, os impactos
ambientais no conseguiriam ser evitados.
Na dcada de 80, iniciou-se a fase de pla-
nejamento ambiental, pois somente o controle
da poluio gerada no era mais aceito como
alternativa tecnicamente vivel e acreditava-
se que, com um planejamento adequado, os
impactos poderiam ser minimizados. Esta d-
cada foi marcada por grandes desastres ecol-
gicos como o acidente da Union Carbide (em
84, na ndia), a exploso nuclear em Chnobil
(em 86), o grande derramamento de leo pro-
vocado pelo navio Exxon Valdez (no Alasca,
em 89) e pela identificao da degradao da
camada de oznio.
O CONAMA (Conselho Nacional de
Meio Ambiente) passou a exigir o EIA (Estu-
do de Impacto Ambiental), como instrumento
obrigatrio para o licenciamento ambiental de
atividades poluidoras ou modificadoras do
meio ambiente, em 1986. A indstria ainda
adotava, em sua maioria, uma postura reativa
em todo o mundo. Comearam a surgir as
ONG`s (Organizaes No Governamentais)
e os partidos verdes, que levantaram a bandei-
ra ecolgica e demonstraram ao mundo que
somente o planejamento ambiental tambm
no era suficiente para se prevenir impactos
ambientais danosos humanidade.
Os anos 90 trouxeram a globalizao da
economia e, por conseguinte, dos conceitos de
gesto (por exemplo, a adoo mundial da s-
rie ISO 9000) e tambm a globalizao dos
conceitos relativos ao meio ambiente uma vez
que, os aspectos ambientais podem ser globais
e no apenas locais. Iniciou-se a fase do cha-
mado gerenciamento ambiental, ou seja, da
considerao da satisfao da parte interessa-
da da sociedade, como integrante da gesto em-
presarial.
A conferncia do Rio de Janeiro (ECO 92)
trouxe o compromisso com o desenvolvimen-
to sustentvel, o tratado da Biodiversidade e o
acordo para a eliminao gradual dos CFC`s.
Posteriormente, foi editada a primeira nor-
ma sobre gesto ambiental, a BS-7750, de ori-
gem britnica.
Em 1993, surgiu o Sistema Europeu de
Ecogesto e Auditorias (EMAS Environment
Management Audit Scheme) e, finalmente, em
1996, foram aprovadas no Rio de Janeiro as
normas ISO 14000, representando o consenso
mundial sobre gesto ambiental.
Nos dias atuais, no se admite mais que
uma empresa seja administrada sem que a
questo ambiental seja considerada. Quanto
maior o potencial poluidor ou extrativista das
atividades da organizao, maior nfase deve
ser dada questo ambiental.
O mundo vive hoje grandes problemas
ambientais, que precisam ser revertidos ou
contidos:
Degradao da camada de oznio;
Efeito estufa (devido a CO
2
, CH
4
e NO
x
);
Perda da biodiversidade (flora e fauna);
Poluio do ar (CO, SO
2
, NO
x
);
Poluio das guas (superficiais e sub-
terrneas);
Disposio inadequada de resduos t-
xicos e nucleares;
Esgotamento de recursos naturais
(combustveis fsseis, gua, florestas);
Lixo urbano;
Aumento do consumo de energia.
Como elementos formadores de grupos de
presso para resoluo dos problemas podem
ser citados:
Clientes (j se preocupam com o po-
tencial de danos dos produtos ao meio
ambiente);
Investidores (desejam saber onde esto
aplicando seus recursos);
Agentes financeiros (exigem avaliao
ambiental para liberar recursos);
Seguradoras;
Pblico em geral (cada vez mais cons-
ciente);
Leis e Regulamentos (cada vez mais
restritivos);
ONG`s (Organizaes no governa-
mentais).
1.3 O Planeta Terra e seus Recursos
Ambientais (Naturais)
De uma forma geral, o Planeta Terra pode
ser dividido nas seguintes partes: ncleo (in-
terno e externo), biosfera, litosfera, hidrosfera
e atmosfera.
Crosta consiste nos
continentes e nas bacias
ocenicas
Ncleo
interno
Manto superior
Manto inferior
Ncleo externo
lquido
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
9
Admite-se que o ncleo do planeta cons-
titudo de uma esfera de material slido, mui-
to denso e muito quente, possivelmente uma
liga metlica formada por nquel (Ni) e ferro
(Fe). Seu centro est a 6.350 km de profundi-
dade (no centro do planeta) e tem raio de cer-
ca de 1.225 km. Nesta regio, impossvel a
existncia de qualquer vida conhecida atual-
mente. Saindo um pouco do centro, encontra-
se o ncleo externo, material lquido constitu-
do de ferro (Fe) e Sulfeto de ferro II (FeS),
ainda muito denso e quente. Esta regio tem
uma espessura de aproximadamente 2.260 km.
No ncleo externo, tambm no h possibilida-
de de existir vida de acordo com o que se conhe-
ce at o presente. A massa total do ncleo (inter-
no e externo) estimada em 1,94 x 10
24
kg, o
que corresponde a cerca de 32,4% da massa
do planeta. Indo em direo superfcie da
terra, encontra-se o manto, cuja espessura cor-
responde a cerca de 2.875 km. constitudo,
principalmente, de silicatos de ferro e magn-
sio, mas apresenta tambm pequena quantida-
de de silicatos de clcio, de alumnio e de
sdio. A massa do manto estimada em 4 x
10
24
kg, o correspondente a 67,2% da massa
do planeta. Tambm no existe vida no manto
terrestre, pois no h gua e a temperatura ain-
da elevada.
A crosta terrestre uma fina camada de
no mximo 90 km de espessura, que apresen-
ta grande variedade de materiais. Sua massa
estimada em 2,4 x 10
22
kg, ou seja, 0,4% de
toda a massa do planeta. A crosta terrestre, ou
litosfera, constituda de rochas, minerais,
matrias fossilizados e, na parte mais superfi-
cial, o solo, formado da mistura de minerais,
materiais orgnicos, tendo como caractersti-
ca a existncia de vida. Muitas vezes, os mi-
nerais e matrias fossilizados podem ser en-
contrados na formao de jazidas em quanti-
dades suficientes para serem extrados a cus-
tos economicamente viveis, e, nesse caso, so
chamados minrios. So exemplos de jazidas:
Jazidas de carvo mineral Tambm
conhecido como hulha, o carvo mine-
ral um dos produtos de fossilizao
da madeira. Slido, preto, opaco, in-
flamvel, seu constituinte principal o
carbono. As jazidas de carvo distribuem-
se por todo o planeta e tm diferentes
usos, como a siderurgia e a gerao de
energia;
Jazidas de Petrleo Em algumas regies
do planeta e a diferentes profundidades,
concentra-se em porosidades de certas
rochas um lquido viscoso, quase ne-
gro: o petrleo. No passado, possuia
pouca utilidade, era usado para ilumi-
nao e impermeabilizao de alguns
materiais. Sem ele, o mundo, hoje, qua-
se pararia de funcionar: praticamente,
depende dele toda frota mundial de
veculos, assim como grande parte das
indstrias. H vrias hipteses sobre
como o petrleo se formou. As mais
aceitas sugerem que tenha se formado,
em um processo muito lento (centenas
de milhares de anos), a partir da decom-
posio de diversos organismos mor-
tos, associada a continuas mudanas do
ambiente terrestre. Por isso, no se pode
esperar, em curto prazo , a reposio
das jazidas que hoje vm sendo explo-
radas com rapidez muito maior do que
aquela com que os processos geolgi-
cos naturais conseguem repor. O petr-
leo constitudo, principalmente, por
hidrocarbonetos, que podem ser repre-
sentados por C
x
H
y
. Alguns exemplos de
tais substncias so o Butano (C
4
H
10
),
um dos constituintes do gs liqefeito
de petrleo (GLP) e o isocotano
(C
8
H
18
), um dos constituintes da gaso-
lina automotiva. pelo fato de serem
constitudos por compostos de carbo-
no e hidrognio, que os componentes
do petrleo so bons combustveis;
Jazidas de Minerais de Ferro Estas
jazidas so constitudas de rochas que
contm teores elevados de minerais de
ferro, como a hematita (Fe
2
O
3
) e a
magnetita (Fe
3
O
4
). Misturados a estes
minerais, h outros constituintes das
rochas, como, por exemplo, silicatos
diversos, slica e alumnio. O ferro, tem
grande importncia industrial, pois
alm de seu uso em diversos equipa-
mentos pesados, matria-prima para a
produo de vrios tipos de ao;
Jazidas de Ouro O ouro um ele-
mento qumico elementar, isto , encon-
tra-se na natureza sob forma no com-
binada com outros elementos qumicos.
Na verdade, no encontrado totalmente
puro, mas sim misturado, em vrias pro-
pores, com prata, ferro, cobre, chum-
bo e zinco. Em estado puro, o ouro
um slido amarelo, resistente corro-
so atmosfrica e insolvel em gua;
10
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Jazidas de Argila Componente de
granulao mais fina do solo, a argila
formada por uma mistura heterognea
de muitos materiais em propores va-
riveis. Seus principais componentes
so misturas de diversos silicatos e xi-
dos (de alumnio, magnsio, zinco, cl-
cio, potssio). Pode apresentar-se nas
cores cinza, preta, vermelha, rosa, ama-
rela, marrom, verde e branca. Utiliza-
da para a produo de tijolos, telhas,
ladrilhos, pisos cermicos e porcelanas.
A hidrosfera constituda pelas guas do
planeta que podem ser subterrneas e super-
ficiais. Partindo-se do ncleo em direo a su-
perfcie, antes de chegar a esta, so encontra-
das (guas subterrneas), formando os len-
is freticos e preenchendo os poros de ro-
chas que do origem aos aqferos subterr-
neos. Dos lenis e aqferos subterrneos, as
guas podem caminhar e chegar superfcie
(guas superficiais), se encontrarem falhas,
poros ou fraturas em rochas (fontes) ou sendo
captadas artificialmente atravs de poos. Che-
gando superfcie terrestre, as guas ocupam
trs quartos desta e formam os oceanos, ma-
res, rios, lagos e geleiras.
As guas dos oceanos e mares so salga-
das, geralmente transparentes e, s vezes, com
odor peculiar (maresia).
As guas de rios e lagos so chamadas de
guas doces, ou seja, possuem baixa salini-
dade, que se define como a massa de sais dis-
solvidos por quilograma de gua.
As geleiras existentes nos plos e nos picos
das montanhas so formadas por gua em esta-
do slido, praticamente pura, pois apresentam
quantidades muito pequenas de sais.
Tal como a litosfera, a hidrosfera tambm
fonte importante de materiais para a sobrevivn-
cia humana, dentre os quais o principal a prpria
gua potvel, obtida das guas doces. Outros com-
postos importantes tambm so extrados da hi-
drosfera, como, por exemplo, o sal marinho.
A maior parte da superfcie do planeta, cer-
ca de 71%, coberta de gua. Cerca de 97% desta
gua est nos oceanos e no pode ser prontamente
utilizada pelos seres humanos para consumo.
Apenas 0,0092% da gua do planeta faz parte de
lagos, e 0,0001%, dos rios.
A gua em nosso planeta age de forma
marcante, transportando substncias, atuando na
constituio de paisagens, na formao de diver-
sos materiais e tambm sofrendo transformaes.
A gua muda de forma, isto , passa de
um estado de agregao para outro, e ocupa
no apenas a hidrosfera, mas tambm a litos-
fera, a biosfera e a atmosfera.
importante ressaltar a diferena entre o
processo de condensao e o de precipitao.
A gua na atmosfera provm da evaporao
das superfcies lquidas, do solo e da vegeta-
o. Quando o ar mido sobe para as camadas
mais altas da atmosfera, onde a temperatura
mais baixa, a gua se condensa na forma de
gotculas. As nuvens so grandes aglomera-
dos dessas partculas lquidas em suspenso.
A precipitao ocorre quando gotculas de gua
em suspenso (nvoa) comeam a se juntar
umas com as outras, dando origem a gotas
maiores que caem na forma de chuva. As chu-
vas so o resultado da evaporao de uma gran-
de quantidade de gua e de sua posterior con-
densao e precipitao. A gua que chega ao
solo pode se infiltrar ou correr pela superfcie,
atingindo rios, lagos ou diretamente os ocea-
nos, que so, em qualquer caso, o destino fi-
nal de toda a gua de chuva, seja pelo subsolo
ou pelos rios. As principais transformaes
qumicas na natureza envolvendo a gua so:
fotossntese, na qual a gua reagente, e a res-
pirao, em que ela sintetizada.
A superfcie terrestre est envolvida por
uma camada gasosa, sem contornos definidos,
mas que se estende por vrios quilmetros de
altitude: a atmosfera.
O ar que respiramos um fluido, geral-
mente sem cheiro, incolor e compressvel.
essencial vida da superfcie terrestre, onde
se encontram diversos seres vivos, entre eles,
Uma maneira de compreender o papel des-
ta substncia na natureza por meio do ciclo
da gua, ou ciclo hidrolgico. As transforma-
es que ocorrem em maior escala no ciclo
hidrolgico so: a evaporao, a condensao,
o congelamento e a fuso.
Precipitao
Condensao
Enxuradas
Vegetao
Rios
Infiltrao
Oceanos
Descarga
Solo
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
11
aqueles de formas microscpicas. Na tropos-
fera (regio mais baixa da atmosfera, que che-
ga a cerca de 18 km de altitude), a atmosfera
formada por misturas de gases: nitrognio (N
2
),
constituinte mais abundante, oxignio (O
2
),
argnio (Ar), nenio (Ne), hlio (He), criptnio
(Kr), xennio (Xe), gs carbnico (CO
2
), alm
de quantidades variveis de gua (H
2
O), a
umidade do ar. Dependendo da regio, podem
ser encontradas tambm partculas slidas (poei-
ra), gotculas de materiais lquidos como a
gua, formando a neblina, por exemplo; e ga-
ses como o dixido de enxofre (SO
2
), dixido
de nitrognio (NO
2
), monxido de carbono
(CO), oznio (O
3
), metano (CH
4
) e muitos
outros. Com o aumento da altitude, o ar vai
ficando cada vez mais rarefeito, pois diminui
a quantidade total dos gases componentes.
Entretanto a quantidade de certos gases aumen-
ta. Na estratosfera (regio seguinte tropos-
fera), a quantidade de oznio, por exemplo,
aumenta muito em relao que existe na su-
perfcie. Com o aumento da altitude, a homo-
geneidade aumenta, pois deixam de existir as
partculas slidas e lquidas. Torna-se mistura
de uma s fase, a gasosa, enquanto que, na tro-
posfera, o sistema trifsico, com slidos,
como a poeira, lquidos, como as nuvens e
gases constituintes do ar. O ar atmosfrico tam-
bm fonte de materiais para a utilizao hu-
mana, entre os quais o oxignio, o nitrognio
e os gases nobres.
O oxignio est presente no ar em con-
centraes da ordem de 20% em volume. O
oxignio combina-se com a grande maioria dos
elementos qumicos conhecidos, formando
xidos, e o elemento mais abundante do pla-
neta est presente na hidrosfera, litosfera e
atmosfera. Nas condies ambientais, parcial-
mente solvel em gua, o suficiente para man-
ter toda a vida aqutica aerbica, ou seja, que
depende de oxignio. O oxignio puro tem
grande importncia na siderurgia (fabricao
de ao). Na medicina (uso hospitalar) e em pro-
cessos de soldas, como o realizado com os
maaricos oxi-acetileno.
O nitrognio o componente mais abun-
dante no ar atmosfrico. Nas condies do am-
biente, relativamente pouco reativo quando
comparado com o oxignio. Essa uma caracte-
rstica importante para a vida no planeta, pois se
sua interao com o oxignio, nessas condi-
es, resultasse em transformao qumica, no
existiria oxignio na atmosfera. Em tempera-
turas mais altas, tais transformaes ocorrem
mais facilmente, e essa a principal razo da
queima de combustveis em veculos emitir
xidos de nitrognio, poluentes do ar. O nitro-
gnio atmosfrico essencial vida, pois fonte
de compostos nitrogenados indispensveis a
todos os seres vivos. Por interao com a ele-
tricidade, proveniente dos raios durante chuvas,
esse gs, gua e oxignio transformam-se em
amnia e xidos de nitrognio, que por sua vez,
arrastados pela gua das chuvas e interagindo
com os componentes do solo, originam com-
postos como nitratos e sais de amnio, todos
indispensveis para que os vegetais possam pro-
duzir aminocidos e protenas e conseqente-
mente, os animais possam dispor dessas subs-
tncias, por meio da cadeia alimentar.
Com o crescimento populacional huma-
no, a quantidade de compostos nitrogenados
obtidos por esse processo natural tornou-se in-
suficiente, e sua produo industrial passou a
ser necessria para utilizao como fertilizan-
tes na agricultura. O nitrognio, quando puro,
no estado lquido, amplamente utilizado em
processos criognicos, ou seja, resfriamento a
baixssimas temperaturas.
Os gases nobres, hlio, nenio, argnio,
xennio, criptnio e radnio so assim cha-
mados porque se acreditava que eram elemen-
tos qumicos inertes. Hoje, tal viso no mais
aceita. Todos os gases nobres existem na at-
mosfera em baixas concentraes.
Na superfcie terrestre, h vrias formas
de vida na litosfera, na hidrosfera e na atmos-
fera. Estas trs regies do planeta esto inti-
mamente relacionadas entre si, constituindo a
biosfera, a regio em que h vida. Aceita-se
hoje que, entre as condies planetrias bsi-
cas para que possa existir vida , seja essencial:
presena de gua, no estado lquido, em
quantidade suficiente;
energia solar em quantidade adequada,
fornecendo luz e calor;
ocorrncia de interaes e transforma-
es entre materiais slidos, lquidos e
gasosos.
Tais condies so essenciais para que os
seres vivos possam se desenvolver e se repro-
duzir, utilizando, transformando e produzin-
do grande nmero e variedade de materiais dos
quais dependem para sobreviver. Em seguida,
alguns desses materiais sero exemplificados:
Carboidratos: Os vegetais produzem,
a partir da fotossntese, os chamados
carboidratos ou hidratos de carbono:
acares, amido e celulose. Tm como
12
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
funo fornecer parte da energia para a
sobrevivncia dos seres vivos, ou seja,
funo energtica;
leos e gorduras: Tm como funo
armazenar energia para os organismos
vegetais e animais;
Protenas: As protenas, misturas de
composio varivel, compem um
grupo de substncias de fundamental
importncia na constituio da matria
viva. As protenas, nos seres vivos,
apresentam diversas funes, dentre as
quais pode-se ressaltar: estruturao de
tecidos e recuperao de leses, atua-
o como catalizadores das relaes
biolgicas (enzimas), funes hormo-
nais, ao como anticorpos e composi-
o sangnea. So polmeros (substn-
cias formadas por muitos monmeros)
resultantes da unio de aminocidos.
De acordo com a viso sistmica, a teia
da vida consiste em redes dentro de redes. A
tendncia de arranjar cada elo dentro do ou-
tro, de forma hierrquica, de modo que os sis-
temas menores estejam dentro dos maiores,
conforme abaixo:
Macromolculas Clulas Tecidos rgos
Sistemas Indivduos Populaes Co-
munidades Ecossistema Biosfera.
Na verdade, no h acima ou abaixo,
somente redes alinhadas dentro de outras re-
des. As redes de seres vivos tm a capacidade
de manter-se em equilbrio, desde uma clula
at a biosfera. Toda comunidade tem a capaci-
dade de auto-regulao dinmica, isto , deve
manter seu estado de equilbrio e recuper-lo
logo, se houver alguma perturbao no seu
habitat. Contudo, o homem pode provocar al-
teraes drsticas a ponto de afetar essa capa-
cidade de equilbrio. Para a ecologia, muito
importante ver a natureza como uma rede.
Desequilbrios ambientais localizados podem
afetar todo o equilbrio da rede.
interessante lembrar que, de acordo com
a hiptese de Gaia, a prpria terra comporta-
se como um ser vivo e faz parte desta rede.
Em uma comunidade, a diversidade de seres
vivos que fornece indicaes do equilbrio em
que ela se encontra. Porm, para atingir esse
estgio de maior equilbrio, chamado de comuni-
dade clmax, ela passa por estgios sucessivos.
Quando atinge o ltimo, possvel afirmar que
esta passou a estvel, compatvel com as con-
dies da regio, mantendo a diversidade bio-
lgica, conservando o mesmo tipo e nmero
de espcies. Quanto maior o nmero de esp-
cies, maior diversidade tem a comunidade.
O termo biodiversidade comeou a ser usa-
do, na metade dos anos 80, pelos naturalistas
que estavam preocupados com a rpida des-
truio dos ambientes naturais e, conseqen-
temente, das espcies que neles viviam. A bio-
diversidade ou diversidade biolgica tem sido,
ento, relacionada somente ao nmero de es-
pcies de um local. Os recursos biolgicos so
os prprios organismos ou mesmo elementos
deles que tenham valor para a humanidade. Da
a importncia que essa biodiversidade tem,
sendo uma delas, o fornecimento de matria
prima para a fabricao de medicamentos. A
biodiversidade regula o equilbrio da natureza
e o ciclo hidrolgico, portanto contribui para
a fertilidade e proteo dos solos, absorvendo e
decompondo diversos poluentes orgnicos e
minerais.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
13
A populao mundial est crescendo apro-
ximadamente 1,8% ao ano. Isto significa que
so introduzidas na populao mundial 96
milhes de pessoas a cada ano. Entretanto, em
relao s espcies de outros seres vivos, o
panorama de desaparecimento de 8 a 28 mil
espcies por ano.
Para satisfazer suas necessidades, o ser
humano baseia-se em propriedades para ex-
trair, purificar, misturar e/ou sintetizar materiais
utilizando recursos do mundo fsico. Com es-
tes procedimentos, obtm, a cada dia, maior
variedade e quantidade de materiais. Para isso,
interfere no mundo fsico, extraindo cada vez
mais recursos naturais.
Os alimentos de origem vegetal podem ser
obtidos sazonalmente, entretanto, a produo
limitada por zonas de superfcie terrestre
onde h condies apropriadas (basicamente
tipo de solo, gua, energia, clima adequado).
Alimentos de origem animal, para serem obti-
dos, tambm dependem de condies apropria-
das (espao, alimento, gua) para criao dos
animais. Ambos so considerados recursos
naturais renovveis. Minerais e combustveis
fsseis so considerados recursos naturais
no renovveis, pois o planeta os contm em
quantidades fixas e, como vm sendo extra-
dos e consumidos pelos seres humanos de for-
ma ininterrupta ao longo dos anos, seus esto-
ques, conseqentemente, esto diminuindo, o
que pode, no futuro prximo, exaur-los, caso
o consumo continue nos nveis atuais.
1.4 Poluio Ambiental
H dois tipos de perturbaes no ambien-
te: as naturais e as decorrentes de atividades
humanas : antrpica. As naturais, ou aconte-
cem no decorrer do tempo geolgico, ou re-
sultam de cataclismos como vulcanismo, fu-
races, enchentes e terremotos, tais perturba-
es podem at ser previstas, mas no so con-
trolveis. J as perturbaes decorrentes de
atividades humanas podem ser previstas e con-
troladas. O ser humano depende de materiais
para a sua sobrevivncia, utilizando-os con-
forme as propriedades que apresentam, para
isso, interfere no ambiente basicamente de duas
formas: extraindo certos materiais (renovveis
ou no) e lanando outros. Dessa interfern-
cia podem decorrer problemas quanto escas-
sez de recursos naturais, caso a extrao seja
predatria e de poluio, se o lanamento de
materiais no ambiente for feito sem controle.
Esse controle adquire cada vez mais impor-
tncia quando se pretende garantir um ambien-
te de qualidade para as futuras geraes. Nes-
se sentido, h necessidade de aes individuais,
coletivas e governamentais, que envolvam di-
ferentes interesses econmicos, polticos e
sociais.
Considerando-se a conceituao genrica
de poluio como a introduo de agentes
perturbadores ou modificadores nos quatro
ambientes (atmosfera, hidrosfera, litosfera e
biosfera), tm-se, basicamente, os seguintes
tipos de poluio:
poluio qumica introduo de agen-
tes qumicos;
poluio trmica aumento excessivo
de temperatura do ambiente;
poluio radiativa introduo de
agentes radiativos;
poluio sonora aumento excessivo
de rudo no ambiente;
poluio biolgica aumento excessi-
vo de carga orgnica e nutrientes, e in-
troduo de agentes patognicos.
1.4.1 Poluio qumica
Sero considerados, a seguir, dois exem-
plos de atividades do ser humano que acarre-
taram e vm acarretando perturbaes srias
no meio ambiente: uso do praguicida DDT
(Diclodifenilcloroetano) e a produo de ener-
gia por combusto. Com estes exemplos, pode-
se ter uma idia da extenso dos problemas
ligados introduo de agentes qumicos no
ambiente.
A combusto
O fenmeno da combusto, normalmente
incompleta, que se d nas fontes emissoras
pode ser representado por:
Combustvel + ar
xidos de Carbono + Dixido de Enxofre + xi-
dos de Nitrognio + gua + Fuligem + Hidrocar-
bonetos + Energia Trmica
Entre os xidos de carbono, o CO
2
(Di-
xido de Carbono), tambm conhecido como
gs carbnico, vai para a atmosfera. Parte
absorvida pela hidrosfera, biosfera e litosfera,
onde participa, por exemplo, do processo de
fotossntese e da formao de carbonato de
clcio, constituinte dos calcrios e da carapa-
a de certos seres vivos. Parte permanece na
14
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
atmosfera. Embora tenha baixa toxicidade,
apresenta perigo potencial para os seres vivos,
pois est relacionado ao aumento da tempera-
tura mdia da atmosfera terrestre. Isto ocorre
porque o aumento de sua concentrao inten-
sifica o chamado efeito estufa. O efeito es-
tufa um fenmeno natural; sem ele as condi-
es de vida no planeta Terra seriam difceis,
pois um dos principais responsveis pela
manuteno da temperatura terrestre em nveis
apropriados vida. O problema decorrente
da intensificao de tal efeito, provocada pelo
aumento da concentrao do gs carbnico na
atmosfera e no da existncia dele.
O monxido de carbono tambm vai para
a atmosfera, onde pode permanecer por alguns
dias. Entretanto muito txico por ser facil-
mente absorvido pela hemoglobina do sangue,
prejudicando no organismo humano sua fun-
o de transportar oxignio a todas as clulas.
O dixido de enxofre (SO
2
), gs irritante aos
seres vivos vai para a atmosfera, interage com o
oxignio e com a gua e pode gerar cido sulf-
rico, um dos responsveis pela chuva cida. O
cido sulfrico um poluente secundrio.
O dixido de nitrognio (NO
2
) tambm vai
para a atmosfera e nela chega a permanecer
por cerca de 150 anos. Seus principais sorve-
douros so suas interaes com outras espcies
qumicas presentes na atmosfera, gerando po-
luentes secundrios como o cido ntrico, ou-
tro dos responsveis pela chuva cida.
A fuligem (fumaa negra) formada por
partculas slidas de carbono e um dos prin-
cipais constituintes da poeira, chamada de
material particulado (MP). Permanece por al-
gum tempo no ar e seus principais sorvedou-
ros so o solo e os seres vivos.
Um dos principais problemas das grandes
metrpoles, decorrente da queima de com-
bustveis, a dificuldade de disperso dos po-
luentes em certos perodos do ano, principal-
mente no outono e inverno. Isto porque, nesta
poca, so freqentes os eventos conhecidos
como inverses trmicas. A inverso trmica
um fenmeno natural em que, nas proximi-
dades da superfcie terrestre, o ar fica mais frio do
que em altitudes mais elevadas, o que dificulta
sua circulao. Em outras palavras, o ar frio no
sobe por ser mais denso que o ar quente.
O praguicida DDT
O DDT foi considerado, durante muito
tempo, como muito eficaz para combater o
mosquito da malria, piolhos e pragas agrco-
las. Entretanto, o uso indiscriminado mostrou
que ele pode, por seu baixo potencial de de-
gradao, permanecer muitos anos no solo bem
como ser acumulado nos tecidos gordurosos
dos seres vivos, pois apresenta solubilidade em
meios apolares, como gordura.
Como este praguicida no tem especifici-
dade (no absorvido apenas por determina-
dos seres vivos), tambm contribui para ma-
tar vrios membros da cadeia alimentar e cau-
sar danos a quase toda a cadeia. O solo, a gua
e os seres vivos so alguns dos sorvedouros
para o praguicida. A toxicidade aguda pode
ocorrer pela inalao, pela absoro pela pele
ou pela ingesto de sementes ou vegetais.
A toxicidade tambm por ser crnica, ou
seja, pode provir da adsoro continuada de
pequenas quantidades do praguicida, que se
vo acumulando nos organismos.
1.4.2 Poluio Trmica
A chamada poluio trmica decorre da
elevao da temperatura de um ambiente aci-
ma dos nveis considerados normais, de for-
ma que acarretam perturbaes nesse ambien-
te. Hoje esto bem estudados os efeitos em
ambientes aquticos prximos a usinas gera-
doras de eletricidade termeltricas e nuclea-
res. Tais usinas retiram gua destes ambientes
e devolvem aquecida. A operao de tais usi-
nas acarreta diferentes tipos de perturbaes,
que podem afetar a flora e a fauna. Algumas
dessas perturbaes so mecnicas, provoca-
das pela prpria movimentao das guas nas
proximidades das usinas. O arraste de sedimen-
tos, por exemplo, torna as guas turvas e, con-
seqentemente, dificulta a fotossntese e a ali-
mentao dos seres vivos. Essa movimenta-
o tambm faz com que voltem, s guas, os
poluentes que, anteriormente, estavam sedi-
mentados no fundo do ambiente aqutico.
Outro tipo de perturbao que a gua fica
aquecida e, com isso, parte dos gases nela dis-
solvidos, como oxignio e gs carbnico, es-
capa para o ar, comprometendo os processos
de respirao e fotossntese.
1.4.3 Poluio Radiativa
H diversos materiais, naturais ou sinteti-
zados pelo ser humano, que so radiativos, isto
emitem radiaes. As radiaes conhecidas
como alfa, beta e gama tm vrias caracters-
ticas , como por exemplo, o poder de penetrao
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
15
em diferentes tecidos vivos e objetos. Fala-se
em poluio radiativa quando atividades hu-
manas ou acidentes, delas decorrentes, intro-
duzem materiais radiativos no ambiente, e pro-
vocam um aumento nos ndices de radiao.
Estas atividades esto relacionadas extrao
e processamento de materiais radiativos; pro-
duo, armazenamento e transporte de com-
bustvel nuclear, produo, uso e testes de ar-
mas nucleares, operao de reatores nuclea-
res; e uso de materiais radiativos na medicina,
na indstria e na pesquisa. Os efeitos da radia-
o nos organismos vivos so, entre outros,
mutaes genticas, cncer, necroses e altera-
es de metabolismo. Conforme a intensida-
de e a natureza da radiao, ela pode ser fatal.
1.4.4 Poluio Sonora
O som um fenmeno fsico ondulatrio
peridico, resultante de variaes da presso
em meio elstico que se sucedem com regula-
ridade. Pode ser representado por uma srie
de compresses e rarefaes do meio em que
se propaga, a partir da fonte sonora. No h
deslocamento permanente de molculas, ou
seja, no h transferncia de matria, apenas
de energia. Rudo qualquer sensao sono-
ra indesejvel. H quem considere o rudo
como um som indesejvel que invade o am-
biente e ameaa nossa sade, produtividade,
conforto e bem estar. A ao perturbadora do
som depende de suas caractersticas, como in-
tensidade/durao, bem como da sensibilida-
de auditiva, um parmetro varivel de pessoa
para pessoa.
O trnsito o grande causador do rudo
na vida das grandes cidades. As caractersti-
cas dos veculos barulhentos so o escapamen-
to furado ou enferrujado, as alteraes no si-
lencioso ou no cano de descarga, as alteraes
no motor e os maus hbitos ao dirigir, como
aceleraes e freadas bruscas e o uso excessi-
vo de buzina. A partida e a chegada de avies
a jato so acompanhadas de rudos de grande
intensidade, que perturbam, sobremaneira, os
moradores das imediaes.
O rudo gerado pelas indstrias tambm
pode atingir as comunidades vizinhas e preci-
sa ser controlado. Normalmente, feito o
enclausuramento das grandes mquinas.
A Resoluo CONAMA N 001, de 08 de
maro de 1990 estabelece os padres para con-
trole de rudo.
1.4.5 Poluio Biolgica
Devido precariedade da rede de esgotos
sanitrios em nosso pas, grandes volumes de
gua contaminada com fezes humanas, restos
de alimentos e detergentes so diariamente
despejados sem tratamento em crregos, rios
e mares, atingindo as formas de vida nesses
ecossistemas aquticos, alm de comprome-
ter seriamente a sade humana. Os esgotos
domsticos provocam trs tipos de contami-
nao das guas:
contaminao por bactrias: principal-
mente por coliformes presentes nas fe-
zes humanas, responsveis pela gran-
de incidncia de diarrias e infeces.
Porcentagem considervel da mortali-
dade infantil no pas atribuda a doen-
as transmitidas atravs de gua conta-
minada;
contaminao por substncias orgni-
cas recalcitrantes, ou de difcil degra-
dao. Como exemplo, pode-se citar,
os detergentes sulfnicos, cuja ao
txica no muito acentuada, mas os
efeitos secundrios so graves. Des-
troem as clulas dos microorganismos
aquticos, o que impede a oxidao
microbiolgica dos materiais biodegra-
dveis contidos nos esgotos. Reduzem,
tambm, a taxa de absoro de oxig-
nio, diminuindo a velocidade de auto-
depurao dos rios;
eutrofizao de lagos e lagoas, devido
ao excesso de nutrientes, com cresci-
mento excessivo de espcies no de-
sejveis em detrimento de outras esp-
cies (desequilbrio do ecossistema).
1.5 Legislao Ambiental
No Brasil, a legislao ambiental teve in-
cio em 1934, atravs de dois decretos, um apro-
vando o Cdigo Florestal e o outro relativo ao
Cdigo da gua.
Relacionam-se, abaixo, os principais mar-
cos da evoluo da legislao ambiental bra-
sileira.
1973 Criao, no mbito do Minist-
rio do Interior, da Secretaria Especial do
Meio Ambiente SEMA.
1981 Poltica Nacional do Meio
Ambiente, Constituio do Sistema Na-
cional do Meio Ambiente (SISNAMA),
Criao do Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA).
16
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
1985 Criao do Ministrio do Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente.
1988 A Constituio Federal aborda
a questo do Meio Ambiente, o con-
trole da poluio e a disposio final
de resduos slidos, de maneira
abrangente definindo:
Art. 225 Todos tm o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial
sadia qualidade de vida, impondo-se
ao Poder Pblico e coletividade o
dever de defend-lo e preserv-lo para
as presentes e futuras geraes.
Pargrafo 1 Para assegurar a efetivi-
dade desse direito, incumbe ao Poder
Pblico:
V controlar a produo, a comerciali-
zao e o emprego de tcnicas, mto-
dos e substncias que comportem ris-
co para a vida, a qualidade de vida e o
meio ambiente.
1989 Extino da SEMA e criao
do Instituto Brasileiro do Meio Ambi-
ente e dos Recursos Naturais Renov-
veis (IBAMA), vinculado ao Minist-
rio do Interior, criao do Fundo Nacio-
nal do Meio Ambiente (FNMA).
1990 Criao da SEMAM/PR (Se-
cretaria do Meio Ambiente da Presidn-
cia da Repblica).
1992 Transformao da SEMAM/
PR em Ministrio do Meio Ambiente
(MMA).
1993 Criao, mediante transforma-
o, do Ministrio do Meio Ambiente
e da Amaznia Legal.
1997 Instituio da Poltica Nacio-
nal de Recursos Hdricos e criao do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hdricos, criao do Conse-
lho Nacional de Recursos Hdricos.
1998 Lei n 9.605, de 12 de feverei-
ro Dispe sobre as sanes penais e
administrativas derivadas de condutas
e atividades lesivas ao meio ambiente,
e d outras providncias. Medida Pro-
visria n 1.710, de 07 de agosto -
Acrescenta dispositivo Lei n 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispe
sobre as sanes penais e administrati-
vas derivadas de condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente.
1999 Transformao do Ministrio do
Meio Ambiente, dos Recursos Hdricos
e da Amaznia Legal em Ministrio do
Meio Ambiente.
Integram a estrutura bsica do Minis-
trio do Meio Ambiente, o Conselho
Nacional do Meio Ambiente, o Conse-
lho Nacional da Amaznia Legal, o
Conselho Nacional de Recursos
Hdricos, o Comit do Fundo Nacional
do Meio Ambiente, o Instituto de Pes-
quisas Jardim Botnico do Rio de Ja-
neiro e at cinco Secretarias. Constitui
rea de competncia do Ministrio do
Meio Ambiente, a poltica nacional do
meio ambiente e dos recursos hdricos;
poltica de preservao, conservao e
utilizao sustentvel de ecossistemas,
e biodiversidade de florestas; proposi-
o de estratgias, mecanismos e ins-
trumentos econmicos e sociais para a
melhoria da qualidade ambiental e do
uso sustentvel dos recursos naturais;
polticas para integrao do meio am-
biente e produo; polticas e progra-
mas ambientais para a Amaznia Legal;
e zoneamento ecolgico-econmico.
2000 Criao da Agncia Nacional
de guas (ANA), entidade federal de
implementao da Poltica Nacional de
Recursos Hdricos e de coordenao do
Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hdricos.
Conforme pode ser verificado, a poltica
nacional do Meio Ambiente est estabelecida
legalmente desde 1981. O Sistema Nacional
do Meio Ambiente (SISNAMA) constitudo
pelos rgos e entidades da Unio, dos Esta-
dos, do Distrito Federal, dos Municpios e pe-
las Fundaes institudas pelo Poder Pblico,
responsveis pela proteo e melhoria da qua-
lidade ambiental. O SISNAMA apresenta a
seguinte composio:
Conselho do Governo: Representado pe-
los Ministros de Estado.
Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA): 25 membros dos ministrios. O
presidente o Ministro de Meio Ambiente. o
rgo consultivo e deliberativo do SISNAMA
e tem, atravs de resolues, estabelecido nor-
mas e padres ambientais, destacando-se a
classificao das guas doces, salobras e sali-
nas do territrio nacional, padres de qualida-
de do ar, padres de emisses atmosfricas; o
Programa Nacional de Controle da Qualidade
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
17
do Ar (PRONAR), os critrios bsicos e as
diretrizes gerais para uso e implementao da
Avaliao do Impacto Ambiental e o Progra-
ma de Controle da Poluio por veculos
Automotores (PROCONVE).
rgo Central: Ministrio do Meio Am-
biente.
rgo Executor: Instituto Brasileiro de
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
novveis IBAMA.
rgos Seccionais: rgos Ambientais
Estaduais.
rgos Locais: rgos ambientais Mu-
nicipais.
A Poltica Nacional do Meio Ambiente tem
por objetivo a preservao, melhoria e recu-
perao da qualidade ambiental propcia
vida, visando assegurar, no Pas, condies ao
desenvolvimento scio-econmico, aos inte-
resses da segurana nacional e proteo da
dignidade da vida humana, atendidos os se-
guintes princpios:
Equilbrio ecolgico; racionalizao do
uso do solo, do subsolo, da gua e do
ar; planejamento e fiscalizao do uso
dos recursos ambientais; proteo dos
ecossistemas; controle e zoneamento
das atividades potencial ou efetivamen-
te poluidoras; acompanhamento do es-
tado da qualidade ambiental; recupe-
rao de reas degradadas; proteo de
reas ameaadas de degradao e edu-
cao ambiental em todos os nveis de
ensino.
Tem como objetivos: a compatibilizao
do desenvolvimento econmico social, com a
preservao da qualidade do meio ambiente e
do equilbrio ecolgico; subsidiar a atuao
institucional para o cumprimento das prescri-
es constitucionais relativas ao princpio de
que a defesa e preservao do Meio Ambiente
cabem ao poder pblico e sociedade civil;
assessorar as aes governamentais para a
priorizao de programas e projetos; promo-
ver a captao de recursos internos e exter-
nos; financiar atividades pioneiras no desen-
volvimento de pesquisas.
Em relao Lei Federal N 9.605, de fe-
vereiro de 1998, denominada Lei dos Crimes
Ambientais, tomando como base a indstria,
importante ressaltar os seguintes itens:
esta lei trata das sanes penais e ad-
ministrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente;
quem, de qualquer forma, concorre para
a prtica dos crimes previstos nesta Lei,
incide nas penas a estes cominadas, na
medida da sua culpabilidade, bem como
o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de rgo tcnico, o auditor,
o gerente, o preposto ou mandatrio de
pessoa jurdica, que, sabendo da con-
duta criminosa de outrem, deixar de im-
pedir a sua prtica, quando podia agir
para evit-la;.
as pessoas jurdicas sero responsabi-
lizadas administrativa, civil e penal-
mente, conforme o disposto nesta Lei,
nos casos em que a infrao seja co-
metida por deciso de seu representan-
te legal ou contratual, ou de seu rgo
colegiado, no interesse ou benefcio da
sua entidade;
a responsabilidade das pessoas jurdi-
cas no exclui a das pessoas fsicas,
autoras, co-autoras ou partcipes do
mesmo fato;
Penalidades.
Causar poluio de qualquer natureza, em
nveis tais, que resultem ou possam resultar
em danos sade humana, ou que provoquem
a mortandade de animais ou a destruio sig-
nificativa da flora (Pena recluso, de um a
quatro anos, e multa).
Tomar uma rea, urbana ou rural, impr-
pria para a ocupao humana.
Causar poluio atmosfrica que provo-
que a retirada, ainda que momentnea, dos ha-
bitantes das reas afetadas, ou que cause da-
nos diretos sade da populao.
Causar poluio hdrica que torne neces-
sria a interrupo do abastecimento pblico
de gua de uma comunidade.
Dificultar ou impedir o uso pblico das
praias.
Lanar resduos slidos, lquidos ou ga-
sosos, ou detritos, leos ou substncias oleo-
sas, em desacordo com as exigncias estabe-
lecidas em leis ou regulamentos (Pena re-
cluso, de um a cinco anos).
Incorre nas mesmas penas previstas no
pargrafo anterior quem deixar de adotar,
quando assim o exigir a autoridade competen-
te, medidas de precauo em caso de risco de
dano ambiental grave ou irreversvel.
Produzir, processar, embalar, importar, ex-
portar, comercializar, fornecer, transportar, ar-
mazenar, guardar, ter em depsito ou usar pro-
duto ou substncia txica, perigosa ou nociva
18
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
sade humana ou ao meio ambiente, em
desacordo com as exigncias estabelecidas em
leis ou nos seus regulamentos (pena reclu-
so, de um a quatro anos, e multa).
Nas mesmas penas, incorre quem aban-
dona os produtos ou substncias referidos, ou
os utiliza em desacordo com as normas de se-
gurana.
Se o produto ou a substncia for nuclear
ou radioativa, a pena aumentada de um sex-
to a um tero.
Construir, reformar, ampliar, instalar ou
fazer funcionar, em qualquer parte do territ-
rio nacional, estabelecimentos, obras ou ser-
vios potencialmente poluidores, sem licena
ou autorizao dos rgos ambientais compe-
tentes, ou contrariando as normas legais e re-
gulamentares pertinentes (pena deteno, de
um a seis meses ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente).
importante ressaltar que os rgos de
controle ambiental estadual possuem legisla-
o ambiental prpria baseada nas leis fede-
rais. A legislao ambiental estadual pode ser
igual ou mais restritiva que a federal, nunca
mais permissiva. Com o processo de descen-
tralizao do controle ambiental, alguns mu-
nicpios tambm possuem legislao prpria
e seguem a mesma hierarquia, ou seja, fede-
ral, estadual, municipal.
1.6 Monitoramento Ambiental
O monitoramento ambiental est relacio-
nado com os aspectos ambientais significati-
vos e com o atendimento legislao ambien-
tal vigente. So realizadas anlises de labora-
trio para verificar se os aspectos ambientais
esto controlados e se os padres estabeleci-
dos pela legislao esto sendo atendidos. O
monitoramento tambm pode ser realizado por
analisadores contnuos.
Em uma refinaria, de uma forma geral, so
realizados os seguintes monitoramentos:
efluentes hdricos gerados nas unida-
des de processo;
entrada e sada das unidades de trata-
mento de efluentes hdricos especficos;
entrada e sada das diversas etapas da
Estao de Tratamento de Efluente
Hdrico ETEH;
qualidade do efluente final;
qualidade da gua do corpo receptor;
qualidade das guas subterrneas;
gases de combusto dos equipamentos
de combusto;
condies operacionais dos equipa-
mentos de combusto;
qualidade do combustvel e da mat-
ria-prima;
qualidade do ar;
caracterizao de resduos slidos.
Em relao qualidade do efluente final e
do corpo receptor, so realizadas alm das an-
lises fsico-qumicas, anlises biolgicas e de
toxicidade crnica. Dependendo do tipo de
indstria, pode ser necessrio o monitoramento
ambiental das coberturas vegetais e da fauna.
1.7 Efluentes Atmosfricos
1.7.1 Sistema de Contaminao do ar
A contaminao do ar pode ser definida
como qualquer condio atmosfrica em que
certas substncias alcancem concentrao su-
ficientemente elevada, acima do nvel normal,
aceita pela legislao, produzindo efeitos no
homem, em animais, na vegetao e materiais.
Por substncia, entende-se qualquer elemento
ou composto qumico capaz de permanecer ou
ser arrastado pelo ar. Estas podem existir na
atmosfera em forma de gases, de gotas lqui-
das ou de partculas slidas.
A contaminao do ar pode ser represen-
tada como um sistema integrado de 3 compo-
nentes bsicos:
Fontes de
Emisso
Atmosfera Receptores
Contaminantes
Mistura ou
Transformao
Qumica
Existe uma certa dificuldade de se de-
monstrar claramente a relao entre os nveis
de emisso e as concentraes atmosfricas, e
entre as concentraes atmosfricas e os efei-
tos desfavorveis (principalmente sade hu-
mana) dos contaminantes do ar.
O estudo das fontes de emisso, tais como
motores de combusto e queima de leo em
fornos e caldeiras, requer conhecimento tanto
do funcionamento da mquina, quanto da en-
genharia de projeto destes equipamentos. En-
tender o comportamento fsico e qumico dos
contaminantes na atmosfera exige conhecimen-
tos de meteorologia, mecnica de fluidos, qu-
mica, e fsica de aerossis. Por ltimo, a evolu-
o dos efeitos dos contaminantes nas pessoas,
nos animais e nas plantas requer noes de fisiolo-
gia, bioqumica, medicina e patologia vegetal.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
19
A contaminao do ar um problema
mundial, e os contaminantes chegam a disper-
sar em toda a atmosfera.
A origem da contaminao do ar a fonte
de emisso. As fontes de emisso mais impor-
tantes so:
os veculos;
a incinerao de resduos;
consumo de combustveis industriais;
os processos industriais.
Entre os controle tpicos de fonte, encon-
tram-se os equipamentos de lavagem de ga-
ses, a substituio de combustveis por outro
que cause menor contaminao, assim como
modificaes do prprio processo. Os conta-
minantes so emitidos para a atmosfera, que
serve como meio de transporte, diluio e
transformao fsica e qumica. A melhor ma-
neira de se combater a poluio do ar, im-
pedir que os contaminantes cheguem atmos-
fera.
1.7.2 Contaminantes Atmosfricos
Existe uma variedade to grande das subs-
tncias capazes de permanecerem no ar, que
fica difcil estabelecer uma classificao or-
denada. Entretanto, os contaminantes atmos-
fricos podem ser divididos em dois grandes
grupos:
contaminantes primrios: proceden-
tes diretamente das fontes de emisso.
contaminantes secundrios: origina-
dos por interao qumica entre os con-
taminantes primrios e os componen-
tes normais da atmosfera.
Principais produtores de CFC
Principal emisso de carbono pelo desflorestamento tropical
Emisses relativas de carbono pela queima de combustveis
fsseis
As substncias consideradas, normalmen-
te, como contaminantes atmosfricos, podem
ser classificadas conforme tabela a seguir:
Tipo
Contaminantes
Primrios
Contaminantes
Secundrios
Fontes de
emisso artificial
Compostos de
Enxofre
SO
2
, SO
3
H
2
SO
4
NO NO
2
Compostos
Cl C
3
Queima de Com-
bustveis que con-
tenham enxofre
CO, CO
2
HF, HCI
Industrias
metalrgica
Queima de
combustveis
Queima de com-
bustveis e proces-
sos em altas tem-
peraturas
Queima de com-
bustveis, uso de
solventes
Compostos de
Halognios
xidos de
Carbono
Compostos de
Carbono
Compostos de
Nitrognio
Aldedos,
cetonas, cidos
Como representao dos xidos de nitro-
gnio, NO e NO
2
, comum utilizar a frmula
abreviada NO
x
. Do mesmo modo, emprega-se
a frmula SO
x
para designar os xidos de en-
xofre SO
2
e SO
3
.
Tanto o CO (monxido de carbono) quanto
o CO
2
(dixido de carbono) so provenientes
da combusto de produtos de carbono, especi-
ficamente de sua combusto incompleta e com-
pleta, respectivamente. No se considera o CO
2
como um contaminante, entretanto, a concen-
trao de CO
2
tem aumentado progressivamen-
te, e seu possvel efeito na meteorologia tem
se transformado em um tema de inquietude.
Alguns compostos de halognios, tais
como HF (cido fluordrico) e HCl (cido clo-
rdrico), originam-se em certas operaes in-
dustriais, entre elas, as metalrgicas. Os com-
postos de fluor so perigosos e irritantes para
as pessoas, animais e plantas, mesmo quando
presentes em concentraes muito baixas.
Por partculas, entende-se qualquer subs-
tncia, com exceo da gua pura, presente na
atmosfera em estado slido ou lquido, cujo
tamanho microscpio. Utilizam-se vrios
termos em relao s partculas no ar.
Os contaminantes secundrios resultam
das reaes qumicas na atmosfera. Vrios ti-
pos de reaes podem ocorrer: reaes trmi-
cas em fase gasosa, reaes fotoqumicas em
fase gasosa, reaes trmicas em fase lquida.
As reaes trmicas em fase gasosa pro-
vm da coliso de duas molculas com nveis
de energia apropriados e constituem o tipo
normal de reaes qumicas.
As reaes fotoqumicas implicam na
dissociao e na excitao de uma molcula
aps absoro de certa radiao. As reaes
de fase lquida, geralmente de natureza inica,
20
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
podem ser catalisadas pelas substncias pre-
sentes no lquido.
A tabela a seguir mostra as diferenas de
concentrao tpicas entre o ar limpo e o ar
contaminado para os principais contaminan-
tes atmosfricos.
Comparao dos nveis de concentrao entre o
ar limpo e o ar contaminado
Componentes Ar limpo Ar contaminado
SO
2
0,001 0,01 ppm 0,02 2 ppm
CO 310 330 ppm 350 700 ppm
CO
2
1 ppm 5 200 ppm
NO 0,001 0,01 ppm 0,01 0,5 ppm
Hidrocarbonetos 1 ppm 1 20 ppm
Partculas 10 20ug/m 70 700ug/m
1.7. 3 Aspectos atmosfricos da contaminao do ar
Logo que so introduzidos na atmosfera,
os contaminantes so submetidos ao processo
de disperso. Simultaneamente, seu transpor-
te pelo vento e a formao de uma mistura tur-
bulenta do origem a uma srie de reaes
qumicas que transformam os contaminantes
primrios em secundrios.
Os aspectos atmosfricos da contamina-
o do ar podem ser divididos de acordo com
os seguintes tpicos:
a qumica do ar;
a meteorologia;
o transporte e a disperso dos contami-
nantes.
A qumica do ar compreende o estudo dos
processos de transformao exercidos sobre os
contaminantes atmosfricos. A durao des-
tes processos pode variar desde alguns segun-
dos at vrias semanas.
A meteorologia o estudo da dinmica,
em particular, em relao quantidade de
movimento e de energia. As escalas meteoro-
lgicas de movimento podem classificar-se da
seguinte forma:
Macroescala: fenmenos que ocorrem so-
bre milhares de quilmetros, tais como as zo-
nas de alta e baixa presso, situadas sobre os
oceanos e os continentes.
Mesoescala: fenmenos que ocorrem so-
bre centenas de quilmetros, tais como as bri-
sas entre a terra e o mar, os ventos entre as
montanhas e vales e as frentes migratrias de
baixa e alta presso.
Microescala: fenmenos que ocorrem so-
bre distncias inferiores a 10 quilmetros, tais
como a disperso da fumaa de uma chamin.
Cada uma destas escalas de movimento
desempenha um papel na contaminao do ar.
Os efeitos micrometeorolgicos ocorrem
em questo de minutos e horas. Os mesome-
teorolgicos em horas ou dias e os macrome-
teorolgicos em dias ou vrias semanas.
Prever o transporte e a disperso dos con-
taminantes requer conhecimento dos efeitos dos
ventos e da turbulncia sobre o movimento das
partculas ou molculas de gs na atmosfera.
Fundamentos de meteorologia
A energia expendida nos processos atmos-
fricos derivada originalmente do sol. Esta
transferncia de energia do sol para a terra
feita por radiao do calor atravs das ondas
eletromagnticas. Uma parte desta radiao
refletida pelo topo das nuvens e pelas superf-
cies do solo e gua da terra.
A terra irradia energia em proporo sua
temperatura. Devido a essa temperatura, a
emisso corresponde regio infravermelho
do espectro. O dixido de carbono (CO
2
),
um dos gases de maior importncia, presentes
na atmosfera, pois invisvel radiao solar,
mas absorve a maior parte da radiao infra-
vermelho emitida pela terra, onde a energia
calorfica conservada.
Este CO
2
, presente na atmosfera,
reciclado atravs dos oceanos e plantas, mas o
desmatamento indiscriminado e a queima de
cada vez mais combustveis fosseis est au-
mentando em muito as concentraes de CO
2
na atmosfera.
Respirao
Fotossntese
CO
2
da respirao
O
2
Fitplancton
Carvo mineral e petrleo
CO
2
da queima
de combustivel
CO
2
Sedimentos
C
a
lc
r
io
Matria orgnica morta
e decompositora
Luz solar
Sol
20% so absorvidos
pela atmosfera
22% so refletidos
pela atmosfera
Gases do
efeito estufa
17% escapam
para a atmosfera
9% so refletidos
pela superfcie ou
poeira e neblina
83% so seguros
e reemitidos
Radiao
infravermelha
49% so
absorvidos
pela superfcie
Radiao
infravermelha
emitida por
nuvens e gotas
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
21
Para manter o balano de calor da atmos-
fera, existe a constante transferncia de calor
entre o Equador e os Plos. Esta fora de ba-
lano trmico a principal causa do movimen-
to atmosfrico na terra.
A poro da terra prxima ao Equador age
como uma fonte de calor e, nos Plos, como
um absorvedor.
Associados a esta circulao principal,
existem os movimentos do ar provocados pela
existncia do gradiente de presso. Existe uma
fora que empurra o ar das presses mais altas
(frio) para a mais baixa. O vento nada mais
do que o ar em movimento.
Na camada inferior da atmosfera, esten-
dendo da superfcie at 2 km, a distribuio
de temperatura varia consideravelmente, de-
pendendo das caractersticas da superfcie. Esta
regio, denominada baixa troposfera, a de
maior interesse na meteorologia da poluio
do ar, uma vez que dentro dessa camada onde
ocorrem os fenmenos que interferem na dis-
perso das poluentes atmosfricos. Na tropos-
fera (0 a 18 km de altitude), existe uma varia-
o de temperatura com a altitude, mas, na
baixa troposfera, esta taxa de variao no
observada e inverses de temperatura podem
ocorrer.
Uma vez que a atmosfera tem a tendncia
de aumentar ou diminuir os movimentos de ar
atravs dos processos atmosfricos, seus efei-
tos na poluio do ar so extremamente im-
portantes.
A estabilidade atmosfrica altamente
dependente da distribuio vertical da tempe-
ratura em funo da altitude.
Devido ao decrscimo de presso com a
altura, um volume de ar elevado a uma altitu-
de maior, encontrar a presso decrescida, ex-
pandir, e devido a esta expanso, resfriar.
Se esta expanso se der sem perda ou ganho
de calor, a troca adiabtica. Similarmente,
um volume de ar forado para baixo encontra-
r presses altas, contrair e aquecer.
A curva que fornece a taxa de aquecimen-
to ou resfriamento chamada curva adiabtica
seca, e no deve ser confundida com a varia-
o da temperatura com a altura num determi-
nado momento, que chamada de curva am-
biente (real). A curva adiabtica funo, prin-
cipalmente, da temperatura do ar e da superf-
cie, sobre a qual ele est se movendo, e a troca
de calor entre os dois.
Se a temperatura decresce mais rapida-
mente com a altura do que a adiabtica seca, o
ar instvel, se decresce mais lentamente
estvel e se a variao permanece igual a cur-
va adiabtica seca, a atmosfera est em equil-
brio estvel (neutro).
A velocidade do vento responsvel pela
diluio dos poluentes, ou seja, a concentra-
o de poluentes no ar inversamente propor-
cional velocidade do vento.
Devido rugosidade do solo, a velocida-
de do vento varia com a altura, menor na
superfcie e cresce medida que se afasta do
solo.
10C
55C
35C
1C
100C
O
3
NO
+
, O
2
+
NO
+
, O
2
+
, O
+
N
2
, O
2
,
CO
2
, H
2
O
Term
osfera
M
esosfera
Estratosfera
Troposfera
Nvel do mar
18 km
37 km
55 km
74 km
93 km
111 km
Ionosfera
Altitude
Regies da
atmosfera
Algumas
importantes
espcies
qumicas
Densidade
do ar
Veculos de
vo
Temperaturas
mdias
22
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
A disperso vertical de poluentes do ar est
relacionada diretamente, s variaes da tem-
peratura com a altura, que condiciona o grau
de estabilidade atmosfrica e por sua vez, a
concentrao e disperso dos poluentes atravs
dos movimentos verticais das camadas de ar.
Maior decrscimo de temperatura com a
altura implica em melhor disperso e menor
decrscimo em pior disperso. O caso extre-
mo a inverso de temperatura, que confina
os poluentes numa camada prxima ao solo,
aumentando em muito a concentrao.
As plumas, emitidas por uma chamin,
tomam diferentes formas segundo a variao
vertical de temperatura, quando comparada
com a curva adiabtica seca.
Um dos principais objetivos da meteoro-
logia, aplicada contaminao do ar, a pre-
viso da disperso dos contaminantes. Esta
disperso depende dos seguintes fatores: na-
tureza fsica dos contaminantes (gs, partcu-
la), velocidade e disperso dos ventos, estabi-
lidade atmosfrica, nvel de turbulncia, con-
dies de emisso (velocidade de sada), tem-
peratura.
1.7.4 Os efeitos da contaminao do ar
Existe evidncia real de que a contamina-
o do ar afeta a sade das pessoas e dos ani-
mais, provoca danos vegetao, deteriora os
materiais, afeta o clima, reduz a visibilidade e a
radiao solar. Alguns destes efeitos so
mensurveis, tais como os danos causados aos
materiais e a reduo de visibilidade, entretan-
to a maioria deles difcil de medir, como os
danos causados sade humana e aos animais.
Efeitos da contaminao do ar sobre as proprie-
dades atmosfricas
Os contaminantes do ar podem afetar as
propriedades atmosfricas das seguintes formas:
reduo da visibilidade;
formao de neblina;
reduo da radiao solar;
alterao das temperaturas e distribui-
o dos ventos.
Talvez o efeito mais visvel da contami-
nao do ar sobre as propriedades da atmosfe-
ra seja a reduo da visibilidade que acompa-
nha, freqentemente, o ar contaminado. A re-
duo de visibilidade esteticamente desagra-
dvel, assim como pode levar situao de
perigo.
A visibilidade reduzida devido aos efei-
tos produzidos pelas molculas gasosas e as
partculas sobre a radiao visvel: a absoro
e a disperso da luz. A disperso da luz a
causa principal da falta de visibilidade.
Efeitos da contaminao do ar sobre os materiais
Os contaminantes atmosfricos podem
afetar os materiais de forma a deteriorar sua
composio qumica. As partculas cidas ou
alcalinas, em particular as que contm enxo-
fre, corroem os materiais.
Efeitos da contaminao do ar sobre a vegetao
Os contaminantes conhecidos como fito-
txicos (substncias nocivas para a vegetao)
so o dixido de enxofre e o etileno. O cloro,
o cloreto de hidrognio, o amonaco e o mer-
crio so menos txicos. Em geral, os conta-
minantes gasosos penetram na planta, junto
com o ar, durante o processo normal de respi-
rao da planta, destruindo a clorofila e inter-
rompendo a fotossntese. Os danos podem
variar desde uma reduo na velocidade de
crescimento at a morte da planta. Os sinto-
mas aparecem nas folhas e, em muitos casos,
possvel conhecer os contaminantes por meio
dos sintomas especficos.
Efeitos da contaminao do ar sobre a sade hu-
mana
Considerem-se os mecanismos pelos quais
os contaminantes podem afetar o corpo humano.
Os contaminantes penetram no corpo hu-
mano atravs do sistema respiratrio. O siste-
ma respiratrio divide-se em sistema respira-
trio superior (cavidade nasal e traquia) e sis-
tema inferior (bronquolos e pulmes). Na en-
trada dos pulmes, a traquia divide-se em,
duas rvores de brnquios, formados por uma
srie de ramificaes de dimetro cada vez
mais reduzido. A rvore bronquial completa
consta de mais de 20 bifurcaes terminadas
nos bronquolos, cujo dimetro aproximado
de 0,05cm. Nas extremidades dos bronquolos,
encontra-se um grande nmero de diminutas
cavidades chamadas alvolos. atravs das
membranas alveolares que o oxignio do ar
contido nas cavidades difunde-se aos vasos
capilares do pulmo, enquanto o dixido de
carbono difunde-se em sentido contrrio. Ape-
sar dos alvolos terem um dimetro aproxi-
mado de apenas 0,02 cm, apresentam uma su-
perfcie total para transferncia de gs de apro-
ximadamente 50 m, devido ao nmero de al-
volos existentes.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
23
Certos contaminantes afetam a resistn-
cia dos pulmes.O sistema respiratrio tem
vrios nveis de defesa contra a invaso de
corpos estranhos. As partculas grandes so
filtradas pelos plos do nariz e so retiradas
pela mucosa que cobre a cavidade nasal e a
traquia.
A maioria das partculas so eficazmente
eliminadas pelo sistema respiratrio superior.
As partculas menores atravessam, geral-
mente, o sistema respiratrio superior e no
so retidas. Dentre essas, algumas partculas
muito pequenas depositam-se nas paredes dos
brnquios ou podem penetrar profundamente
no pulmo.
No caso dos gases, a proporo absorvida
nas vias respiratrias superiores e a que chega
s ltimas cavidades dos pulmes determi-
nada pela Lei de solubilidade. Por exemplo, o
SO
2
muito solvel, como conseqncia, ser
prontamente absorvido pelas vias respiratrias,
causando um aumento da resistncia destas
vias, estimulando a secreo de mucosidade.
Por outro lado, o CO (monxido de carbono)
e o NO
2
(dixido de nitrognio) so relativa-
mente insolveis e podem penetrar profunda-
mente no pulmo. importante notar que um
mesmo efeito pode ser provocado por mais de
um contaminante. Tanto o dixido de enxo-
fre, quanto o formaldedo, por exemplo, pro-
duzem irritao e uma maior resistncia das
vias do sistema respiratrio superior, e tanto o
monxido de carbono, quanto o dixido de
nitrognio impedem o transporte de oxignio
pela hemoglobina.
No caso da presena simultnea de vrios
contaminantes, os efeitos observados podem
ser atribudos ao combinada de mais de
um contaminante. Um bom exemplo deste fato
o caso do SO
2
(dixido de enxofre) e as par-
tculas. Os efeitos sobre a sade so muito mais
graves quando ambos esto presentes do que
quando existe apenas um deles. Uma possvel
explicao deste efeito relaciona-se com o fato
do SO
2
ser absorvido por partculas muito pe-
quenas, que so capazes de alcanar zonas
mais profundas dos pulmes.
Monxido de carbono (CO)
O monxido de carbono afeta a capacida-
de do sangue de transportar o oxignio. Du-
rante o funcionamento normal, as molculas
de hemoglobina, contidas nos glbulos verme-
lhos do sangue, transportam o oxignio para
ser trocado por dixido de carbono nos vasos
capilares que unem as artrias com as veias. O
monxido de carbono relativamente insol-
vel e chega facilmente aos alvolos, junto com
o oxignio. O monxido de carbono difunde-
se atravs das paredes alveolares e compete
com o oxignio pela ligao com qualquer um
dos quatro tomos de ferro da molcula de
hemoglobina. A afinidade do tomo de ferro
pelo CO , aproximadamente, 210 vezes maior
que pelo oxignio, o que confere ao CO uma
considervel vantagem nesta competio.
Quando uma molcula de hemoglobina adquire
uma molcula de CO, se converte em Carbo-
xihemoglobina (COH
b
). A presena de carbo-
xihemoglobina diminui a capacidade total do
sangue de levar oxignio s clulas. Os sinto-
mas de envenenamento por CO dependem da
quantidade de COH
b
e do tempo de exposio.
A formao de COH
b
um processo re-
versvel, com vida mdia de duas a quatro ho-
ras, aps exposio a baixas concentraes.
Nveis relativamente baixos de COH
b
po-
dem afetar a habilidade para estimar interva-
los de tempo e reduzir a sensibilidade visual.
xidos de enxofre
O dixido de enxofre (SO
2
) altamente
solvel e, como conseqncia, absorvido nos
condutos midos do sistema respiratrio su-
perior. Exposio a nveis de SO
2
da ordem de
1 ppm produz a constrio das vias respiratrias.
Nveis mais elevados de SO
2
esto associados
com nveis elevados de partculas, favorecen-
do o aumento de problemas respiratrios.
xidos de nitrognio
O dixido de nitrognio (NO
2
) transfor-
ma-se nos pulmes em nitrosoaminas, algu-
mas delas cancergenas.
O NO
2
pode passar para o sangue, forman-
do um composto chamado metahemoglobina.
Sabe-se que o dixido de nitrognio irrita os
alvolos, produzindo sintomas parecidos aos
do enfisema, aps exposio prolongada a con-
centraes da ordem de 1 ppm.
Gs sulfdrico
O gs sulfdrico incolor, inflamvel e
extremamente txico. A toxidade do H
2
S
igual a do HCN e seis vezes a do CO.
Exposio alta concentrao de H
2
S pode
causar a morte em pouco tempo. O sulfeto de
hidrognio tem um odor distinto e desagrad-
vel (semelhante ao do ovo podre). Em baixas
concentraes, pode ser sentido, entretanto al-
tas concentraes paralisam os nervos aliticos.
24
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
A concentrao usualmente permitida para
8 horas de exposio 20 ppm, e a relao
entre toxidade e concentrao pode ser obser-
vada a seguir:
Fadiga aps vrias horas de exposio 70 150
Concentrao limite para uma hora de exposio 170 300
Condies graves aps 30 minutos 400 700
Morte em 30 minutos Acima de 600
Toxidade
Concentrao
de H
2
S (ppm)
Sabe-se que em determinadas zonas, a
concentrao de certos contaminantes atmos-
fricos tem alcanado nveis excessivamente
altos durante vrias horas ou vrios dias.
Por mais terrveis que sejam os resultados
de um episdio ocasional de contaminao
atmosfrica, deve haver uma intensa preocu-
pao tambm com os efeitos produzidos so-
bre a populao que vive em atmosfera conta-
minada. Uma das tarefas mais difceis a ob-
teno de uma relao quantitativa da exposi-
o contaminao atmosfrica e seus efeitos
sobre a sade. A dificuldade consiste em se-
parar o efeito produzido pela contaminao
atmosfrica na sade e aqueles causados por
hbitos pessoais tais como: fumar, regimes
alimentares, fatores hereditrios.
As enfermidades do sistema respiratrio
esto, geralmente, relacionadas com a conta-
minao do ar. O sistema respiratrio reage
de maneira distinta aos contaminantes atmos-
fricos, tais como bronquite, bronquite crni-
ca e enfisema. A bronquite uma enfermida-
de, caracterizada por inflamao da rvore
bronquial, acompanhada de um aumento da
produo de mucosidade e tosse, dificultando o
funcionamento das vias respiratrias. O enfisema
pulmonar uma doena em que ocorre a des-
truio dos alvolos de forma progressiva.
Os principais contaminantes do ar atmos-
frico em uma refinaria so: dixido de enxo-
fre, monxido de carbono, xidos de nitrog-
nio, material particulado e hidrocarbonetos.
As principais fontes de poluio atmosf-
rica so:
ContaminantesFontes SO
2
NOx CO * Material Particulado Hidrocarbonetos
Fornos X X X X
Caldeiras X X X X
Regeneradores X X X X
Incineradores X X
Flare X X X X
Tanques de armazenamento X
Separadores gua /leo X
Unidade de Flotao X
Lagoas de aerao X
* queima incompleta
Aes para reduo da emisso atmosfrica:
Controle do combustvel e matria-prima;
Controle das variveis operacionais:
temperatura e viscosidade do combus-
tvel, relao combustvel/vapor, pres-
so do combustvel;
Instalao de sistemas de controle:
Lavadores de gs, Precipitadores Ele-
trostticos, Ciclones externos, selagem
de tetos flutuantes, recuperao de ga-
ses em tanques de armazenamento, co-
bertura de separadores de gua e leo e
flotadores.
1.8 Efluentes Hdricos
1.8.1 Principais fontes de poluio hdrica em
uma refinaria
Vasos de topo das fracionadoras das
Unidades de Destilao Atmosfrica e
a Vcuo, de Craqueamento Cataltico,
de Coqueamento Retardado e de Hi-
drodessulfurizao. Estas guas so al-
tamente contaminadas com amnia,
sulfeto, cianeto e fenis;
Dessalgadoras de Petrleo: A salmou-
ra pode conter borras oleosas, leo,
amnia, sulfetos e fenis;
Tanques de petrleo, derivados e res-
duos: A gua de drenagem pode conter
borras oleosas, leo, amnia, sulfetos;
Equipamentos das unidades de processo:
A drenagem para liberao de equipa-
mentos pode conter leos, borras oleo-
sas, guas contaminadas;
Unidades de tratamento de produtos
(gasolina, GLP e gs combustvel):
Soda gasta contaminada com fenis e
mercaptans, DEA (dietanolamina);
Amostradores: Hidrocarbonetos;
Sistemas de Refrigerao: Purga do sis-
tema contm fosfato e zinco (o fosfato
pode ser aproveitado como nutriente
nos sistemas de tratamento biolgico);
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
25
1.8.2 Principais contaminantes encontrados nos efluentes hdricos de uma refinaria
A tabela seguinte apresenta os principais contaminantes de efluentes hdricos de refinaria,
sua origem e efeitos.
Contaminante Origem Efeitos
leos e Graxas
Fenis
Mercaptans
Sulfetos
Cianetos
Chumbo
Mercrio
Cromo
Zinco
Amnia
Fosfatos
Nitrito e Nitrato
todos os estgios de processamento;
perda de leo aceitvel para o efluente hdrico:
0,1 a 0,4%.
txicos;
inibem os processos biolgicos.
unidades de processo que trabalham com tempe-
raturas altas e possuem fonte de oxignio.
mal gosto (50 a 100 ppb);
mal cheiro (50 a 100 ppb);
txicos;
Concentraes acima de 5 ppm so prejudiciais aos peixes;
Concentraes acima de 1000 ppm alteram o crescimento de ratos.
petrleo;
unidades de processamento;
substituio de um hidrognio dos hidrocarbone-
tos pelo radical SH.
txicos;
mal cheiro;
reagem imediatamente com o oxignio;
correntes contendo altas concentraes se descartadas em canaletas
de drenagem emanam gases deste composto que so prejudiciais
sade humana.
petrleo;
podem estar presentes na forma de sal devido subs-
tituio do hidrognio por um radical positivo.
o gs sulfdrico (H
2
S) txico, corrosivo e causa srios problemas de
odor e sabor;
letal aos peixes em concentrao acima de 1 ppm;
demanda imediata de oxignio que ir diminuir o oxignio dissolvido
nos cursos de gua;
correntes contendo altas concentraes, se descartadas em canaletas
de drenagem, emanam gases deste composto prejudiciais sade hu-
mana, podendo ser letais.
unidades de processo que trabalham com tempe-
raturas altas a partir do nitrognio orgnico.
em condies de pH baixo, liberam gs ciandrico (HCN), altamente
txico; no deve, por isso, ser descartado em canaletas de drenagem
(pode ser letal).
petrleo;
etilao da gasolina (processo eliminado em todas
as refinarias).
acumulativo;
toxidez aguda: queimaduras na boca, sede intensa, inflamao do tra-
to gastrintestinal, ocasionando diarrias e vmitos;
toxidez crnica: nuseas, vmitos, dores abdominais diversas, parali-
sia, confuso mental, distrbios visuais, anemias e convulses;
petrleo.
gua de refrigerao (controle de corroso).
No mais utilizado nas refinarias.
Cancergeno quando na valncia +6.
gua de refrigerao (controle de corroso). essencial e benfico para o metabolismo humano, pois a atividade da
insulina e de diversos compostos enzimticos depende da sua presena;
a deficincia nos animais conduz ao atraso do crescimento;
o teor limitado na gua devido ao sabor.
unidades de processo que trabalham com tempe-
raturas elevadas, que rompem as molculas do
composto nitrogenado e fazem com que o nitrog-
nio orgnico ligue-se ao hidrognio.
nutriente bsico;
favorece o crescimento de algas em detrimento de outras espcies,
provocando a eutrofizao dos corpos d'gua;
aderem guelra dos peixes;
txica aos peixes, quando na forma no ionizada;
correntes contendo altas concentraes, se descartadas em canaletas
de drenagem, emanam gases deste composto que so prejudiciais
sade humana, podendo ser letal.
gua de refrigerao e gua de caldeira. nutriente bsico;
eutrofizao dos corpos d'gua.
alteraes sangneas nas crianas (at trs meses de idade). A
hemoglobina alterada no transporta adequadamente o oxignio, o
que provoca a asfixia.
sistemas de tratamento biolgico do efluente
hdrico (nitrificao).
Caldeiras: Purga do sistema contm fosfato (o fosfato pode ser aproveitado como nu-
triente nos sistemas de tratamento biolgico);
Laboratrio: A drenagem contm hidrocarbonetos e produtos qumicos diversos.
26
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
1.8.3 Segregao de efluentes hdricos
Nas refinarias, os efluentes hdricos gera-
dos devem ser segregados em sistemas dis-
tintos, j que sua mistura tende a dificultar os
tratamentos. Esta segregao visa minimi-
zao de investimentos, devido facilidade
que pode propiciar ao tratamento final.
Normalmente, existem cinco sistemas de
coleta, conforme descrito a seguir:
Sistema de Efluentes de Processo re-
cebe os efluentes hdricos que tiveram
contato com produtos (por exemplo:
lavagem de trocadores de calor, drena-
gem de bombas, drenos de torres);
Sistema de Efluentes Contaminados
recebe efluentes hdricos que podem ou
no estar contaminados por produtos
(por exemplo: gua de chuva nos par-
ques de armazenamento, tubovias, dre-
nagem de tanques);
Sistema de Esgoto Sanitrio recebe
guas de banheiro, cozinhas, etc;
Sistema de Soda Gasta recebe efluen-
tes hdricos oriundos do tratamento
custico de produtos, bem como guas
de lavagem do mesmo processo;
Sistema de guas cidas coleta con-
densados de topo de torres de fracio-
namento.
De forma geral, pode-se dizer que todas
as correntes originadas dentro dos limites de
uma indstria devem sofrer tratamento. Entre-
tanto, o tratamento depende no s do volume
da corrente mas tambm de sua qualidade.
Aps separar as correntes em conjuntos
semelhantes, deve-se estud-las de forma a
identificar os produtos nelas contidos e esta-
belecer os tipos de tratamento a serem empre-
gados.
Existe para determinadas correntes, a ne-
cessidade de tratamentos especiais dados a
cada uma no prprio lugar onde ela aparece.
Estes tratamentos so chamados de tratamen-
tos in loco ou in situ e so empregados
para guas contendo produtos demasiadamente
txicos ou em concentraes elevadas.
Os sistemas de coleta so direcionados para a
Estao de Tratamento de Efluentes Hdricos
ETEH. Nesta estao, esto includas as fa-
ses de tratamento primrio, secundrio e ter-
cirio. bom observar que nem todas as in-
dstrias necessitam dos mesmos tratamentos.
Assim, as ETEH diferem nos seus componen-
tes, no s pelos fatos alinhados acima (vazo
e qualidade), mas tambm pela profundidade a
que se ter que levar o tratamento. Outro pon-
to que cabe salientar o fato de que, na maio-
ria das vezes, a legislao local acaba por de-
terminar a profundidade do tratamento, j que
este ser funo dos nveis de poluentes pos-
sveis de serem lanados nos corpos receptores.
Os tratamentos primrios tm como fina-
lidade retirar os compostos em suspenso, tais
como slidos, leos e graxas.
Os tratamentos secundrios removem,
principalmente, compostos dissolvidos. Exis-
tem diversas formas de tratamento secund-
rio, os mtodos biolgicos aerbicos so os
mais econmicos atualmente.
Os processos tercirios, tambm chama-
dos de polimento, so especialmente dedica-
dos a remover poluentes especficos.
Os despejos industriais de refinarias pos-
suem compostos instveis, isto , que, ao se-
rem expostos ao ambiente, participam de rea-
es qumicas e transformam-se em produtos
estveis. Como exemplo, podem ser citados
os compostos orgnicos, que ao serem oxida-
dos, formam, ao final do processo, CO
2
e H
2
O.
No tratamento biolgico, a oxidao feita
por microrganismos que consomem os po-
luentes como nutrientes, obtendo de sua me-
tabolizao a energia necessria para sobrevi-
ver e reproduzir.
Alguns produtos so de metabolizao
difcil, como o leo. A maioria dos microrga-
nismos no faz sua assimilao, conseguindo,
algumas vezes, uma transformao parcial, que
converte o leo para compostos orgnicos oxi-
genados e possibilita, assim, sua total degra-
dao por outros organismos.
Um outro ponto de importncia refere-se
qualidade nutritiva dos efluentes hdricos.
Para o desenvolvimento de qualquer organis-
mo vivo, so necessrios trs nutrientes bsi-
cos nitrognio, fsforo e potssio ao lado
de nutrientes secundrios e micro-nutrientes.
Nos efluentes hdricos de uma refinaria,
j existe, normalmente, o nitrognio e at o
potssio, ento necessria apenas a adio
de fsforo.
1.8.4 Tratamentos Localizados
Os tratamentos in loco, aplicveis a uma
refinaria de petrleo, sero descritos a seguir.
Unidade de Tratamento de Soda Gasta
Este tratamento possui duas etapas: oxi-
dao e neutralizao.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
27
A etapa de oxidao tem por finalidade
oxidar NaSH (sulfeto cido de sdio) e Na
2
S
(sulfeto de sdio). Esta oxidao feita atra-
vs da adio de ar.
A torre de oxidao composta de quatro
sees, cada qual provida de distribuidores,
destinados a promover a mistura de soluo
de soda gasta com ar. O gs residual incine-
rado e a soda tratada enviada para a etapa de
neutralizao. Nesta etapa, a soda gasta mis-
turada com um cido forte. O cido normal-
mente usado o cido sulfrico (H
2
SO
4
). O
pH ajustado para valores prximos de 7,0.
Aps a neutralizao, a corrente encaminha-
da para a ETEH.
Unidade de Tratamento de guas cidas
A finalidade da unidade de Tratamento de
guas cidas remover o sulfeto de hidrognio
(H
2
S), amnia (NH
3
) e o cido ciandrico (HCN).
gua cida (sour water) um nome gen-
rico, no muito adequado, devido ao pH, nor-
malmente acima de 7,0. O pH freqentemente
alcalino, deve-se presena de amnia.
O processo utilizado para reduzir o teor
de contaminantes dos condensados de vapor
d'gua das torres fracionadoras, a fim de per-
mitir sua reutilizao nas unidades de refino,
ou seu descarte na rede de coleta, consiste em
submeter a carga de guas cidas a um siste-
ma de aquecimento e de retificao ou esgota-
mento, com vapor d'gua.
A injeo de vapor d'gua na torre retifi-
cadora tem duplo efeito, o de fornecer o calor
necessrio vaporizao dos contaminantes e
o de reduzir a presso parcial dos mesmos.
O gs residual formado queimado nos
fornos e a gua retificada utilizada no pro-
cesso de dessalgao, para lavagem do petr-
leo e da descartada para a ETEH.
O arraste de hidrocarbonetos representa o
maior problema para operao desta unidade,
pois ir aumentar a presso na retificadora, e
reduzir, conseqentemente, a eficincia de
esgotamento. Temperatura e a presso so vari-
veis importantes no processo de retificao.
A reduo na presso ou a elevao na tempe-
ratura aumentar a eficincia de remoo dos
contaminantes da carga.
1.8.5 Estao de Tratamento de Efluentes
Hdricos ETEH
Todas as correntes poludas, depois de
coletadas em sistemas caractersticos e sepa-
rados, so enviadas Estao de Tratamento
de Efluentes Hdricos, onde so submetidas
aos tratamentos finais necessrios remoo
dos poluentes, de modo a enquadr-las nos pa-
dres de qualidade definidos e pr-estabelecidos.
Os tratamentos so divididos em primrios,
secundrios e tercirios ou de polimento.
A equalizao dos efluentes tem como
objetivo minimizar ou controlar as variaes
de vazo e as concentraes dos poluentes, de
modo que se atinjam as condies timas para
os processos de tratamento subseqentes e haja
melhoras na eficincia dos tratamentos prim-
rios, secundrios e tercirios.
A equalizao geralmente obtida atra-
vs do armazenamento das guas residuais
num tanque de grandes dimenses, a partir do
qual o efluente bombeado para a linha de
tratamento.
Tratamentos Primrios
Sua finalidade remover, por meios pu-
ramente mecnicos, todas as substncias que
possam dificultar os tratamentos secundrios
e tercirios. As substncias mais importantes
aqui removidas so os leos, graxas e os sli-
dos. A primeira etapa neste tratamento a re-
moo de slidos grosseiros, atravs de gra-
deamento. Depois do gradeamento, a gua
enviada ao separador de gua e leo. Os sepa-
radores de gua e leo removem o leo livre e
os slidos em suspenso. No removem o leo
emulsionado. Essa remoo evita mais emul-
sionamento, uma vez que a gua dever sofrer
agitao durante seu processamento nos trata-
mentos secundrios.
Separadores de gua e leo
Os principais tipos so o API e o de Pla-
cas Paralelas. Os modelos mais antigos eram
do tipo API. Atualmente, empregado o tipo
placas, j que ele pode ser adaptado facilmen-
te a caixas de tipo API j existentes, atravs
de pequenas transformaes, que permitem o
aumento de sua capacidade.
Separadores tipo API
Seu princpio de funcionamento reside na
separao natural do leo por diferena de
densidades, ao se utilizar uma caixa com flu-
xo perfeitamente laminar. O leo, por ser mais
leve do que a gua, vai para a superfcie, en-
quanto que os slidos vo para o fundo por
serem mais densos. O processo contnuo e
lembra o empregado no clarificador conven-
cional. O leo coletado por um tubo flauta
28
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
(tubo ranhurado que trabalha no nvel do leo).
O separador de gua e leo , na verdade, um
separador de gua, leo e slidos. Os slidos
retirados so mais finos do que os removidos
no gradeamento. Um raspador montado so-
bre uma ponte rolante que passeia entre os
extremos do separador. Em um sentido, a ponte
raspa o leo da superfcie e, no outro, raspa os
slidos do fundo. O leo coletado num poo
e mandado para tratamento, j que econmi-
co seu aproveitamento. Os slidos so coleta-
dos numa caixa prpria nos extremos do
separador e dispostos, geralmente, em Landfar-
ming. Na entrada do separador, existe um ci-
lindro rotativo para retirada do leo que j est
sobrenadante. H uma faca, sempre em conta-
to com o cilindro, que raspa o leo deste para
o poo de leo. O cilindro feito de material
que possui a propriedade de reter facilmente,
porm retm pouqussima gua (20% gua,
80% de leo, aproximadamente).
O separador do tipo API mais barato,
menos eficiente, necessita de rea de instala-
o muito grande, apresenta necessidade de
vrios clulas para facilitar manuteno, sem
prejudicar o funcionamento de toda a unidade.
Separador de Placas Paralelas
O funcionamento diferente do tipo API.
Seu principal constituinte um recheio de pla-
cas planas ou corrugadas, colocadas e fixadas
em um canal formado por um septo existente
num tanque, onde a gua tambm escoa em
regime laminar. O leo, por possuir menor
densidade do que a gua, cola nas superfcies
dos canalculos e forma uma camada cada vez
mais grossa. Devido ao empuxo, sobe at a
superfcie livre do lquido em forma de gran-
des gotas. Com os slidos, ocorre justamente
o contrrio, isto , formam grandes camadas
nas superfcies inferiores dos canalculos, es-
corregam para baixo e depositam sobre o fun-
do do tanque. A coleta do leo tambm feita
por tubo flauta. O equipamento em si muito
mais simples que o API moderno, por no pos-
suir partes mveis. muito compacto e pos-
sui grande capacidade se comparado com o
tipo API.
A seguir, so citados algumas vantagens:
Este separador, mais eficiente, muito
embora tenha alto custo inicial, apresenta f-
cil manuteno de suas placas. Esta pode ser
feita externamente ao separador, o que afeta
pouqussimo seu funcionamento normal por
parar uma pequena parte do separador.
O tipo API, funcionando bem, proporcio-
na 40 ppm ou menos de leo na sada e mal
operado resulta em 150 ppm. No tipo placas,
admite-se 20 ppm ou menos quando funcio-
nando bem. Normalmente, precisa-se maior
segurana quanto ao teor de leo presente no
despejo. Essa segurana proporcionada pelo
uso de flotadores na cadeia de tratamento, aps
os separadores de gua e leo.
Flotadores
O princpio de funcionamento do flotador
reside na formao de bolhas de ar em torno
das partculas de leo, o que as torna muito
mais leves pois o ar, por ser muito mais leve
do que leo, ocupa um volume aprecivel e
favorece a flutuao da gota de leo. Desta
forma, possvel sua fcil separao. Os
flotadores so do tipo ar dissolvido ou do tipo
ar disperso.
O flotador a ar disperso difere do de ar
dissolvido apenas na maneira de se injetar ar,
j que este injetado atravs de borbulhado-
res de fundo que permitem bolhas de ar bas-
tante pequenas.
No flotador de ar dissolvido, h um dis-
positivo que injeta ar comprimido na gua
pressurizada entre 2 a 4 kg/cm
2
. Na massa de
gua, como a presso elevada, a solubilida-
de do ar aumenta. Em seguida, a mistura gua-
ar bruscamente expandida numa vlvula re-
dutora de presso, onde ocorre, ento, o fen-
meno inverso, ou seja, ao abaixar a presso,
reduz tambm a solubilidade do ar na gua.
Logo, o excesso de ar liberado em forma de
pequenas bolhas. As bolhas so muito peque-
nas e envolvem as menores gotculas de leo,
melhorando sua flutuabilidade. O leo sobe
superfcie, onde separado da gua pelo cole-
tor de leo. Com os slidos presentes na gua,
acontece fenmeno idntico ao descrito para
o leo, porm a separao dos slidos mais
deficiente porque estes tm tendncia forte
de descer para o fundo.
Antes da corrente a ser tratada entrar no
flotador, feita a adio de coagulantes, como
sulfato de alumnio, sulfato ferroso ou orgni-
cos. A coagulao (floculao de gua) possi-
bilita o aumento das gotas de leo por agluti-
nao. Tal procedimento melhora muito a efi-
cincia do processo. O leo e os slidos flota-
dos so encaminhados para uma centrfuga
para reduo de volume e dispostos, ento,
em Landfarming.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
29
Tratamento do leo Recuperado nos separadores
de gua e leo
Os tratamentos de leo recuperado nos
separadores de gua e leo so do tipo con-
vencional e constam, basicamente, de: aque-
cimento; injeo de diluentes; repouso e dre-
nagem.
O aquecimento reduz a viscosidade da fase
oleosa, enfraquece o filme interfacial e, em
decorrncia disso, ocorre a separao das fa-
ses leo e gua. A temperatura do tanque deve
ser controlada em 80C, para evitar a forma-
o de espuma.
Os diluentes usados so produtos leves de
baixa viscosidade (o querosene o mais usa-
do), cuja finalidade reduzir a viscosidade e a
densidade da fase oleosa e, conseqentemen-
te, aumentar a absoro dos agentes emulsifi-
cantes pelo leo, de modo a facilitar a separa-
o das fases leo/gua.
A agitao proporciona uma homogenei-
zao da mistura emulso/diluente, isto , fa-
vorece um bom contato destes produtos e, con-
seqentemente, uma boa eficincia no trata-
mento.
O repouso permite a separao final das
fases gua/leo, a fim de possibilitar a drena-
gem da gua.
O leo recuperado reprocessado nas
Unidades de Destilao.
1.8.6 Tratamentos Secundrios/Tercirios
A fase do tratamento secundrio e/ou ter-
cirio aquela em que os poluentes dissolvi-
dos e/ou especficos devem ser eliminados ou
reduzidos.
Tratamentos Biolgicos
O sistema baseia-se em dois princpios
biolgicos fundamentais: respirao e fotos-
sntese. O primeiro constitui o processo pelo
qual os organismos liberam, dos alimentos
ingeridos ou acumulados, as energias neces-
srias s suas atividades vitais. A fotossntese
o processo pelo qual, determinados organis-
mos conseguem sintetizar matria orgnica,
portanto acumular energia potencial, utilizan-
do a luz solar (ou artificial) como fonte de ener-
gia. A maior parte dos seres fotossintetizantes
desprende oxignio, no meio, como subpro-
duto de sua atividade.
Estabelece-se, assim, na natureza, na at-
mosfera, no interior de uma lagoa, uma esp-
cie de crculo vicioso, em que os organismos
fotossintetizantes sintetizam matria orgnica,
liberando oxignio no meio. Organismos he-
tertrofos alimentam-se da matria orgnica,
utilizam oxignio para sua oxidao, obtendo
a energia necessria e liberando, como sub-
produto desta atividade, gs carbnico neces-
srio fotossntese.
A respirao aerbica, isto , a que rea-
lizada em presena do oxignio, compreende
a seguinte reao geral:
C
6
H
2
O
6
+ CO
2
6 CO
2
+ 6 H
2
O + 673 kcal
Implica, pois, na transformao prvia da
matria orgnica em glicose, que ser, por sua
vez, queimada, com produo de calor til.
A retirada de hidrognio o principal fen-
meno a ocorrer em qualquer oxidao biol-
gica e, dentro desta concepo, a funo do
oxignio a de aceptor de hidrognio. Rea-
es semelhantes podem ser realizadas, bio-
logicamente , utilizando outras substncias
como aceptores de hidrognio. Neste caso, tra-
ta-se, ento, de respirao anaerbica, verifi-
cada somente em ambiente destitudo de oxi-
gnio. Nitratos podem constituir aceptores de
hidrognio, sofrendo reaes de reduo a
nitritos; sulfatos so reduzidos a sulfetos (com
a conseqente produo de odores de H
2
S); e
CO
2
pode ser reduzido a metano. Em presen-
a de oxignio, entretanto, esses processos de
respirao (tambm denominados fermenta-
o), caractersticos de certos tipo de bactrias,
no se verificam, pois o oxignio extrema-
mente txico aos chamados anaerbios obri-
gatrios. J os anaerbios facultativos do pre-
ferncia ao oxignio como aceptor, por ser o
tipo de oxidao mais completo, em que toda
a matria orgnica transformada em CO
2
,
com mximo aproveitamento de energia, isto
, mximo rendimento trmico.
A respirao um processo universal, pois
todos os seres vivos, vegetais ou animais, des-
pendem energia. A obteno de matria org-
nica realiza-se atravs da nutrio. Organis-
mos hetertrofos animais e tambm vege-
tais, como fungos e grande parte das bactrias
ingerem a matria orgnica encontrada no
meio, seja por predatismo, destruindo outros
seres vivos, seja por saprofitismo, alimentan-
do-se de produtos de decomposio de orga-
nismos mortos. Os seres auttrofos, vegetais
verdes e tambm muitas bactrias, pelo con-
trrio, sintetizam a matria orgnica, aprovei-
tando-se de energias dispersas, que passam a
acumular na forma de molculas de elevado
contedo de energia potencial.
30
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
A reao geral da sntese orgnica pode
ser expressa de maneira exatamente oposta
da respirao:
6 CO
2
+ 6 H
2
O + 673 kcal C
6
H
12
O
6
+ 6 O
2
A fonte de energia pode ser a luz, nos ve-
getais clorofilados, em que, ocorre a fotossn-
tese, ou pode ser uma reao de oxidao rea-
lizada paralelamente ao processo de sntese,
neste caso denominado-se de quimiossntese.
O fenmeno bsico de todo processo de
depurao biolgica a respirao. No caso
de tratamento anaerbio, trata-se de respira-
o anaerbia, com conseqente produo de
gases combustveis orgnicos, como subpro-
dutos. No tratamento aerbio, os subprodutos
so gua e gs carbnico.
A matria orgnica do despejo industrial
serve de alimento a bactrias aerbicas e anae-
rbicas. Se a carga lanada a um corpo manter
uma lagoa, por exemplo, no for muito eleva-
da, o grande nmero de bactrias que ser for-
mada, por rpida produo, ter suficiente
oxignio dissolvido para suportar sua respira-
o e, nesta situao lagoa encontra-se aerada.
Quando, entretanto a carga introduzida
muito grande em relao ao volume de oxig-
nio dissolvido, as necessidades respiratrias,
que so proporcionais ao consumo de matria
orgnica levam extino total do oxignio
do meio, e disto resulta o aparecimento de con-
dies anaerbicas.
A quantidade de oxignio em uma lagoa
no fixa e nem est sujeita apenas a ser redu-
zida. H uma compensao por difuso a par-
tir da atmosfera, atravs da superfcie lquida.
Mas esta extremamente lenta, de modo que,
embora a pelcula superficial, diretamente em
contato com o ar atmosfrico, esteja sempre
saturada de oxignio, as camadas subjacentes
permanecero pobres, a no ser que uma gran-
de turbulncia fragmente essa pelcula super-
ficial, levando suas partculas a regies mais
profundas. Em lagoas, a turbulncia despre-
zvel, no entanto pode ser aumentada pelo
emprego de aeradores.
A classificao mais usada, para as lagoas
de estabilizao, a que reconhece trs tipos
fundamentais: aerbias, anaerbias e faculta-
tivas. Estas ltimas, so lagoas em que se de-
senvolvem processos anaerbicos junto ao fun-
do e aerbios nas regies mais superficiais.
Processos Biolgicos Anaerbicos
So aqueles em que no existe interfern-
cia do oxignio da atmosfera, isto , no exis-
te interferncia de oxignio livre dissolvido.
A oxidao dos despejos feita atravs de
microrganismos que no utilizam o oxignio
atmosfrico, e sim o que existe no prprio com-
posto que vai degradar. comum o metabolis-
mo ser feito sem utilizar oxignio nenhum.
O mtodo anaerbico mais conhecido o
que se passa nas fossas spticas. Estas, consti-
tuem-se, simplesmente, de uma caixa fechada
onde o despejo introduzido e mantido por
grande tempo de residncia. H formao de
gases como metano (CH
4
), gs sulfdrico (H
2
S)
e fosfina (PH
3
), que devem ser ventados para
a atmosfera ou queimados. O mtodo no deve
ser usado como nico, uma vez que no con-
segue fazer a purificao completa do despe-
jo. A tendncia do mtodo anaerbico trans-
formar compostos qumicos de cadeia orgni-
ca complexa em compostos de cadeia menor.
No devem ser usados como processo princi-
pal em efluentes industriais como os de refi-
naria. Esses mtodos so s vezes usados como
fonte geradora de metano para ciclos trmicos
por motivos econmicos.
Processos Biolgicos Aerbicos
So os melhores e utilizam o oxignio li-
vre dissolvido, isto , o oxignio da atmosfera
contido no despejo. O oxignio introduzido
por meios naturais ou mecnicos, para ento
ser utilizado pelos microorganismos que le-
vam os compostos qumicos a CO
2
e H
2
O prin-
cipalmente. Dentre os mtodos aerbicos, al-
guns de importncia mais acentuada esto des-
critos a seguir:
Lagoas de Aerao Natural
Tambm conhecidas como lagoas de es-
tabilizao, so seguras, de operao bastante
simples, e pouco afetadas por variaes brus-
cas de carga. O tempo de residncia bastan-
te alto acima de 30 dias.
Sua fonte de oxignio pode ser o ar at-
mosfrico ou ainda a atividade dos organis-
mos aquticos clorofilados principalmente al-
gas, atravs da fotossntese.
Devem ser rasas 0,30 a 1,00 m para
que a luz e o oxignio atinjam a todos os seus
pontos. So bastante sensveis falta de luz,
no operando com o mesmo desempenho
noite e em locais de clima frio. So pouco
satisfatrias para despejos com alta carga
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
31
orgnica ou produtos demasiadamente txicos.
No so aplicadas como mtodo principal para
efluentes industriais.
Lagoas de Aerao Forada
Tambm conhecidas como lagoas aeradas,
so bacias dotadas de aeradores mecnicos tipo
cascata, superfcie, borbulhadores, etc. Atual-
mente, os equipamentos mais utilizados so
aeradores mecnicos de superfcie. Sua prin-
cipal fonte de oxignio o ar atmosfrico in-
troduzido por meios mecnicos. A atividade
de fotossntese no apresenta, portanto, impor-
tncia. So lagoas que pouco dependem de
fatores climticos, como ventos e luz, dentre
outros. Como os aeradores conseguem forar
o ar a profundidades bastante grandes e com
taxas bastante elevadas, essas lagoas tm tem-
po de residncia mais baixo e profundidades
maiores que as lagoas naturais 1 a 10 dias e
at 3 m. Uma das grandes desvantagens desse
processo o fato dele deixar sem reaproveita-
mento os microorganismos especializados pro-
duzidos no meio. Assim, existe sempre uma
renovao dos mesmos o que impede um me-
lhor desempenho. A remoo da Demanda
Bioqumica de Oxignio (DBO) nessas lagoas
de 3 a 8 vezes maior que a obtida em lagoas
de aerao natural por unidade de rea.
Este tipo de lagoa pode ser subdividido
em dois outros, como segue:
a) lagoas de mistura completa a po-
tncia de aerao tal que permite a
manuteno dos slidos em suspenso.
b) lagoas facultativas a potncia de
aerao tal que no consegue manter
os slidos em suspenso, acarreta, en-
to, na deposio de slidos no fundo
onde os mesmos sofrem decomposio
anaerbica, ou so removidos durante
limpeza da lagoa e dispostos em Lan-
dfarming.
Lodos Ativados
Basicamente, uma unidade de lodos
ativados utiliza em sua fase de oxidao bio-
lgica, os mesmos componentes de uma la-
goa de aerao forada, com a diferena fun-
damental de que o tanque de aerao opera com
uma concentrao maior de microorganismos.
Alm disto, os microorganismos a presentes
so mais especializados que aqueles encontra-
dos nas lagoas foradas, como resultado do
reciclo desses microorganismos do efluente
para a fase de aerao.
Devido a esta diferena o processo de lo-
dos ativados necessita de um nmero muito
maior de equipamentos do que nos processos
com lagoa. Como a concentrao de slidos
(microorganismos) no processo j elevada,
a aerao deve normalmente ser precedida de
um clarificao ou at mesmo de filtrao para
remover os slidos inertes. O processo de lo-
dos ativados modernamente o mais eficiente
para despejos industriais, sendo entretanto de
custo inicial e de operao elevados e bastan-
te complexos.
Assim como no processo de lagoas fora-
das, o processo de lodos ativados utiliza como
equipamentos de aerao, aeradores de super-
fcie, borbulhadores de fundo ou borbulhado-
res e agitadores.
O efluente hdrico, antes de ser introduzi-
do na tanque de aerao, misturado com o
lodo recirculado do processo e separado do
decantador secundrio.
Tanto as Lagoas aeradas, quanto as uni-
dades de Lodos Ativados so sistemas de
biomassa em suspenso.
Unidade de Biodiscos
A unidade de biodiscos composta, basi-
camente, de cilindros rotativos imersos 40%
nas piscinas, por onde passa o efluente a ser
tratado. um sistema de biomassa fixa. A
biomassa se desenvolve se fixando nos discos
do cilindro formando-se um biofilme. O acio-
namento feito por ar, que tambm utiliza-
do pelas bactrias para degradao da matria
orgnica e/ou da amnia.
No caso de remoo de matria orgnica,
para qualquer sistema de tratamento neces-
sria a adio de fosfato. No caso da nitrifica-
o em Unidade de Biodiscos, necessria
tambm a adio de bicarbonato de sdio para
manuteno da alcalinidade. As bactrias
nitrificantes utilizam o carbono inorgnico em
seu metabolismo. Em lagoas e Lodos Ativados,
importante a correo de pH, normalmente
realizada atravs da adio de cal, para manu-
teno da alcalinidade atravs da reteno do
CO
2
produzido pelas bactrias no processo de
respirao.
32
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
1.9 Resduos Slidos
1.9.1 Introduo
A disposio final de resduos slidos tem
se constitudo num dos mais difceis proble-
mas de preservao ambiental.
At meados da dcada de setenta, a gera-
o e o descarte dos resduos slidos mereciam
pouca ou nenhuma referncia na legislao
ambiental de quase todos os pases. No de
surpreender, portanto, a existncia generali-
zada de situaes de disposies irregulares
desses resduos em todo o mundo.
No Brasil, o primeiro regulamento legal
sobre o assunto foi a portaria do Ministrio
do Interior Minter 053 de 01/03/79.
A gerao de resduos industriais, apesar
das aparncias contrrias, no um fato alheio
ao universo cultural da sociedade em que ela
se d. A mentalidade que aceita conviver com
a gerao desenfreada de resduos, a mesma
que tolera a ineficincia e o desperdcio.
Por este motivo, o sucesso de qualquer
programa de gerenciamento de resduos, seja
em comunidades urbanas, seja em indstrias,
est intimamente ligado a um avano cultural
da populao envolvida. Por maiores que se-
jam os investimentos em instalaes e mqui-
nas, no haver chance de progresso sem
mudana de comportamento.
A existncia de estoque de resduos indus-
triais em situao irregular ou inadequada uma
realidade de mbito mundial. Esses estoques
so encontrados em praticamente todas as re-
gies onde existam ou existiram atividades in-
dustriais, anteriores dcada de setenta.
Eram disposies tidas como adequadas,
mas que hoje, em funo do avano da legis-
lao ambiental e da conscincia, transforma-
ram-se em problemas que requerem solues
a mdio prazo.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
33
Outra caracterstica universal a dificul-
dade de eliminao desses resduos. No mun-
do todo, as tecnologias disponveis so, em
geral, muito caras.
1.9.2 Resduos Slidos
De acordo com a norma NBR 10004, re-
sduos slidos apresentam-se em estado sli-
do e semi-slido. Resultam de atividades da
comunidade, de origem industrial, domstica,
hospitalar, comercial, agrcola, de servios e
varrio.
Ficam includos, nesta definio, os lodos
provenientes de sistemas de tratamento de
gua, aqueles gerados em equipamentos e ins-
talaes de controle de poluio, bem como
determinados lquidos cujas particularidades
tornam inviveis seu lanamento em rede p-
blica de esgotos/corpos d'gua, ou exijam para
isso solues tcnicas economicamente viveis
face melhor tecnologia disponvel no mer-
cado.
Conforme a norma NBR 10004, os res-
duos so agrupados em trs classes:
Resduos Classe I: Perigosos
Resduos Classe II: No Inertes
Resduos Classe III: Inertes
Resduos Classe I: so os resduos sli-
dos ou misturas de resduos que, em funo
de suas caractersticas de inflamabilidade, cor-
rosividade, reatividade e patogenicidade, po-
dem apresentar riscos sade pblica, provo-
cando ou contribuindo para um aumento de
mortalidade ou incidncia de doenas, e/ou
apresentar efeitos adversos ao meio ambiente,
quando manuseados ou dispostos de forma
inadequada. As listagens 1 e 2 (a seguir) da
referida norma, fornecem uma relao de res-
duos slidos industriais reconhecidamente pe-
rigosos.
Resduos Classe II: so os resduos sli-
dos ou misturas de resduos slidos que no
se enquadram na Classe I (perigosos) ou na
Classe III (inertes). Estes resduos podem ter
propriedades, tais como: biodegradabilidade
ou solubilidade em gua.
Resduos Classe III: quaisquer resduos
que, quando amostrados de forma representa-
tiva (NBR 10007) e submetidos a um contato
esttico ou dinmico com gua destilada ou
deionizada, temperatura ambiente, confor-
me teste de solubilizao (NBR10006), no ti-
verem nenhum de seus constituintes solubili-
zados a concentraes superiores aos padres
de potabilidade da gua, conforme listagem n 3
(a seguir), excetuando-se os padres de aspec-
to, cor, turbidez e sabor. Como exemplo des-
ses materiais podem ser citadas rochas, tijo-
los, vidros, certos plsticos e borrachas que no
so facilmente decompostos.
A correta caracterizao dos diferentes re-
sduos slidos no deve ser tomada como ta-
refa sempre fcil, simples, rpida e barata. A
heterogeneidade, muito freqente dos lotes e
inventrios acumulados, acarreta srias difi-
culdades ao trabalho de coleta de uma amos-
tra representativa.
O enquadramento de um resduo na Clas-
se I ou II, freqentemente, depende das con-
centraes presentes de uma substncia con-
forme NBR 10004.
1.9.3 Gerenciamento de resduos slidos
Nos anos oitenta, foi desencadeadas uma
infinidade de programas de reduo e elimi-
nao de resduos nas indstrias.
A coordenao das campanhas de redu-
o de resduos, normalmente, confiada a um
comit formado por altos gerentes, liderados
pelo superintendente e com a participao e
auditoria do pessoal da administrao central
da companhia.
O trabalho sempre comea pela identifi-
cao dos resduos gerados, caracterizao,
quantificao e localizao das fontes gerado-
ras. A seguir, vem a identificao das melho-
res oportunidades de reduo ou eliminao
das geraes, ordenadas segundo o critrio
custo x benefcio.
Finalmente, so estabelecidos os planos de
ao, com oramentos e cronogramas a serem
administrados pelos gerentes das instalaes
geradoras.
Alm das modificaes nos procedimen-
tos e adaptaes nas unidades industriais, uma
lista de alteraes de maior profundidade cria-
da como um banco de oportunidades a serem
analisadas, principalmente durante estudos de
ampliao ou introduo de novos processos.
Um programa semelhante, aplicado pela
British Petroleum sua refinaria de Belle
Chasse (LA) listou como altamente prioritri-
os os tpicos citados a seguir:
eliminar tancagem intermediria;
misturar em linha, no em tanque;
operar os tanques de cru, sempre com
os misturadores funcionando;
segregar os esgotos oleosos e no oleosos;
34
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
empregar captador flutuante (skimmer)
na entrada do separador API;
utilizar flotador por ar pressurizado
aps separador;
enviar leo recolhido nos sistemas de
resduos diretamente para as unidades
de processamento.
A fase mais intensa dos trabalhos tem
durao em geral, de um a dois anos. Neste pe-
rodo, desenvolve-se um grande esforo moti-
vacional, a fim de integrar ao programa todos
os gerentes, supervisores e executantes. Pas-
sado esse perodo, considerado de implanta-
o, os programas de reduo de resduos atin-
gem o status de atividade permanente, inte-
grados rotina da empresa.
A literatura tcnica especializada tem
apontado a tendncia mundial ao tratamento e
disposio final dos resduos, no prprio local
de gerao e em instalaes de propriedades
das empresas geradoras.
Grande parte de resduos slidos gerados
numa refinaria chega at ela sob a forma de s-
lidos dispersos no petrleo por ela processado.
Uma segunda parte tem origem no pr-
prio processo; so os catalisadores gastos e
reagentes exaustos, so as borras, emulses e
guas oleosas oriundas de condensadores, des-
salgadoras, lavagem de equipamentos, cole-
tas de amostras, drenagens de tanques, vaza-
mentos, etc.
Uma outra parte constituda pelos res-
duos que so incorporados ao inventrio de
resduos gerados no processo, por deficincia
de instalaes ou por procedimentos inadequa-
dos terras das ruas levadas pelas chuvas, ven-
to, rede de drenagem em mau estado, etc.
Por fim, tem-se as sucatas metlicas, li-
xos de paradas e as embalagens descartveis
(caixas de madeira, de papelo ou plsticas,
sacos de papel ou plstico, tambores de metal
ou plsticos).
A relao seguinte mostra o elenco dos
principais resduos gerados rotineiramente em
uma refinaria:
Classe I (perigosos listagem 1)
materiais com amianto;
cinzas de fornos e caldeiras;
refratrios usados;
dissulfeto lquido (subproduto);
borras oleosas;
l de rocha/vidro;
embalagens de produtos qumicos;
catalisador de HDT (hidrodessulfuriza-
o de tratamento).
Classe II (no inerte listagem 2)
catalisador de UFCC (unidade de cra-
queamento cataltico fluido);
isolantes trmicos sem amianto;
catalisador de HDT;
lixo orgnico do refeitrio;
lixo domstico no reciclvel;
lixo domstico reciclvel;
resduos vegetais de varrio e jardi-
nagem.
Classe III (inerte listagem 3)
resduos de construo civil;
sucata metlica.
1.9.4 Alternativas de Disposio
As descries a seguir so, na maioria, re-
ferentes s borras oleosas, devido a este res-
duo ser o de maior volume gerado anualmente
e, em conseqncia, ser o maior problema da
refinaria, em termos de disposio final.
Reaproveitamento
Faz-se reaproveitamento de um resduo,
quando aps passar por processo de separa-
o simples, como drenagem da gua arrasta-
da e sedimentao de detritos, incorporado a
algum estoque de produto acabado.
Neste caso, o resduo apenas passa pelo
circuito dos resduos oleosos, sem ser subme-
tido a qualquer processo ou tratamento alm
de repouso e drenagem de fundo. No fosse a
degradao do produto original para um outro
de menor valor agregado, que quase sempre
acontece, esse processo ocorreria, praticamen-
te, a custo zero.
Os resduos lanados na rede geral de es-
goto oleoso, ao serem recuperados no
Separador de gua e leo (SAO), via de re-
gra, no podem ser reaproveitados por apre-
sentarem elevado teor de gua e sedimentos,
indicativo da presena de emulso.
Sempre que for evitado o lanamento de
qualquer derivado na rede oleosa, sero au-
mentadas suas chances de ser reaproveitado.
Genericamente, so adequados ao reaprovei-
tamento, todas as correntes ou inventrios des-
viados de suas destinaes regulares, ou por
falha de especificao, seja por necessidade
de esvaziamento de dutos e vasos.
As principais caractersticas do resduo
que condicionam seu reaproveitamento so: o
ponto de fulgor e o BSW (Bottom Sediment
Water) .
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
35
Atualmente, luz das especificaes dos
derivados de petrleo, o principal (e pratica-
mente nico) meio de reaproveitamento de um
resduo sua incorporao ao leo combust-
vel. Nessa forma de reaproveitamento, o res-
duo desempenha o papel de diluente na redu-
o da viscosidade do leo combustvel.
O teor mximo de diluente empregado gira
em torno de 2% do volume total da mistura,
geralmente limitado pelo ponto de fulgor.
As drenagens de equipamentos para se-
rem entregues manuteno, assim como os
produtos desviados por estarem fora de espe-
cificao, muitas vezes, deixam de ser reapro-
veitados por inexistncia de interligaes ade-
quadas nas unidades de processo, que dispen-
sem o uso da rede de drenagem oleosa.
O aumento da taxa de reaproveitamento
de resduos, est intimamente relacionado com
o seu no lanamento na rede de esgoto
oleoso.O contato do resduo com a gua e os
slidos finamente divididos, sempre presen-
tes nessa rede, acarreta a emulsificao parcial
do mesmo.
Um programa de reaproveitamento deve
ser complementar ao programa de reduo de
gerao. Em primeiro lugar, deve-se trabalhar
pela no gerao. Idntico raciocnio deve pre-
valecer quanto ao aperfeioamento dos pro-
cedimentos de trabalho.
A primeira tarefa a introduo de proce-
dimentos que reduzam a gerao; novos pro-
cedimentos e investimentos para aumentar o
reaproveitamento devem ser analisados e de-
cididos numa segunda etapa.
Reprocessamento
Consiste, essencialmente, no retorno do
resduo ao processo produtivo, como matria-
prima. O reprocessamento sempre a alterna-
tiva a ser examinada, aps ser descartada a
possibilidade de reaproveitamento.
O reprocessamento de um resduo deve ser
fundamentado em critrios tcnicos e econ-
micos, uma vez que, alm dos custos, deve-se
considerar que o resduo reprocessado pode
estar deslocando do sistema produtivo igual
volume de carga mais nobre.
vista da grande variabilidade de com-
posio desses resduos, principalmente no que
se refere gua e sedimentos, da maior im-
portncia que a refinaria disponha de insta-
laes e procedimentos operacionais, que
possibilitem destinaes alternativas para os
mesmos.
A melhor forma de reprocessamento
aquela na qual o resduo retorna ao processo
produtivo logo em seguida sua gerao, na
prpria unidade em que se originou. Esta ope-
rao, denominada reprocessamento interno,
evita que a corrente desviada entre em contato
com gua e detritos, como ocorreria se atin-
gisse a rede de drenagem oleosa.
Alm dos resduos leves limpos, impr-
prios ao reaproveitamento para incorporao
ao leo combustvel (por apresentarem ponto
de fulgor muito baixo), so candidatos natu-
rais ao reprocessamento, os resduos e mulsi-
ficados, conhecidos genericamente como bor-
ras oleosas.
As principais fontes de borras oleosas de
uma refinaria so as dessalgadoras, drenagens
de tanques de petrleo e limpeza de equipa-
mentos.
O teor de BSW desses resduos, variando
de 20 a 60 %, j denota uma forte presena de
emulso. Outras caractersticas, associadas e
decorrentes dessas, so de mxima importn-
cia para o processamento desses resduos: teor
de cloretos e tendncia emulsificao.
O reprocessamento dessas borras seria
uma tarefa das mais simples, no fosse a pre-
sena nas mesmas de uma fase emulsificada,
bastante estvel. Embora deva haver forma-
o de emulso na rede de esgoto oleoso, a
principal fonte dessa emulso o petrleo.
A emulso resultante do encontro de
substncias geradoras naturais do prprio pe-
trleo, partculas slidas em suspenso e gua,
submetidos ao mecnica (agitao) nas di-
ferentes etapas do processo produtivo e meios
de transporte do petrleo at a refinaria.
As partculas finas, sob certas condies,
podem estabilizar emulses. Este fenmeno
particularmente importante no caso de emul-
ses de gua em leo, formadas durante os pro-
cessos especiais de recuperao do petrleo.
Envolvem contato direto de gua, leo e de
partculas finas provenientes da formao
(argilas, slica, precipitados formados in situ,
etc) que devem contribuir para a formao e
estabilizao de emulses.
Nas condies normais de produo de
petrleo, a tendncia mais forte a formao
de emulses de gua em leo. Para prevenir a
formao dessas emulses ou desestabilizar as
que venham a se formar, so adicionadas aos
petrleos substncias tensoativas.
As substncias tensoativas (solveis em
gua) promovem a formao de emulses de
36
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
leo em gua e, conseqentemente, sua pre-
sena na regio interfacial no favorece a es-
tabilizao de emulses do tipo gua em leo.
A afirmao acima levanta uma questo
importante at agora pouco conhecida nas re-
finarias:
os desemulsificantes qumicos, empre-
gados nas regies de produo de pe-
trleo para eliminar emulses de gua
em petrleo, favorecem a formao de
emulses de petrleo em gua, que ,
em termos de tratamento de resduos,
o maior problema das refinarias.
No interior da refinaria, nas vlvulas
misturadoras das dessalgadoras, nos conden-
sadores de topo e at nas torres retificadoras e
seus respectivos trocadores de calor, existem
contatos entre gua e petrleo ou fraes, em
condies favorveis formao de emulses.
No escoamento dos resduos lquidos, ao
longo das redes de drenagens, at o recolhi-
mento no SAO, a incorporao de slidos
finamente divididos terra, poeira, areia s
agrava a tendncia emulsificao.
Com tantos agentes favorveis sua for-
mao e estabilizao, no de surpreender
que, praticamente todas as refinarias da
Petrobras, convivam com problemas crnicos
relacionados eliminao dos seus inventrios
de borras oleosas.
A presena de uma fase emulsificada, com
forte tendncia a crescer aps seu lanamento
na rede de drenagem inquebrvel pelos pro-
cessos tradicionais disponveis na refinaria,
monta o cenrio conhecido como CICLO DA
BORRA. Este fenmeno consiste na circula-
o da borra, sob a forma de emulso, confor-
me a seguinte seqncia:
a borra emulsificada, recebida com o
petrleo de navio ou diretamente dos
campos produtores, drenada para o
esgoto oleoso no parque de armazena-
mento de cru da refinaria;
at chegar ao S.A.O, onde a emulso
recolhida, o resduo incorpora mais s-
lido e mais gua ao longo das canaletas;
aps aquecimento, repouso e algumas
drenagens, o resduo retorna ao tanque
de cru e da enviado para a unidade
de destilao;
na unidade de destilao, ao ser sub-
metido ao processo de dessalgao por
lavagem com gua, a emulso reincor-
pora a gua que havia perdido nos pe-
rodos de aquecimento e repouso nos
tanques de resduo;
como essa emulso no quebrada pela
ao do campo eltrico da dessalgado-
ra, s tem como alternativa ser nova-
mente drenada para a rede oleosa, jun-
tamente com a salmoura efluente, ar-
rastando mais leo para a rede de dre-
nagem;
na rede oleosa, a caminho do SAO, a
emulso entra em contacto com outros
agentes emulsificantes (sulfetos e mer-
captans oriundos de outras correntes)
e estabilizadores de emulso, tais como
poeira e argila;
devido ao dos novos emulsifican-
tes e estabilizantes de emulso, incor-
porados na rede de drenagem, a massa
de resduo oleoso que chega ao SAO e
a recolhida aos tanques, maior do
que o volume drenado dos tanques e
das dessalgadoras;
nos tanques de resduos, essa emulso
submetida a aquecimento e drenagem
da gua separada, sendo em seguida
enviado para os tanques de petrleo,
fechando assim o ciclo.
Mesmo aps a desemulsificao desse re-
sduo, seu reprocessamento numa unidade de
destilao atmosfrica ainda se apresenta pro-
blemtico, uma vez que suas caractersticas
favorveis emulsificao no foram total-
mente eliminadas:
retornando ao tanque de petrleo, ree-
mulsificar, incorporando a gua do
lastro;
reinjetado diretamente na unidade, an-
tes da dessalgadora, reemulsificar na
vlvula misturadora e sair incorpora-
do gua de lavagem da dessalgadora.
O melhor e mais econmico caminho para
eliminao das borras oleosas emulsificadas
passa, necessariamente, pela quebra da emul-
so, seja para a sua incorporao a um esto-
que de produto acabado, seja para o reproces-
samento do leo recuperado.
Decantao e centrifugao
Geralmente, os resduos recuperados no
SAO so enviados para os tanques de resdu-
os, onde so aquecidos e eventualmente dre-
nados. Aps perodo de aquecimento e decan-
tao, so realizadas transferncias para os tan-
ques de petrleo a fim de serem reprocessados.
Est comprovada a dificuldade em repro-
cessar estas borras, aps somente processo de
aquecimento e decantao. As bibliografias
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
37
consultadas recomendam ainda a execuo de
uma outra fase, como mais eficiente, a centri-
fugao.
A centrifugao, tanto aplicada aos ca-
sos em que h interesse na recuperao do leo,
como nas situaes em que a reduo do teor
de gua do resduo facilitar sua incinerao.
A carga, antes de chegar centrfuga,
aquecida e filtrada.
A carga processada na centrfuga gera trs
correntes diferentes:
leo limpo (recuperado), com BSW
menor que 1%, que pode ser reproces-
sado ou utilizado como leo de corte
de viscosidade de combustveis;
gua oleosa esta corrente gerada
pela gua contida na carga e parte da
gua de selagem;
borra oleosa uma corrente oriunda
da descarga pelos bicos da centrfuga,
composta basicamente de gua, slidos
e leo arrastado.
As correntes de gua oleosa e borras so
misturadas e enviadas para um tanque de de-
cantao.
Aps um tempo de decantao mdio de
6 horas, obtm-se trs correntes:
borra decantada: a borra separada no
tanque de decantao apresenta ainda
um teor elevado de gua e enviada para
Landfarming ou indstria cermica;
gua decantada: parte da gua re-
circulada para a centrfuga (como gua
de selagem) e o restante vai para o sis-
tema de drenagem.
leo decantado: o leo decantado
reconduzido ao tanque de carga, ou al-
ternativamente, ao tanque de resduo
limpo.
Reciclagem
Entende-se por reciclagem, o envio de um
resduo para reutilizao em outra indstria,
quer como matria-prima, quer como fonte de
energia ou, algumas vezes, at como carga inerte.
Do ponto de vista da reciclagem, os res-
duos slidos de refinarias subdividem-se em
trs grupos, em funo das respectivas desti-
naes citadas anteriormente.
No primeiro grupo, so colocados os se-
guintes materiais: papel, vidro, plstico, me-
tais. Alguns catalisadores podem ser reutili-
zados como fonte de micronutrientes na inds-
tria de fertilizantes ou para recuperao de
metais nobres.
O segundo grupo constitudo pela bor-
ras oleosas de baixa concentrao de leo, em
geral menos de 20%. Para estes, nem sempre
econmica a purificao para o reprocessa-
mento ou reaproveitamento, cabendo melhor
sua utilizao como energtico auxiliar.
O terceiro grupo formado por catalisa-
dor gasto de UFCC e outros possveis resduos
minerais, tais como refratrios e alguns iso-
lantes trmicos isentos de amianto. Algumas
alternativas de reciclagem desses resduos de-
vero estar condicionadas aos resultados dos
testes de solubilizao e lixiviao.
A disposio deste ltimo grupo de res-
duos, via indstria de cimento ou artefatos de
cimento, na condio de carga inerte, uma
boa alternativa. Neste caso, o processo de des-
carte leva em conta a quase total e definitiva
imobilizao do resduo, agregado ao cimento.
A reciclagem dos resduos slidos, de
qualquer um dos grupos anteirormente descri-
tos, por mais simples que seja, exige sempre
um mnimo de gerenciamento e instalaes de
apoio.
A identificao dos resduos reciclveis,
identificao dos locais e processos de origem,
quantificao e caracterizao dos mesmos so
aspectos de muita importncia. A segregao
dos resduos reciclveis e a organizao das
instalaes para acumulao temporria tam-
bm so vitais para o bom andamento do pro-
grama de reciclagem. A segregao deve ser
implantada no local da gerao, e isto consti-
tui um excelente recurso para a racionaliza-
o dos descartes. Geralmente, quando so
misturados dois ou mais resduos, basta que
apenas um deles seja perigoso, para que toda
a mistura resultante deva ser descartada como
resduo perigoso.
Indstrias Cermicas
A reciclagem de resduos, slidos via in-
dstrias cermicas, est limitada aos resduos
oleosos, cujos componentes minerais slidos
sejam de granulometria prxima da argila.
O descarte feito pela adio do resduo
argila. Durante a operao de cozimento das
peas cermicas, a parte orgnica queimada
e a parte mineral fica incorporada pea. A
composio dos resduos descartados deve ser
tal que no comprometa os padres de emis-
so atmosfrica da indstria e que seus produ-
tos (telhas, ladrilhos ou blocos) sejam aprova-
dos, quando submetidos a testes fsicos e qu-
micos.
38
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
O poder calorfico da frao oleosa entra
no balano energtico do processo, economi-
zando combustvel. Ao ser incorporado mas-
sa, o resduo oleoso reduz a viscosidade des-
ta, o que redunda em economia de energia el-
trica (cerca de 30 %) nos sistemas de extruso.
Indstria de Cimento
Por se tratar de uma indstria com con-
trole de qualidade da carga e do produto mais
rigoroso do que o praticado nas indstria ce-
rmicas, de se esperar que venha a oferecer
tambm maiores exigncias ao descarte dos
resduos.
Podem ser dispostos via indstria cimen-
teira, os seguintes resduos:
borras oleosas diversas;
catalisador de Unidades de Craquea-
mento Cataltico;
alguns catalisadores de hidrogenao
ou de outros processos como merox, etc.
Atualmente, tem sido utilizada para co-
processamento de borras oleosas e reciclagem
de catalisador gasto das Unidades de Craquea-
mento Cataltico.
Indstria de papel, plstico, vidro e metais
A reciclagem, atravs dessas indstrias,
em geral, dispensa maiores cuidados, alm da
simples segregao. Passa a merecer cuidados
especiais, apenas quando os resduos estive-
rem contaminados com substncias qumicas.
o caso mais freqente de embalagens do tipo
tambores, bombonas plsticas, garrafes, etc.
Nestes casos, o critrio de descarte passa a ser
ditado pelas caractersticas txicas dos conta-
minantes presentes no resduo. Via de regra,
esses resduos contaminados precisam passar
por um processo para eliminao da toxidez.
Incinerao
A incinerao um dos processos mais
abrangentes e de uso mais generalizado de eli-
minao de resduos, tanto slidos como l-
quidos. A popularidade desse processo, sinal
da sua versatilidade, pode ser avaliada pelo
fato de que, em 1983, j havia no mercado
americano 57 fabricantes de incineradores de
resduos perigosos.
A incinerao pode ser praticada com o
emprego de diferentes tipos de equipamento e
sob diferentes condies; desde a queima sim-
ples com controle apenas do excesso de ar, at
as incineraes de mltiplos estgios, com con-
trole das temperaturas e tempos de residncia
em cada estgio, lavagem e neutralizao dos
gases de combusto, etc. A classificao do
resduo determinante do tipo e complexida-
de da incinerao.
A disposio das cinzas geradas na inci-
nerao deve ser objeto de deciso criteriosa
luz das posturas legais relativas aos resduos
slidos. Em muitos casos, o que se consegue
incinerando um resduo a reduo do seu
impacto ambiental ou s vezes, apenas redu-
o da massa a ser descartada em seguida, sob
a forma de cinzas.
O emprego da incinerao em indstrias
de petrleo cada vez maior.
No existem caractersticas intrnsecas a
um determinado resduo que determine, de
maneira inflexvel, que o mesmo deva ser in-
cinerado. Caractersticas tais como teor de
gua e poder calorfico, em princpio, apenas
indicam o maior ou menor consumo de com-
bustvel auxiliar, que se traduz em custo.
Freqentemente, decidir entre incinerar ou
no um resduo, apenas uma questo de an-
lise econmica.
Em princpio, qualquer resduo com po-
der calorfico inferior (PCI) acima de 1.200
Kcal/kg pode ser incinerado, sem que seja ne-
cessria a queima de combustvel auxiliar.
Decidir-se pela incinerao de um resduo,
com PCI menor do que 1.200 Kcal/kg, muitas
vezes apenas uma questo de falta de folga no
Landfarming ou disponibilidade de outro res-
duo, de poder calorfico mais alto, que exera o
papel de combustvel auxiliar de baixo custo.
Os custos de incinerao de emulses,
borras e resduos slidos impregnados com
substncias orgnicas (oriundos de indstria
qumica, petroqumica e de petrleo), situam-
se na faixa de 40 a 100 dlares por tonelada.
Compostagem
Compostagem o processo de decompo-
sio biolgica da matria orgnica, que ocorre
quando so dispostos, em camadas alternadas,
restos vegetais e terra, com correo de pH e
adio de nutrientes.
A compostagem uma modalidade de bi-
odegradao de resduos slidos especfica
para restos vegetais e de alimentos. A com-
postagem gera um produto til e de valor co-
mercial e pode ser considerada tambm um
processo de reciclagem de resduo.
O composto ou solo humificado, resultan-
te da compostagem, tem larga utilizao tanto
na agricultura como na jardinagem, como ele-
mento enriquecedor de solo.
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
39
Biodegradao
A biodegradao de borras oleosas con-
siste na decomposio de matria orgnica pela
ao de microorganismos do solo, estimulada
por operaes de arao e gradeamento e com
adio de corretivos e nutrientes. Esse processo
internacionalmente conhecido pelo nome de
Landfarming.
Basicamente, consiste em se promover
uma mistura intima entre a borra e o solo, em
condies favorveis biodegradao.
Os microrganismos aerbicos contidos em
sua maioria na camada superior do solo (15 cm),
aps perodo de aclimatao, passam a consu-
mir os hidrocarbonetos presentes na borra,
transformando as cadeias carbnicas em com-
postos simples. Constituem estes compostos
mais simples, basicamente, CO
2
, gua, cidos
carboxlicos de cadeias carbnicas curtas, alm
de outros compostos que daro origem ao
hmus, resultando em melhor estrutura e
caracterstica orgnica para o solo.
A deciso de destinar biodegradao um
determinado resduo uma soluo de com-
promisso entre as suas caractersticas (teores
de leo, gua, sais dissolvidos, compostos inor-
gnicos, metais), quantidade de resduo a ser
biodegradada, disponibilidade de rea e custo
do terreno.
Mesmo sendo um processo de destruio
de resduos oleosos, por meio de microorga-
nismos, no se deve tomar a biodegradao
como um processo espontneo, de custo irri-
srio e aplicvel a qualquer caso.
A implantao de um Landfarming deve
levar em conta a impermeabilidade do terre-
no, como meio de proteo do lenol fretico
em relao lixiviao de fraes oleosas e
ons de metais pesados. Normalmente, essa
impermeabilizao, se no existir naturalmen-
te, deve ser obtida por meio de camada de ar-
gila compactada.
Apesar desses cuidados o Landfarming
deve dispor de poos piezomtricos para a
monitorizao da qualidade da gua do lenol
fretico.
Iguais cuidados devem cercar a drenagem
de superfcie; que deve ser conduzida ao sis-
tema de guas contaminadas para tratamento
apropriado.
Devido aos riscos de contaminao, tanto do
lenol fretico, quanto das guas superficiais, so
muitas e rigorosas as exigncias legais, tanto
no Brasil como no exterior em relao ao Lan-
dfarming.
Em princpio, qualquer resduo oleoso
pode ser destinado disposio em um Lan-
dfarming. Na prtica, no entanto, existem cri-
trios de gerenciamento conforme abaixo:
quanto maior o teor de leo do resduo,
maior a rea requerida para o seu lan-
amento;
a presena de cloretos no resduo, aci-
ma de 3.000 ppm no solo, reduz a ca-
pacidade de biodegradao do solo;
o tempo de degradao da borra oleosa
diretamente proporcional ao seu teor
de leo;
os custos de nutrientes, corretivos e
operaes agrcolas so diretamente
proporcionais tambm carga de leo
aplicada.
Existem teores timos de leo e cloretos
nos resduos a serem destinados a biodegra-
dao. A taxa de aplicao mdia de 0,046
m
3
de leo/m
2
; com aragem semanal, adio
de nutrientes (fsforo e nitrognio) e correti-
vo de pH eventual.
O perodo de degradao mdio para bor-
ras oleosas oriundas da Estao de Tratamen-
to de Despejos Industriais (ETDI), de limpeza
de tanques (exceto leo combustvel, que no
aplicvel) de oito meses. O teor mdio de
leo de 20% (Fonte: REGAP).
40
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Aterro Industrial (Resduos Perigosos)
Em linhas gerais, um aterro para resduos
perigosos pode ser descrito como uma moda-
lidade de disposio, que consiste na conten-
o dos resduos em clulas, impermeabiliza-
dos por meio de mantas plsticas contnuas,
com monitorizao das camadas de solo
circundantes e do lenol fretico da regio.
Aps a clula estar preenchida , ento,
recoberta com terra na qual se recomenda plan-
tao de grama como medida de reteno do
solo.
A aplicao desse tipo de disposio de
exigncia restrita aos resduos da Classe I.
uma alternativa de destinao final de
resduos industriais, utiliza tcnicas que per-
mitem a disposio de resduos no solo, sem
causar danos ou riscos sade pblica e mini-
mizando os impactos negativos.
Os aterros apresentam-se como forma de
destinao mais barata e de tecnologia mais
conhecida. Entretanto, cabe ressaltar que es-
tes aterros no servem para disposio de to-
dos os tipos de resduos.
O aterro industrial, geralmente, destina-
do para resduos classe I (perigosos), mas pode
tambm ser aplicado para resduos classe II
(no-inertes). So passveis de disposio,
resduos cujos poluentes contidos podem so-
frer alguma forma de atenuao no solo, seja
por processos de degradao, seja por proces-
sos de reteno (filtrao, adsoro, troca i-
nica, etc.).
Na implantao de um aterro industrial,
devem ser consideradas algumas medidas de
proteo ambiental, de forma a evitar impac-
tos ao meio ambiente, tais como:
localizao adequada;
elaborao de projeto criterioso;
implantao de infra-estrutura de apoio;
implantao de obras de controle de po-
luio e
adoo de regras operacionais espec-
ficas.
Na maioria dos aterros industriais (para
resduos perigosos classe I), no Brasil, pre-
domina o conceito de impermeabilizao to-
tal, com a adoo de uma membrana sinttica
de PEAD na base do aterro para impedir a con-
taminao do lenol fretico.
Aterro Sanitrio
O aterro sanitrio uma modalidade de
disposio de resduos slidos no solo, median-
te a observao de alguns critrios construti-
vos e operacionais. A disposio pura e sim-
ples, em terreno no preparado e sem cuida-
dos operacionais, caracteriza o que se costu-
ma chamar por lixo.
A construo de um aterro sanitrio deve
contemplar medidas de controle da prolifera-
o de vetores (moscas, baratas, ratos, etc.),
proteo e monitoramento do lenol fretico,
recolhimento e tratamento do chorume (lqui-
do gerado pelo processo de decomposio da
matria orgnica) e disperso segura dos ga-
ses (basicamente metano), tambm oriundos
da decomposio da mesma.
1.10 Atuao do Operador
O operador de uma refinaria de petrleo
deve ter sempre em mente os trs pilares que
sustentam a poltica ambiental.
So eles:
atendimento Legislao Ambiental;
preveno da poluio;
melhoria Contnua.
Para atender a estes itens, so necessrias
as seguintes prticas:
conhecer e cumprir os procedimentos
operacionais relativos s suas atividades;
conhecer os aspectos ambientais e im-
pactos decorrentes de suas atividades;
levantar os aspectos e impactos ambien-
tais e realizar anlise preliminar de ris-
co para atividades/tarefas no rotineiras;
conhecer e praticar as medidas de con-
trole para evitar ou minimizar os im-
pactos ambientais relativos s suas ati-
vidades;
minimizar a gerao de resduos, sejam
eles atmosfricos, hdricos ou slidos;
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
41
comunicar superviso as anormalida-
des verificadas durante a realizao de
suas atividades;
acompanhar os dados de monitoramen-
to dos aspectos ambientais referentes
s suas atividades ou sobre os quais
tenham influncia;
corrigir os desvios apresentados pelos
resultados obtidos no monitoramento
ambiental;
segregar resduos slidos industriais;
participar efetivamente da coleta sele-
tiva de lixo.
Exerccios
13. Qual a definio de Aspecto Ambiental?
14. Cite exemplos de aspectos e impactos que
podem ser objetos de planejamento anual de
uma empresa.
15. Quais os trs grupos bsicos de informa-
o para treinamentos em questes ambientais?
16. Em que formas podem ocorrer as susbtan-
cias que contaminam o ar?
17. Quais as fontes de emisso mais impor-
tantes que originam contaminao do ar?
18. Que reaes qumicas podem originar os
contaminantes secundrios do ar?
19. Que fatores contribuem para a formao
de compostos secundrios?
20. Em que escalas ocorrem os fenmenos
metereolgicos?
21. Quais os efeitos de contaminao do ar?
22. Por quais mecanismos a poluio do ar
pode afetar o corpo humano?
23. Quais alguns efeitos que determinados
contaminantes de gua de refinaria podem oca-
sionar
24. Quais as finalidade dos tratamentos prim-
rios, secundrios e tercirios?
25. Quais as formas de tratamento do leo re-
cuperado nos Separadores de gua e leo?
26. Por que se adiciona coagulantes antes dos
tratamentos em flotadores?
27. Quais as vantagens das lagoas de aerao
forada em relao as de aerao natural?
28. Quais os sistemas que utilizam biomassa
em suspenso e biomassa fixa?
29. Que so resduos slidos de acordo com
NBR 10004?
30. Onde podem estar ou ser gerados os dife-
rentes resduos slidos de uma refinaria?
01. Quais podem ser as conseqncias de avan-
os tecnolgicos sem a preocupao ecolgica?
02. Quais so os grandes problemas ambien-
tais que precisam hoje, serem revertidos ou
contidos?
03. Quais os tipos de poluio que perturbam
ou modificam os quatro ambientes?
04. Como a produo de energia por combus-
to pode ocasionar introduo de agentes qu-
micos no ambiente.
05. Quais as formas de perturbaes que usi-
nas geradoras de eletricidade termeltricas
e nucleares podem ocasionar aos ambientes
aquticos?
06. Quais os efeitos das radiaes nos orga-
nismos vivos?
07. A ao perturbadora do som depende de
quais caractersticas?
08. Quais os problemas de lanamento de es-
gotos domsticos sem tratamento nos corpos
de gua?
09. Qual o objetivo da Poltica Nacional do Meio
Ambiente, que existe desde 1981 no Brasil.
10. A que se relaciona o Monitoramento Am-
biental?
11. O que Gesto Ambiental?
12. Que principios podem ser levados em con-
ta, para prevenir a poluio dentre de uma em-
presa.
42
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
31. O que pode ocorre ao leo combustvel
quando nele for adicionado resduos acima de
2% do volume total da mistura?
32. Onde pode ser aplicado a centrifugao?
33. Que aspectos devem ser considerados para
se efetuar Reciclagem de resduos slidos?
34. Como a Incinerao pode ser usada para
eliminar resduos slidos?
35. O que Compostagem?
36. Em que consiste a Biodegradao?
37. Quais os aspectos a serem observados para
a construo de aterros industriais para resi-
duos perigosos?
38. Como deve ser construdo um aterro sani-
trio?
39. O que cadastramento dos resduos slidos?
40. Que aspectos deve contemplar a atuao
do operador de refinaria de petrleo?
Anotaes
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
43
44
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
45
46
Aspectos Ambientais de uma Refinaria e Respectivas Formas de Controle
Principios ticos da Petrobras
A honestidade, a dignidade, o respeito, a lealdade, o
decoro, o zelo, a eficcia e a conscincia dos princpios
ticos so os valores maiores que orientam a relao da
Petrobras com seus empregados, clientes, concorrentes,
parceiros, fornecedores, acionistas, Governo e demais
segmentos da sociedade.
A atuao da Companhia busca atingir nveis crescentes
de competitividade e lucratividade, sem descuidar da
busca do bem comum, que traduzido pela valorizao
de seus empregados enquanto seres humanos, pelo
respeito ao meio ambiente, pela observncia s normas
de segurana e por sua contribuio ao desenvolvimento
nacional.
As informaes veiculadas interna ou externamente pela
Companhia devem ser verdadeiras, visando a uma
relao de respeito e transparncia com seus
empregados e a sociedade.
A Petrobras considera que a vida particular dos
empregados um assunto pessoal, desde que as
atividades deles no prejudiquem a imagem ou os
interesses da Companhia.
Na Petrobras, as decises so pautadas no resultado do
julgamento, considerando a justia, legalidade,
competncia e honestidade.
Você também pode gostar
- O Ciclo Total de Vida das Instalações em Atmosferas Explosivas: The total life cycle of installations in explosive atmospheresNo EverandO Ciclo Total de Vida das Instalações em Atmosferas Explosivas: The total life cycle of installations in explosive atmospheresNota: 3 de 5 estrelas3/5 (2)
- Apresentação Selos Mecânicos - PETROBRASDocumento188 páginasApresentação Selos Mecânicos - PETROBRASWadson Leite Barbosa100% (6)
- Boas Praticas para PadariaDocumento53 páginasBoas Praticas para PadariaEdson Neves100% (2)
- Mecânico de RefrigeraçãoDocumento118 páginasMecânico de RefrigeraçãoTonny Hercules Nascimento100% (7)
- Manual de Saude AmbientalDocumento134 páginasManual de Saude AmbientalGonçalves Paulo100% (4)
- Trabalho Tratamento Da ÁguaDocumento35 páginasTrabalho Tratamento Da Águamiguelgxavier4564Ainda não há avaliações
- Eletricidade Básica - PETROBRASDocumento49 páginasEletricidade Básica - PETROBRASviniciusromero83% (6)
- No - Es de Corros - o e Incrusta - oDocumento138 páginasNo - Es de Corros - o e Incrusta - oAna Cristina Jorck100% (4)
- AS0029 - Apostila Nocoes de Marinharia PDFDocumento230 páginasAS0029 - Apostila Nocoes de Marinharia PDFandersonpauser100% (4)
- Hematologia PDFDocumento138 páginasHematologia PDFAlexandre XavierAinda não há avaliações
- Modelagem Dos Sistemas EstruturaisDocumento42 páginasModelagem Dos Sistemas EstruturaisAndré Luís100% (1)
- Robert e Howard - As Encarnações de James AllisonDocumento50 páginasRobert e Howard - As Encarnações de James Allisontp_rj100% (1)
- Quimica Aplicada - PETROBRASDocumento104 páginasQuimica Aplicada - PETROBRASMateus Guimarães100% (1)
- Apostila Petrobras - Higiene IndustrialDocumento38 páginasApostila Petrobras - Higiene Industrialalmeida7371100% (2)
- Apostilas Petrobras - Seguranca IndustrialDocumento70 páginasApostilas Petrobras - Seguranca IndustrialRossini terraAinda não há avaliações
- Apostilas Petrobras - Sistemas Térmicos e de Ar ComprimidoDocumento48 páginasApostilas Petrobras - Sistemas Térmicos e de Ar ComprimidoHelbran Batista BrandaoAinda não há avaliações
- Equipamentos Dinamicos Parte 1 PDFDocumento22 páginasEquipamentos Dinamicos Parte 1 PDFIsaacAinda não há avaliações
- Instrumentacao BasicaDocumento98 páginasInstrumentacao BasicaEduardo BandeiraAinda não há avaliações
- 1645 AS053 Nocoes de Valvulas Tubulacoes Industriais e Acessorios PDFDocumento214 páginas1645 AS053 Nocoes de Valvulas Tubulacoes Industriais e Acessorios PDFCor Jesus Ferreira Costa100% (5)
- Operacoes Unitarias - PETROBRASDocumento50 páginasOperacoes Unitarias - PETROBRASbiiihhhhh100% (4)
- Inspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoNo EverandInspeção de integridade de dutos: análise de sistema de medição do PIG PalitoAinda não há avaliações
- O Regime de Informação: Um Olhar sobre o Marco Regulatório da Indústria de Petróleo e Gás Natural no BrasilNo EverandO Regime de Informação: Um Olhar sobre o Marco Regulatório da Indústria de Petróleo e Gás Natural no BrasilNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Projeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMENo EverandProjeto mecânico de vasos de pressão: princípios, fundamentos e filosofia do ASMEAinda não há avaliações
- A Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolNo EverandA Utilização De Material Lignocelulósico Na Produção De BioetanolAinda não há avaliações
- Processos Industriais: Unidade de Extração SupercríticaNo EverandProcessos Industriais: Unidade de Extração SupercríticaNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- Operações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosNo EverandOperações unitárias em sistemas particulados e fluidomecânicos e outros trabalhosAinda não há avaliações
- Aspectos Ambientais e Respectivas Formas de ControleDocumento46 páginasAspectos Ambientais e Respectivas Formas de ControleAilton Soares da SilvaAinda não há avaliações
- TCC Camila AcvDocumento62 páginasTCC Camila AcvCamila MarçalAinda não há avaliações
- Metodologias de Caracterizaco Identificaco e Pre Actuaco em Areas para Restauro Fluvial Algarve PT PDocumento38 páginasMetodologias de Caracterizaco Identificaco e Pre Actuaco em Areas para Restauro Fluvial Algarve PT PCarla Sofia GomesAinda não há avaliações
- Tecnologia Dos Materiais 1Documento124 páginasTecnologia Dos Materiais 1Sérgio MachadoAinda não há avaliações
- Sistemas de Gestão AmbientalDocumento80 páginasSistemas de Gestão Ambientallleida00Ainda não há avaliações
- Trabalho de Legislação. 28.11.19Documento9 páginasTrabalho de Legislação. 28.11.19Juliana NascimentoAinda não há avaliações
- Estudo de Impacto AmbientalDocumento36 páginasEstudo de Impacto AmbientalJose casimiro BombeneAinda não há avaliações
- 2015 - Manual Restauração Ecológica BADocumento59 páginas2015 - Manual Restauração Ecológica BAcarolcarol111Ainda não há avaliações
- Mod 4 Gestão Ambiental PDFDocumento80 páginasMod 4 Gestão Ambiental PDFJosué Costa De MoraesAinda não há avaliações
- Introdução À Gestão AmbientalDocumento92 páginasIntrodução À Gestão AmbientalWillian De PaulaAinda não há avaliações
- Texto Roteiro Didático Prof. PatríciaDocumento18 páginasTexto Roteiro Didático Prof. PatríciaRodolpho DutraAinda não há avaliações
- Rima Nova OlindaDocumento58 páginasRima Nova OlindaClaudio SilvaAinda não há avaliações
- Gestão Ambiental 1Documento42 páginasGestão Ambiental 1Douglas RibeiroAinda não há avaliações
- PM Apa Da Lagoa Verde CompressedDocumento391 páginasPM Apa Da Lagoa Verde CompressedQuímea l Renan de MattosAinda não há avaliações
- APSOTILADocumento64 páginasAPSOTILAAPORTESUL EMPRESARIALAinda não há avaliações
- Residuos SolidosDocumento142 páginasResiduos SolidosJosé Nilson VieiraAinda não há avaliações
- Plano de Gerenciamento de Residuos Do Ifmt LRVDocumento21 páginasPlano de Gerenciamento de Residuos Do Ifmt LRVmarley oliveira de souzaAinda não há avaliações
- MONOGRAFIA GestãoHospitalarAmbienteDocumento54 páginasMONOGRAFIA GestãoHospitalarAmbienteFernando CaetanoAinda não há avaliações
- Biossegurança e Boas Práticas Laboratoriais em Saúde - ATUALIZADADocumento37 páginasBiossegurança e Boas Práticas Laboratoriais em Saúde - ATUALIZADAbiobach2011.1Ainda não há avaliações
- NucleacaoDocumento66 páginasNucleacaoJhen ScalcoAinda não há avaliações
- A Industria de Carnes e o Meio AmbienteDocumento11 páginasA Industria de Carnes e o Meio AmbienteAna Rita RibeiroAinda não há avaliações
- Relatorio de campo da pesquisa feita na Funda.docx finalDocumento23 páginasRelatorio de campo da pesquisa feita na Funda.docx finalManuel AndréAinda não há avaliações
- Desenvolvimento SustentávelDocumento70 páginasDesenvolvimento SustentávelViviane PomboAinda não há avaliações
- Carina Bardini CadorinDocumento72 páginasCarina Bardini CadorinEduardo GerhardtAinda não há avaliações
- Gestão AmbientalDocumento190 páginasGestão AmbientalAlysson LimaAinda não há avaliações
- Coleta Seletiva e Triagem de Materiais RecicláveisDocumento92 páginasColeta Seletiva e Triagem de Materiais RecicláveisElisabete AmendoeiraAinda não há avaliações
- Apostila Química AmbientalDocumento57 páginasApostila Química AmbientalNadja LimaAinda não há avaliações
- Apostila - Módulo IIDocumento153 páginasApostila - Módulo IIAdriana LouroAinda não há avaliações
- Implementação de SGA em Ind de Embalagens Plasticas PDFDocumento188 páginasImplementação de SGA em Ind de Embalagens Plasticas PDFLuis AlvesAinda não há avaliações
- Apostila - Módulo III PDFDocumento61 páginasApostila - Módulo III PDFAdriana LouroAinda não há avaliações
- Ciências Do AmbienteDocumento97 páginasCiências Do AmbienteBruna SilveiraAinda não há avaliações
- 84 - Apostila Curso Operadores de ETEDocumento38 páginas84 - Apostila Curso Operadores de ETEmarcoavAinda não há avaliações
- Introdução Às Ciências AmbientaisDocumento76 páginasIntrodução Às Ciências AmbientaisMARCELOAinda não há avaliações
- Agua-Final-Final FinalDocumento27 páginasAgua-Final-Final FinalVictor Fernando victorinoAinda não há avaliações
- Unesp - Valoração Ambiental Sintese Dos Principais MétodosDocumento59 páginasUnesp - Valoração Ambiental Sintese Dos Principais MétodosPadu AragonAinda não há avaliações
- Apostila 0Documento62 páginasApostila 0Lopa LopaAinda não há avaliações
- GA 2024, LaboralDocumento25 páginasGA 2024, Laborallouren maurinAinda não há avaliações
- 3 - SÃO BERNARDO DE CLARAVAL Estudo FilosoficoDocumento9 páginas3 - SÃO BERNARDO DE CLARAVAL Estudo Filosoficolbc-602Ainda não há avaliações
- Granulometria Dos Solos (Conjunta) - NBR 7181Documento1 páginaGranulometria Dos Solos (Conjunta) - NBR 7181Israel OliveiraAinda não há avaliações
- Lista 1Documento2 páginasLista 1Rebeca GarcesAinda não há avaliações
- Apostila 1Documento27 páginasApostila 1MarcioAinda não há avaliações
- Portugues 8 ADocumento3 páginasPortugues 8 ALidiana Martins de OliveiraAinda não há avaliações
- O Teatro Simbolista de MaeterlinckDocumento12 páginasO Teatro Simbolista de MaeterlinckCíntia SayuriAinda não há avaliações
- BIZEQUEDocumento6 páginasBIZEQUELisandro Bernardino BandeAinda não há avaliações
- TCC - Eric Felipe Gomes RezendeDocumento75 páginasTCC - Eric Felipe Gomes RezendeEric Rezende100% (1)
- Tecnologia Da Soldagem PDFDocumento131 páginasTecnologia Da Soldagem PDFAntonioMoraesAinda não há avaliações
- Exercicios PROPRIEDADES FISICASDocumento10 páginasExercicios PROPRIEDADES FISICASmaykawamotoAinda não há avaliações
- Aula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04Documento68 páginasAula 68 - Raciocinio L - Ógico - Aula 04 - Parte 04marquinhocadAinda não há avaliações
- Install EfieDocumento2 páginasInstall EfieRonaldo Lourenço FerreiraAinda não há avaliações
- Spm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoDocumento4 páginasSpm@Testes: Matriz de Referência 12.º AnoNocasAinda não há avaliações
- O Rei e Eu - Nichollas MarianoDocumento76 páginasO Rei e Eu - Nichollas MarianoAgatha123Ainda não há avaliações
- CronomanteDocumento5 páginasCronomanteThiago Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- Princípio Do Não Retrocesso Ambiental - Parque Estadual Da Serra Do Tabuleiro SCDocumento13 páginasPrincípio Do Não Retrocesso Ambiental - Parque Estadual Da Serra Do Tabuleiro SCbrunagavazzaAinda não há avaliações
- 1 Apostila de Tai Chi Chuan Estilo YangDocumento7 páginas1 Apostila de Tai Chi Chuan Estilo YangEduardo Silva Francisco67% (3)
- Ext 012 - Bancada - Anti - A, B, O, RH - FispqDocumento2 páginasExt 012 - Bancada - Anti - A, B, O, RH - FispqLapav QualidadeAinda não há avaliações
- Pomian ColecaoDocumento37 páginasPomian ColecaoDaniella Costa100% (1)
- A Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaDocumento155 páginasA Questão Social: O Anarquismo em Face Da CiênciaRafael Morato ZanattoAinda não há avaliações
- MapaastralDocumento9 páginasMapaastraljorge juniorAinda não há avaliações
- 12185-Texto Do Artigo-44360-1-10-20191014Documento5 páginas12185-Texto Do Artigo-44360-1-10-20191014Danilo GomesAinda não há avaliações
- Peeling Aula 2 (Continua Do Slide 35)Documento143 páginasPeeling Aula 2 (Continua Do Slide 35)Jackeline Alves100% (4)
- Locução Adjetiva - Toda MatériaDocumento3 páginasLocução Adjetiva - Toda MatériaT. RibeiroAinda não há avaliações
- SACRAMENTOSDocumento12 páginasSACRAMENTOSDouglas TorolhoAinda não há avaliações