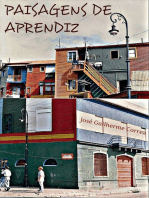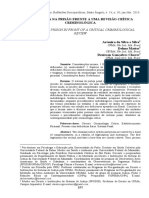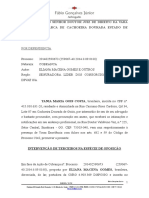Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Capacidade de Dizer Não - Lina Bo Bardi e A Fabrica Da Pompéia
A Capacidade de Dizer Não - Lina Bo Bardi e A Fabrica Da Pompéia
Enviado por
Liana Perez de Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
41 visualizações211 páginasTítulo original
A Capacidade de Dizer Não_ Lina Bo Bardi e a Fabrica Da Pompéia
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
41 visualizações211 páginasA Capacidade de Dizer Não - Lina Bo Bardi e A Fabrica Da Pompéia
A Capacidade de Dizer Não - Lina Bo Bardi e A Fabrica Da Pompéia
Enviado por
Liana Perez de OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 211
1
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
LIANA PAULA PEREZ DE OLIVEIRA
A CAPACIDADE DE DIZER NO:
LINA BO BARDI E A FBRICA DA POMPIA
So Paulo
2007
2
LIANA PAULA PEREZ DE OLIVEIRA
A CAPACIDADE DE DIZER NO:
LINA BO BARDI E A FBRICA DA POMPIA
Dissertao apresentada
Universidade Presbiteriana
Mackenzie, como requisito parcial
para a obteno do ttulo de
Mestre em Arquitetura e
Urbanismo
Orientador: Prof. Dr. Abilio da
Silva Guerra Neto
So Paulo
2007
3
O48c Oliveira, Liana Paula Perez de
A capacidade de dizer no - Lina Bo Bardi e a fbrica
da Pompia / Liana Paula Perez de Oliveira 2007.
200 p.: il. ; 30 cm
Dissertao (Mestrado em arquitetura e urbanismo) - Ps-
Ps-Graduao da Universidade Presbiteriana Mackenzie,
So Paulo, 2007.
Referncias bibliogrficas : p. 118-123.
1. Arquitetura. 2. Memria. 3. Coletividade. I. Ttulo.
CDD 720.92
4
Aos meus pais e irmos, pela dedicao e apoio.
5
AGRADECIMENTO
Agradeo aos que de alguma forma estiveram presentes e contriburam para
a realizao desta dissertao, ciente de que seria impossvel mencionar ou me
recordar aqui de todos que participaram desta obra: aos meus pais pelo apoio e
confiana, aos meus irmos sempre dispostos a ajudar, aos meus amigos por se
fazerem presentes em momentos especiais.
Ao meu orientador Ablio Guerra e todos os pesquisadores que se envolveram
com o trabalho de alguma forma: Cristina Ortega, Ana Paula de Oliveira Lepori, Ana
Carolina Bierrenbach, Anat Falbel, Zeuler Lima, Olvia de Oliveira, Eduardo Rossetti,
Renato Anelli.
Ao Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, pela oportunidade de estudo e crescimento
oferecida, em especial Graziella Bo Valentinetti, Daniela Paula Rodrigues de
Arajo, Luiz e Rafael Carvalho, Yannick Bourguignon, Sandra Moraes, Tatiana
Russo e Margot Crescenti.
queles que se dispuseram a ceder um pouco de seu tempo , memria e
conhecimento em entrevistas, to preciosas para o trabalho: Andr Vainer, Marcelo
Ferraz, Cilene Canoas, Hans Gnter Flieg, Tadeu jungle, Rubens Gerchman, Julio
Neves.
6
Se o problema fundamentalmente poltico econmico,
a tarefa do atuante no campo do desenho , apesar de
tudo, fundamental. aquilo que Brecht chamava a
capacidade de dizer no (Lina Bo Bardi)
7
SUMRIO
RESUMO
ABSTRACT
LISTA DE FIGURAS
INTRODUO............1
CAPTULO 1 UM EDIFCIO ABANDONADO ESPERA DE UM
ARQUITETO.......................................................................................3
1.1. Uma breve histria da Fbrica da Pompia..........................................................3
1.2. Lina Bo Bardi na Bahia .......................................................................................11
Captulo 2 A ARQUITETURA COMO MATERIALIZAO DE UM IDERIO......24
2.1. Interveno no existente: 1 fase do projeto.......................................................31
2.1.1. Os galpes e suas atividades..........................................................................36
2.1.2. Mobilirio..........................................................................................................51
2.1.3. Comunicao visual.........................................................................................63
2.1.4. Restaurao concluda.....................................................................................68
2.2. Construo do novo: 2 fase do projeto..............................................................70
CAPTULO 3 A EXPOSIO COMO MANIFESTAO DE UM IDERIO..........83
3.1. Conceito de exposio artstica em Lina Bo Bardi..............................................84
3.2. Design no Brasil: histria e realidade..................................................................91
3.3. Mil Brinquedos para a Criana Brasileira............................................................96
3.4. O belo e o direito ao feio...............................................................................100
3.5. Pinocchio...........................................................................................................103
3.6. Caipiras, Capiaus: Pau-a-Pique........................................................................106
3.7. Entreato Para Crianas.....................................................................................110
CONCLUSO..........................................................................................................115
BIBLIOGRAFIA........................................................................................................118
ANEXOS..................................................................................................................124
Anexo 1: Entrevista com Rubens Gerchman...........................................................125
Anexo 2: Entrevista com Julio Neves.......................................................................136
Anexo 3: Entrevista com Cilene Canoas..................................................................138
Anexo 4: Entrevista com Andr Vainer....................................................................156
Anexo 5: Entrevista com Hans Gutter Flieg.............................................................169
Anexo 6: Entrevista com Marcelo Ferraz.................................................................174
Anexo 7: Entrevista com Tadeu Jungle....................................................................189
Anexo 8: Desenhos Sesc Pompia..........................................................................195
8
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Vista da Fbrica da Pompia antes da Reforma.........................................2
Figura 2 - Vista area geral da Fbrica da Pompia antes da Reforma.....................3
Figura 3 - A Fbrica de tambores da Pompia............................................................4
Figura 4 - A Fbrica de tambores da Pompia............................................................5
Figura 5 - A Fbrica da IBESA- Industria Nacional de Embalagens S. A. que instala
o espao a fabrica de carcaas de geladeiras querosene Gelomatic.......................5
Figura 6 - Planta de situao projeto arquiteto Julio Neves para o Sesc Pompia. Na
seqncia, da esquerda para a direita; piscinas, quadras poliesportivas, bloco de
atividades gerais, rua interna sem sada (crrego das guas pretas),
administrao...............................................................................7
Figura 7 - Guirardelli Square, vista da rua Hyde, pier So Francisco..........................8
Figura 8 - Atividades no Sesc Pompia antes do restauro..........................................8
Figura 9 - Atividades no Sesc Pompia antes do restauro.................................... .....9
Figura 10 - Recuperao do edifcio do Solar do Unho,Salvador.............................9
Figura 11 - Milo, maio, 1945. Bahia del Re, Lina Bo Bardi em bairro popular
construdo durante o fascismo, poucos dias aps o fim da
guerra.........................................................................................................................10
Figura 12 - Estudo de Lina para mobilirio Solar do Unho. Dec. 50/60..................12
Figura 13 - Monte Santo, Bahia. Filmagem de Deus e o Diabo na Terra do Sol de
Glauber Rocha. Da esquerda para direita: Paulo Gil Soares, o cmera Waldemar
Lima, Glauber Rocha e Lina Bo Bardi. 29/jul./1963...................................................16
Figura 14 - Exposio Mario Cravo, realizada no MAMB..........................................18
Figura 15 - Lina no Solar do Unho, aps a restaurao. 1963................................19
Figura 16 - Solar do Unho, aps a restaurao. 1963.............................................20
Figura 17 - Convite para a Inaugurao do Solar do Unho.....................................22
Figura 18 - Croqui de Lina Bo Bardi para a escada do Unho. 1963........................22
Figura 19 - Pea encenada no Unho. 1963.............................................................23
Figura 20 - Pea encenada no Unho.1963..............................................................23
Figura 21 - Maquete..................................................................................................24
Figura 22 - Vista do possvel futuro do Sesc Pompia..............................................25
9
Figura 23 - Quarto de arquiteto.................................................................................26
Figura 24 - Lina, Andr Vainer e Marcelo Ferraz no Sesc Pompia...........................28
Figura 25 - Lanchonete para o bloco esportivo.........................................................29
Figura 26 - Sesc Pompia em obras.........................................................................34
Figura 27 - Retirada do reboco das paredes originais do Galpo de Atividades
gerais. Abril/80...........................................................................................................34
Figura 28 - Detalhe da tubulao aparente do Sesc.................................................35
Figura 29 - Detalhe das trelias do galpo de atividades gerais...............................35
Figura 30 - Retirada do reboco das paredes originais do Galpo de Atividades
gerais. Abril/80............................................................................................................36
Figura 31 - Atividade na rua interna..........................................................................37
Figura 32 - Inicio das obras na rua interna................................................................38
Figura 33 - Calha de concreto e alvenaria revestida com seixos rolados................ 39
Figura 34 - Primeiros estudos para a restaurao da fbrica...................................40
Figura 35 - Concretagem do contrapiso do leito do rio. Dezembro/1979...............42
Figura 36 - Rio com a forrao de seixo rolado e piso do galpo com revestimento
de pedra mineira. Janeiro/1980..................................................................................42
Figura 37 - Montagem das formas da sala de leitura e biblioteca.............................43
Figura 38 - Salas de leitura e piso prontos................................................................43
Figura 39 - Foyer teatro.............................................................................................44
Figura 40 - Foyer teatro.............................................................................................45
Figura 41 - Teatro-auditrio.......................................................................................46
Figura 42 - Apresentao do Fbrica do Som no teatro do Sesc Pompia............46
Figura 43 - Estudo para disposio dos atelis.........................................................47
Figura 44 - Vista geral dos atelis.............................................................................48
Figura 45 - Vista restaurante do Pompia obras...................................................... 49
Figura 46 - Vista geral restaurante do Pompia........................................................50
Figura 47 - Cadeira Masp 7 de abril..........................................................................52
Figura 48 - Cadeira Z madeira compensada.............................................................53
Figura 49 - Cadeira madeira compensada e chita.....................................................54
Figura 50 - Cadeira trip em madeira assento removvel em couro..........................55
Figura 51 - Cadeira preguiosa.................................................................................55
Figura 52 - Cadeira Bowl publicidade.....................................................................56
Figura 53 - Cadeira auditrio teatro Castro Alves.....................................................58
10
Figura 54 - Mobilirio desenvolvido para o galpo de atividades gerais...................59
Figura 55 - Mobilirio desenvolvido para o galpo de atividades gerais...................59
Figura 56 - Estudo de roupas para o teatro............................................................60
Figura 57 - Mobilirio desenvolvido para crianas....................................................61
Figura 58 - Concretagem mobilirio restaurante.......................................................62
Figura 59 - Mobilirio desenvolvido para restaurante................................................62
Figura 60 - Homenagem a Torres Garcia..................................................................64
Figura 61 - Totem na entrada do Sesc Pompia.......................................................65
Figura 62 - Desenho indicao comunicao visual.................................................65
Figura 63 - Desenho mascara teatro.........................................................................66
Figura 64 - Desenho elementos comunicao visual................................................66
Figura 65 - Desenho logotipo....................................................................................67
Figura 66 - Desenho logotipo entrada Sesc Pompia...............................................67
Figura 67 - Atividades no Sesc Pompia...................................................................68
Figura 68 - Desenho almoo no Pompia.................................................................69
Figura 69 - Vista externa Sesc Pompia...................................................................70
Figura 70 - Obras de restaurao na fbrica adquirida elo REDE, Providence........71
Figura 71 - Primeiros estudos para o Sesc Pompia................................................72
Figura 72 - Primeiros estudos para o Sesc Pompia................................................72
Figura 73 - Estudo para bloco esportivo Sesc Pompia............................................72
Figura 74 - Estudo para a pintura do banheiro feminino bloco esportivo..................74
Figura 75 - Bloco esportivo Sesc Pompia................................................................75
Figura 76 - Flor de mandacaru..................................................................................75
Figura 77 - Quadra esportiva outono......................................................................76
Figura 78 - Estudos para quadra esportiva...............................................................77
Figura 79 - Piscina bloco esportivo............................................................................78
Figura 80 - Janela buraco..........................................................................................78
Figura 81 - Deque Atlantic City. Venturi/ Scott Brown...............................................80
Figura 82 - Chuveiro ao ar livre solarium...................................................................80
Figura 83 - Chamin-Caixa dgua do Pompia........................................................82
Figura 84 - Torres da cidade satlite (1957-1958) de Barragn................................82
Figura 85 - Chamin-Caixa dgua do Pompia em obras........................................82
Figura 86 - Masp 7 de abril: primeiro andar do museu..............................................85
Figura 87 - Franco Albini. Galeria Palazzo Bianco in Genova 1950 51..............87
11
Figura 88 - Pinacoteca Masp.....................................................................................88
Figura 89 - Exposio Burle Marx MAMB..................................................................90
Figura 90 - Exposio de artistas do Nordeste no Solar do Unho..........................90
Figura 91 - Geral da primeira parte da exposio de design.....................................94
Figura 92 - Geral da segunda parte da exposio de design....................................94
Figura 93 - Exposio Design no Brasil: histria e realidade....................................95
Figura 94 - Exposio Design no Brasil: histria e realidade....................................95
Figura 95 - Vista geral da exposio Mil brinquedos para a criana brasileira.........98
Figura 95 - Playmobil................................................................................................98
Figura 96 Bonecos.................................................................................................99
Figura 97 - Brinquedos exposio............................................................................99
Figura 98 - Vista Geral da exposio......................................................................101
Figura 99 Mveis..................................................................................................101
Figura 100 - Cama e roupas....................................................................................102
Figura 101 - Painis Exposio...............................................................................102
Figura 102 - Vista geral exposio Pinocchio..........................................................104
Figura 103 - A baleia ..............................................................................................105
Figura 104 - Menino na boca da baleia...................................................................105
Figura 105 - Vista geral exposio..........................................................................108
Figura 106 - Cobra..................................................................................................108
Figura 107 - Estudo para o Cartaz .........................................................................109
Figura 108 - Contra-kafka .......................................................................................109
Figura 109 - Forno de barro e casa de Pau-a-pique. 1984.....................................112
Figura 110 - O capito com a mulher, Dna Tereza. 1984........................................112
Figura 111 - Capela.1984........................................................................................113
Figura 112 - Sanfoneiras na festa de abertura........................................................113
Figura 113 - Galinhas, Vacas e Porcos na Exposio. 1984..................................114
Figura 114 - Desenho de chapu utilizado no Cartaz da exposio. 1984.............114
Figura 115 - Lina Bo Bardi obras Sesc................................................................ 115
12
INTRODUO
No projeto do Sesc Pompia, encontramos um momento de maturidade na
obra da arquiteta Lina Bo Bardi. Nela possvel vislumbrarmos sua trajetria de vida
e, em especial, seu entendimento do Brasil, fruto de intensa pesquisa dos valores
genunos da populao.
Lina afirma, em escrito encontrado em seus arquivos, A arquitetura o
espelho da personalidade de quem a escolhe, a habita ou de quem a projeta. A
dissertao procura evidenciar esse mundo da arquiteta: os iderios, as suas
verdades que a leva para certas tomadas de posio singulares; a leva a
constituio de um mundo com o povo e para o povo, real mas tambm potico.
A arquitetura vivida por ela em seu sentido lato: intervenes urbanas,
exposies, design, trajes, cenografias de teatro. A pesquisa investiga essas
questes atravs de todo o processo desenvolvido na Fbrica de Lazer da Pompia.
No antigo bairro fabril da Pompia, uma rua de paraleleppedos nos convida a
visitar os diversos galpes de tijolos e concreto aparente: mundos distintos onde
interatuamos com a pequena experincia socialista
1
de Lina Bo Bardi: direita, o
Galpo de Atividades Gerais, onde pessoas de diversos tipos, cores, tamanhos,
idades lem jornais e revistas, encontram-se apenas sentados, conversam,
descansam. Percorremos adiante uma rea mltiplas funes onde serpenteia o Rio
So Francisco em sua legtima funo de unir diversos tipos em torno de si. Logo
em seguida encontramos o galpo teatro-arena e seu foyer, tambm utilizado como
espao expositivo, e, mais alm, o galpo de oficinas. Ao fundo trs imponentes
torres de concreto dividem a paisagem com os novos prdios que surgiram na
regio. A comprida torre cilndrica, chamin-forte-caixa dgua marco da cidadela.
Um outro prdio robusto que abre janelas-buraco para a cidade cinzenta, causando
estranheza ou alegria aos transeuntes, abraa um bloco mais alongado e estreito,
atravs de passarelas de concreto que atravessam um solarium de madeira, local de
lazer e estar, onde pessoas tomam sol ou assistem a algum show eventual.
1
BARDI, Lina Bo. Sesc Pompia. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
13
As experincias da arquiteta modificaram a maneira de lidar com o lazer, com
a cultura, com o espao. Numa tarde de quarta feira em meados de 2006, o rudo de
uma modinha antiga me levou para o galpo-restaurante-choperia situado
esquerda do conjunto horizontal. Senhoras elegantes, aprumadas em vestidos
rodados bailavam, namoravam. Outros senhores levavam mocinhas pequenas
encantadas com a festa. Jovens observavam entusiasmados e arriscavam alguns
passos, estrangeiros procuravam entender o que ocorreria naquela antiga fbrica
adaptada ao lazer. Era o dia do baile da terceira idade na cidadela, projetada para
todas as idades, para o estar, deitar, falar, brincar, danar. Uma estrutura to dura,
mas to cheia de textura e cor onde acontecia mgica: numa cidade entulhada e
ofendida pode, de repente, surgir uma lasca de luz, um sopro de vento
2
, diz o texto
de introduo Sesc.
Figura 01 - Vista da Fbrica da Pompia antes da Reforma
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ crdito
2
LATORRACA, Giancarlo (ed.) Texto de introduo Sesc. Cidadela da Liberdade. So Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,
Sesc- Servio Social do Comrcio,1999.
14
CAPITULO 1 UM EDIFCIO ABANDONADO ESPERA DE UM
ARQUITETO
1.1. Uma breve histria da Fbrica da Pompia
Figura 02 - Vista area geral da Fbrica da Pompia antes da Reforma
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Peter Sheier
O terreno que abriga hoje o Sesc Pompia fazia parte da chcara do Bananal.
Em 1911 foi vendida Companhia Urbano Predial, que inicia o loteamento urbano
na rea. Existem registros de que em 1915 Daniel Heydenreich ganha posse da
terras numa hipoteca, e, em 1922 a vende para Adolf Heydenreich. Em 1936 a firma
alem Mauser & Cia Ltda adquire uma primeira parte do terreno, complementando-
o em 1938, ano de construo da fbrica destinada fabricao de tambores
3
. Sua
tipologia foi fundamentada num projeto ingls do incio do sculo, o que se manifesta
em sua estrutura simples e rigorosa, com detalhes tipicamente ingleses, como a
3
C. f. BARBARA, Fernanda. Espaos culturais na obra de Lina Bo Bardi: uma anlise do Sesc Pompia. Iniciao cientfica
FAPESP. So Paulo, 1993, p 7-8.
15
utilizao de tijolos aparentes e rebocados, estrutura de ferro e concreto, simetria de
planos, sheds para iluminao zenital.
A utilizao de projetos ingleses no comeo da industrializao
brasileira foi muito comum. A fbrica de Tambores dos irmos
Mauser, transformada no Sesc-Pompia em So Paulo, as Indstrias
Reunidas Matarazzo juntamente com outras fbricas deste perodo,
distribudas pelos bairros do Brs e Mooca e pelo interior de So
Paulo, como o engenho Central em Piracicaba, exemplificam esta
tipologia de edio fabril. No Rio de Janeiro a Fbrica de Tecidos
Botafogo caracteriza as fbricas deste perodo
4
.
Figura 03 - A Fbrica de tambores da Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto H.G. Flieg
4
CASTRO, Cleusa de. Permanncias, transformaes e simultaneidades em Arquitetura. Dissertao de mestrado. Porto
Alegre, FAU-PROPAR-UFRGS,2002.
16
Figura 04 - A Fbrica de tambores da Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto H.G.Flieg
Devido a motivos polticos referentes Segunda Guerra Mundial, o terreno foi
embargado e leiloado no ano de 1945, quando a Ibesa Indstria Nacional de
Embalagens S.A. coordenada pela Confab Cia. Nacional de Forjagem de Ao
Brasileiro
5
o adquire, instalando posteriormente em seu espao a fbrica de
geladeiras querosene Gelomatic. A Ibesa funcionava como uma linha de
montagem na Pompia. L eram fabricadas as carcaas da geladeira. Mais tarde, a
fbrica foi desativada, vendendo-o no ano de 1971 para o Sesc.
Figura 05 - A Fbrica da IBESA- Industria Nacional de Embalagens S. A. que instala o espao a fabrica de carcaas de
geladeiras querosene Gelomatic
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Crdito H. G. Flieg
5
A Confab comeou a funcionar em 1942, com a fundao da IBESA Indstria Brasileira de Embalagens S.A., para a
produo de tambores de ao. Pouco depois, passou a produzir botijes para GLP, tanques para postos de gasolina, alm de
outros produtos como refrigeradores. Disponvel em www.enfoque.com.br. Acesso: jul./2007.
17
O Sesc Servio Social do Comrcio elabora, de 1969 a 1974 um novo
plano de trabalho, o qual englobava a construo de uma ampla rede de centros
sociais maiores e mais modernos nas principais cidades do Estado e nos quatro
pontos cardeais da cidade de So Paulo
6
. Sob a administrao de Papa Junior, o
Sesc procurava um terreno para a criao de um centro cultural e esportivo na zona
oeste da cidade, o que o leva a adquirir o terreno da Pompia. Inicialmente, a idia
era a de aproveitar somente o terreno para a construo do novo centro cultural
esportivo urbano. Um primeiro projeto foi elaborado pelo arquiteto Julio Neves.
Aps a elaborao de diversos estudos, a adequao do programa
foi proporcionada atravs de sua distribuio em dois novos blocos,
sendo um horizontal e outro vertical. A partir da definio adotada
pela entidade, nosso escritrio elaborou os desenhos que foram
submetidos aprovao da Municipalidade o que ocorreu em
05/12/1975, com a expedio do competente alvar de obra. A seguir,
o projeto arquitetnico foi devidamente compatibilizado com os
demais projetos complementares, contratados diretamente pelo Sesc
e destinados execuo da obra. Nossos trabalhos foram concludos
e entregues em janeiro de 1977.
7
Segundo o arquiteto Julio Neves seu projeto no foi realizado por razes
econmico-financeiras.
No incio de 1977, com o projeto executivo em mos e de posse de
oramento mais detalhado da obra e, ainda, em funo da conjuntura
econmico-financeira de ento, a direo do Sesc optou por
suspender a programao de incio da obra e reformular seus
objetivos fixados anteriormente para o empreendimento. A arquiteta
Lina Bo Bardi foi encarregada da elaborao de um projeto que
mantivesse as edificaes existentes, aproveitando-as, reformando-
as e complementando-as com o que mais fosse necessrio.
8
6
REQUIXA, Renato. Introduo pasta portflio Sesc Pompia. Arquivo ILBPMB. S/data.
7
Entrevista realizada com o Arquiteto Julio Neves. So Paulo, 18.01.07. Anexo.
8
Ibidem.
18
Figura 06 - Planta de situao projeto arquiteto Julio Neves para o Sesc Pompia. Na seqncia, da esquerda para a
direita; piscinas, quadras poliesportivas, bloco de atividades gerais, rua interna sem sada (crrego das guas pretas),
administrao
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi
A preocupao e deciso em preservar a estrutura da antiga fbrica e
consequentemente a histria da formao do bairro ocorreu por parte da equipe do
Sesc. Segundo o arquiteto Marcelo Ferraz, Renato Requixa (diretor regional do
Sesc) e Glucia Amaral (diretora do Sesc) realizaram uma viagem a So Francisco,
quando conheceram o Ghirardelli Square
9
, bloco residencial transformado em centro
para o comrcio e o lazer. Os diretores vislumbraram a idia de transformar os
galpes industriais recm adquiridos na Pompia, agregando valor ao
empreendimento.
9
Disponvel em: http://www.ghirardellisq.com/ghirardellisq/ . Acesso: jul./2007
19
Figura 07 Guirardelli Square, vista da rua Hyde, pier So Francisco
Fonte: www.chirowerkz. S/ Crdito
A antiga fbrica foi utilizada pelo Sesc precariamente entre os anos de 1973 e
1976. L funcionava uma sede de um grupo de escoteiros e atividades como artes
marciais, ginstica, jogos esportivos e teatro infantil.
Figura 08 - Atividades no Sesc Pompia antes do restauro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
20
Figura 09 - Atividades no Sesc Pompia antes do restauro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
A direo do Sesc optou por convidar a arquiteta Lina Bo Bardi para realizar o
projeto de restauro na fbrica da Pompia. A arquiteta j havia realizado um projeto
de restauro no Solar do Unho, em Salvador, importante conjunto arquitetnico do
sculo XVI, um complexo agro-industrial dos engenhos de acar utilizado como
fbrica de rap e trapiche, onde trabalhou com intervenes significativas
evidenciando suas transformaes ao longo da histria, adaptando-o para ocupao
do Museu e Arte Popular e Escola de Desenho Industrial.
Figura 10 - Recuperao do edifcio do Solar do Unho,Salvador
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto W.Ninck
21
A equipe de planejamento do Sesc forneceu a Lina uma lista das
necessidades objetivas do projeto para a realizao do espao. Essa lista se
equivale ao programa recebido pelo arquiteto Julio Neves, que compreendia reas
de escritrio e servios gerais no setor administrativo e o setor cultural e desportivo
provido de biblioteca, rea para exposies/estar, lanchonete/cozinha, teatro,
ambulatrio, rea para fisioterapia, quadras de esporte e ginstica, piscina,
vestirios e sanitrios.
[O programa desenvolvido por Lina] um programa muito parecido
num certo sentido mas com outro enfoque. Ele concentrava tudo em
um prdio, tinham umas piscinas ao ar livre, um pouco dentro dos
moldes do que estava sendo feito o naquela poca que era o centro
de Santos e logo em seguida o projeto do centro campestre. Logo
antes da Pompia tinha sido feito um centro grande em Santos e
tambm estava sendo feito pelo [Alberto Rubens] Botti acho o centro
campestre [Interlagos,1976] que so em outros moldes. Piscinas
grandes, reas externas grandes e construes novas para abrigar
sobretudo as funes de lazer e de apoio ao esporte. Acho que na
Pompia, como a rea dos galpes validamente equivalente rea
de esportes, o caminho, o uso, para a utilizao da fbrica a parte
antiga como centro cultural foi muito exacerbado. Passou a ter uma
importncia muito maior do que nos outros Sescs.
10
* * *
Lina Bo Bardi participou de ambiente propcio para o desenvolvimento de uma
postura voltada para o social em sua formao, marcante na Itlia ps-segunda
guerra mundial. Vinculado a esse contexto encontramos: a arquitetura e design
desenvolvidos por Gi Ponti que prope uma modernizao do artesanato italiano
atravs dos valores culturais do povo, sendo que Lina colabora nesta direo
participando das revistas Domus, Lo Stille e Bellezza e tambm com trabalhos
espordicos; os pensamentos do poltico italiano Antonio Gramsci (1891-1937),
voltados para o Nacional-Popular e sempre presentes nos estudos da arquiteta; e o
cinema neo-realista, que revolucionou a arte cinematogrfica com sua abordagem
humanista, o uso de temas cotidianos, o retrato das runas morais e fsicas de um
pas devastado pela guerra, tendo como maiores representantes Vittorio de Sicca
(1902-1974) e Roberto Rossellini (1906-1977). Em meio a essa atmosfera, a
arquiteta buscou recursos criativos de sobrevivncia, as bases para o
desenvolvimento industrial do povo italiano no segundo ps-guerra porm se depara
10
Entrevista realizada com o Arquiteto Andr Vainer. So Paulo: jul. 2007. Anexo.
22
com a nova sociedade de consumo do mundo ocidental. Ao invs de solues
voltadas para os valores do povo, encontrou os enlatados americanos e toda uma
cultura voltada para o consumo.
11
Em 1946 casa-se com o marchand e crtico de
arte, Pietro Maria Bardi, embarcando para o Brasil
Figura 11 Milo, maio, 1945. Bahia del Re, Lina Bo Bardi em bairro popular construdo durante o fascismo, poucos
dias aps o fim da guerra
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
1.2. Lina Bo Bardi na Bahia
Chegando ao Brasil em 1946, a arquiteta se depara com a possibilidade de
envolvimento com os valores de um povo numa sociedade livre das runas, da
histria, do domnio do mundo ocidental de consumo. Um pas aberto, repleto de
possibilidades. E foi na Bahia, nas dcadas de 50/60, que ocorreu o grande divisor
de guas de sua vida. A arquiteta se aprofundou na realidade brasileira atravs de
seus aspectos sociais e antropolgicos. Sua arquitetura desde ento passou a
contemplar a capacidade criadora popular e peculiaridades que encontrou na regio.
11
FERRAZ, Marcelo. Texto extrado de palestra. Chile, Viena, s/ data.
23
De uma parte, aprendendo a reconhecer e a ler a nossa
especificidade cultural. De outra, realizando intervenes onde
ntido o peso conferido ao seu carter ou alcance social, no sentido
poltico e no cientfico do vocbulo. Lina soube olhar a rede, por
exemplo, a um s tempo leito e poltrona, cuja aderncia perfeita
forma do corpo, o movimento ondulante, fazem dela um dos mais
perfeitos instrumentos de repouso. Soube ver uma colcha-de-
retalhos numa feira nordestina pelo prisma de quem fora educada em
Albers/Mondrian, mas sem extra-la de seu contexto.
12
Figura 12 - Estudo de Lina para mobilirio Solar do Unho. Dec 50/60
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
Lina se aproxima a vertente do incio do modernismo brasileiro, onde surge o
conceito de integrao entre a vanguarda europia e a tradio cultural brasileira,
sustentada nas obras de Mario de Andrade, Oswald de Andrade, Raul Bopp. O
iderio de Lina acerca do desenvolvimento da cultura brasileira adequa-se sobretudo
viso adotada por Mrio de Andrade, onde existe uma procura da autenticidade da
civilizao brasileira, conectada em relao Europa, mas diferenciada. Existe uma
tentativa de erudio das artes brasileiras, estruturadas a partir de um fator cultural.
Mario de Andrade desenvolveu extensa pesquisa acerca dos costumes populares
brasileiros. Em sua dissertao de mestrado, Ablio Guerra ponderou a respeito do
livro Ensaio sobre a Msica Brasileira, de Mrio de Andrade,
12
RISRIO, Antonio. Avant-Garde na Bahia. So Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995, p.113.
24
A msica erudita qualitativamente melhor do que a msica popular,
mas nesta que se reflete as caractersticas musicais da raa. O
trabalho de composio deveria, portanto, se constituir de dois
momentos: o primeiro seria coligir os ritmos, as melodias e as
instrumentaes populares; no segundo, se daria a elaborao
erudita a partir do material coletado. O valor de uma obra no est em
sua originalidade, mas na sua autenticidade e o msico deve
sacrificar sua individualidade e se engajar na arte interessada.
13
A condio primitiva aparece como essencial para o surgimento de uma
civilizao autntica. presente tambm em Mario de Andrade o estabelecimento
de uma conscincia nacional para o desenvolvimento dessa cultura, uma tendncia
realista, conectada ao desenvolvimento histrico da sociedade.
O momento poltico pelo qual o Brasil atravessava propiciou a liberdade necessria
para o desenvolvimento artstico e cultural: foi entre os governos de Getlio Vargas e
Joo Goulart que a Bahia passou por esse momento de redemocratizao.
Sob JK, tivemos a combinao de duas realidades to raras quanto
fundamentais, em termos brasileiros. De uma parte; o pas
experimentou um ritmo indito de crescimento, da expanso urbana
abertura e asfaltamento de estradas, passando pela implantao da
indstria automobilstica e pelas obras de Braslia. De outra parte
vivemos anos de grande liberdade as discusses corriam sem
entraves, idias circulavam em sua inteireza inexistiam presos
polticos no pas, os comunistas se movimentavam tranquilamente.
Nesse clima de liberdade e desenvolvimento, o Brasil se convenceu
de que era dono do seu nariz. De que tinha o futuro em suas mos. E
todo projeto corria o srio risco de poder trocar a luz do sonho pela
luz do sol.
14
Sob a administrao do reitor Edgard Santos e a Universidade Federal da
Bahia, com efetiva participao de um governo democrtico e classe estudantil,
houve uma significante ao cultural focada no desenvolvimento cultural e artstico
baianos. Com a incurso de intelectuais de diversas reas de atuao como
Agostinho da Silva que cria o CEAO Centro de Estudos Afro-Orientais, Hans
Joachim Koellreuter e os seminrios livres de msica, Martim Gonalves e a escola
de teatro, Yanka Rudzka e a escola de dana, o etngrafo Pierre Verger, e, por fim,
Lina Bo Bardi, que dirige o MAMB Museu de Arte Moderna da Bahia. O ambiente
cultural baiano viveu esse momento de vanguarda, atuando com experimentos
13
GUERRA, Ablio. O homem primitivo: origem e conformao o universo intelectual brasileiro (sculos XIX e XX). Dissertao
de mestrado. Campinas, Faculdade de Historia da Universidade de Campinas UNICAMP, p.158.
14
RISRIO, Antonio. Avant Garde na Bahia. So Paulo, Instituto Lina Bo e P.M. Bardi, 1995, p.17.
25
inditos no campo da arte e cultura. Deste, podemos testemunhar importantes frutos
como o Cinema Novo e a Tropiclia.
Mestres como Lina Bo Bardi, Agostinho da Silva e Hans Joachim
Koellreutter foram, portanto, formadores de mentalidades e de
sensibilidades, faris da liberdade de pesquisa e da aventura
criadora, em suma: encarnaes de uma pedagogia da inquietude
[...]. E o fato que o iderio dessa gente de Lina e de Agostinho,
sobretudo permanece ainda hoje vivo em meio vida esttico
intelectual da Bahia.
15
Parte dessa nova elite cultural que participou do avant-garde era de origem
estrangeira: a Bahia se abriu para considervel fluxo internacional de informaes
esttico-intelectuais e se preparou para intervir sob os signos da modernidade. O
grupo de intelectuais acreditava existir ali a possibilidade de sada do estgio de
colonialismo cultural, com o rompimento dos laos de dependncia aos pases
industrializados.
Em abril de 1958, convidada por Edgard Santos a proferir duas palestras na
Universidade Federal da Bahia, Lina enfatizou a necessidade de humanizao da
arquitetura contempornea. Ao 1 de Agosto retornou com o intuito de compartilhar
dessa ao cultural em Salvador, convidada a dar as aulas na cadeira de Teoria e
Filosofia da Arquitetura junto com o professor Digenes Rebouas. Na ocasio, o
ento governador Juracy Magalhes a convidou a dirigir o MAMB Museu de Arte
Moderna da Bahia, cargo que exerceu at o ano de 1964. Restaurou o Solar do
Unho, instalando ali o Museu de Arte Popular e a Escola de Desenho Industrial da
Bahia, participou do movimento teatral que despontava, projetando o cenrio para as
peas Calgula (Albert Camus) e pera dos trs tostes (B. Brecht e K. Weill)
organizada por Martim Gonalves, diretor da Escola de Teatro da Universidade da
Bahia, e tambm assumiu a direo da Pgina Dominical do Dirio de Notcias da
Bahia, onde trabalhou com a importncia de se considerar as bases populares
tradicionais para a constituio de uma sociedade autntica do ponto de vista
artstico e cultural. Desenvolveu temas como a conscincia do patrimnio
cultural/material e a formao de conceitos como cultura, civilizao, arte.
15
RISRIO, op. cit., p.26.
26
Essa preocupao da arquiteta em documentar a cultura brasileira,
conciliando-a com a modernidade vem desde os anos 1950, quando era recm-
chegada ao Brasil, o que observamos ao inaugurar junto com Pietro Maria Bardi a
revista Habitat (1950).
A histria das artes no Brasil continua ainda em grande parte
indita: por enquanto no passa de uma crnica contempornea que
progride com surpreendente celeridade. Assim que o passado to
rico em temas para a reevocao e a efervescente atividade do
presente no encontraram ainda uma documentao e uma
informao adequadas realidade e sua importncia, embora dia a
dia aumente o desejo de se conhecer o que se faz no pas e fora dele
em matria de arte [...] Habitat significa ambiente, dignidade,
convenincia, moralidade de vida, e portanto espiritualidade e cultura:
por isso que escolhemos para ttulo dessa nossa revista uma
palavra intimamente ligada arquitetura, a qual damos um valor e
uma interpretao no apenas artstica, mas uma funo
artisticamente social.
16
Em sua dissertao
17
, Ablio Guerra desenvolve a questo de que um fato
cultural nunca a expresso natural de uma toda coletividade, mas um
entendimento de mundo formado a partir da unificao de antigas tradies com
uma dada realidade histrica. Como no existem sociedades homogneas sem
alguma diferenciao de grupo ou indivduo, no existe uma cultura harmnica e
universal. A representao do mundo traduz uma luta poltico-ideolgica e sempre
ser repleta de contradies. Atravs desse raciocnio insiro a ao de Lina no
Brasil. A partir do seu entendimento de mundo Lina contemplou um imaginrio sobre
um caminho futuro para a cultura considerada erudita ou culta com base em tomada
de conscincia histrico-cultural do pas. O desenvolvimento das novas tcnicas de
reproduo trouxe um exame do conceito da arte, que substitui o seu carter cultual,
de origem, por um carter calcado na realidade.
A expresso que Lina utiliza para sintetizar o que seria a Fbrica de Lazer da
Pompia, desenvolvida por Ferreira Gullar,
A cultura popular , em suma, a tomada de conscincia da realidade
brasileira. Cultura popular compreender que o problema do
analfabetismo, como o da deficincia de vagas nas universidades,
no est desligado da condio de misria do campons, nem da
dominao imperialista sobre a economia do pas. Cultura popular
16
BARDI, Lina Bo. Prefcio. Revista Habitat n. 1. So Paulo, Habitat Editora Ltda., out./dez., 1950.
17
GUERRA, Ablio. O homem primitivo: origem e conformao o universo intelectual brasileiro (sculos XIX e XX). Dissertao
de Mestrado. Campinas, Faculdade de Historia da Universidade de Campinas UNICAMP.
27
compreender que as dificuldades por que passa a industria do livro,
como a estreiteza do campo aberto s atividades intelectuais, so
frutos da deficincia do ensino e da cultura, mantidos como privilgios
de uma reduzida faixa da populao. Cultura popular compreender
que no se pode realizar cinema no Brasil, com o contedo que o
momento histrico exige, sem travar uma luta poltica contra os
grupos que dominam o mercado brasileiro. compreender, em suma,
que todos esses problemas s encontraro soluo se realizarem-se
profundas transformaes na estrutura scio econmica e
consequentemente no sistema de poder. Cultura popular , portanto,
antes de mais nada, conscincia revolucionria.
18
A arquiteta procurou trabalhar a conscincia histrica e cultural do pas. Sua
observao pessoal da cultura popular brasileira e desenvolvimento ao longo dos
anos acabou por instituir suas prprias convices que foram determinantes para o
projeto da Fbrica de Lazer da Pompia
Retomando o Museu de Arte Moderna da Bahia, ele surge com propostas
educativas, tornando-se parte do projeto de modernidade social e cultural de
Salvador.
Figura 13 - Monte Santo, Bahia. Filmagem de Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha. Da esquerda para
direita: Paulo Gil Soares, o cmera Waldemar Lima, Glauber Rocha e Lina Bo Bardi. 29/jul./1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Publicado no livro Avant Garde na Bahia
18
GULLAR, Ferreira. Cultura Posta em Questo. Rio de Janeiro, Editora Civilizao Brasileira S.A., 1965.
28
O museu nasceu em janeiro de 1960, funcionando provisoriamente no antigo
foyer do Teatro Castro Alves, situado no bairro do Campo Grande, em Salvador. O
projeto do Teatro dos arquitetos Bina Fonyat e Humberto Lopes, recebendo
meno honrosa na 1 Bienal de Artes Plsticas de So Paulo. Sua criao surgiu
de uma antiga reivindicao da classe artstica e cultural da Bahia, aprovada no
governo de Antonio Balbino (1955-59), passando por dois incndios.
O primeiro incndio ocorreu cinco dias antes de sua inaugurao, prevista
para o dia 14 de julho de 1957. A verso oficial a de que um curto circuito causou
o incndio do futuro espao cultural. A obra foi reconstruda aps nove anos,
ocasio de funcionamento do Museu de Arte Moderna no espao. No dia 04 de
maro de 1967 o teatro por fim inaugurado, na presena do ento presidente
Castelo Branco e do governador Lomanto Jnior. Foi um espao de intensa agitao
cultural, e no final dos anos 80, j degradado, passou por outro incndio, sendo
reformado e reinaugurado novamente em julho de 1993.
19
Durante a adequao do MAMB no foyer do espao foi instalado tambm um
auditrio-cinema para conferncias e debates na rampa de acesso. J nos
subterrneos funcionava uma escola de iniciao artstica para crianas com escola
de Teatro e Seminrios livres de msica.
A verba reduzida do MAMB no permitia grandes aquisies, mas Lina obteve
diversos emprstimos com o MASP Museu de Arte de So Paulo, atravs de
Pietro Maria Bardi, e, com recursos adquiridos, o MAMB chegou a possuir
importante coleo de artistas brasileiros e alguns estrangeiros.
19
Disponvel em: http://www.tca.ba.gov.br/01/index.html. Acesso em: jan. 2002.
29
Figura 14 - Exposio Mario Cravo, realizada no MAMB
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
a arquiteta italiana radicada em So Paulo Lina Bo Bardi tinha sido
convidada pelo governador Estadual para organizar o Museu de Arte
Moderna da Bahia [...], onde, alm do acervo crescente de obras
brasileiras e estrangeiras, vamos magnficas exposies didticas
que, se fosse o caso, contavam com alguns quadros de grandes
artistas (Renoir, Degas, Van Gogh) a que a senhora Bardi tinha
acesso por ser mulher do diretor do Museu de Arte de So Paulo. O
Museu de Arte Moderna da Bahia funcionava no foyer, todo em
mrmore e vidros, do imenso teatro Castro Alves, que tinha sido
quase inteiramente destrudo por um incndio apenas um dia depois
de inaugurado, poucos anos antes da criao do museu. O foyer
ficara intacto, mas a sala de espetculos tinha se transformado numa
enorme caverna negra de que Lina utilizou a parte correspondente ao
palco para criar um pequeno teatro de meia-arena onde, em sua
colaborao com o diretor da Escola de Teatro, Eros Martim
Gonalves, montou-se a pera dos Trs Tostes, de Brecht [...], e,
depois, Calgula, de Camus. Houve colaborao tambm com o
crtico de cinema Walter da Silveira na transformao da rampa que
liga o foyer sala de espetculos num belo cineminha exclusivo do
clube de cinema que ele fundara.
20
20
VELOSO, Caetano. Escrito sobre MAMB. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1997.
30
Figura 15 - Lina no Solar do Unho, aps a restaurao. 1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/Crdito
Posteriormente o MAMB se deslocou para o conjunto do Solar do Unho: sua
construo data do sculo XVI e teve como primeiro residente Gabriel Soares de
Souza.
21
No sculo XVII foi residncia do desembargador Pedro Unho Castelo
Branco, de onde possivelmente surgiu seu nome atual. Existem relatos de diversos
usos ao longo de sua histria, tais como engenho de acar, fbrica de rap,
depsito de inflamveis da Standard Oil, quartel de fuzileiros navais da 2 guerra
mundial, curtume, sede se subprodutos de cacau de uma empresa baiana, ncleo
de pequenas indstrias. J no sculo XX o governo desapropriou o terreno, doando
o ao MAMB. O conjunto foi restaurado pela arquiteta Lina Bo Bardi, transformando-
se na sede do Museu de Arte Popular e tambm a sede de uma Escola de Desenho
Industrial, fundamentado em extensa pesquisa a respeito dos valores esttico-
culturais brasileiros e meios de transferncia para o desenho industrial. O conjunto,
formado pelo Solar da Casa Grande, Igreja e Senzalas situa-se sobre um
embasamento de pedra grantica, com duas plataformas sobrepostas. Da
construo restavam apenas as paredes externas. Seu uso foi adequado da
21
Gabriel Soares de Sousa foi senhor de engenho na Bahia. Chegou ao Brasil em 1569 e escreveu o Tratado descritivo do
Brasil em 1587, uma das mais valiosas fontes de informao sobre o Brasil do seu tempo. Disponvel em:
http://www.jangadabrasil.com.br/setembro25/al250900.htm. Acesso: maio, 2007.
31
seguinte forma: na antiga capela, situada frente ladeira de acesso, foram locadas
as aulas de artes populares e industriais. Nas senzalas, trs barraces situados ao
lado da casa grande, encontravam-se as oficinas de trabalho com palha,
marcenaria, couro, tecelagem, rendas, e, no solar da casa grande, de trs andares,
encontrava-se o restaurante, museu de arte moderna permanente e de arte popular.
Para a conexo entre os pavimentos Lina projetou uma escada que se desenvolve
entre quatro colunas de sustentao da construo. Seus degraus so presos por
encaixe, sem utilizao de pregos ou cola. Lina faz aluso em seus estudos ao
antigo sistema de encaixe de rodas dos carros de boi.
A arquiteta se fundamentou no mtodo da restaurao crtica, desenvolvida
na Itlia por Carlo Scarpa e Franco Albini. Esse modelo de restaurao trabalha o
respeito pela tradio e ao mesmo tempo reconhece o valor funcional da realidade.
A restaurao critica tem por base o respeito absoluto por tudo aquilo que o monumento
representa como potica, dentro da interpretao moderna da continuidade histrica,
procurando no embalsamar o monumento, mas integr-lo ao mximo na vida moderna.
22
Figura 16 - Solar do Unho, aps a restaurao. 1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Armin Guthman, 1963. Repr. H.G. Flieg
22
BARDI, Lina Bo. Museu salva a cultura da Bahia e o passado pela F. Salvador, BA, Jornal da Bahia, 1963.
32
A restaurao do conjunto preservou os antigos materiais empregados, como
a madeira de lei no revestimento de piso, escada, estruturas, o uso das tesouras de
madeira e telhas cermicas, o uso de alvenaria e tijolos, caixilho de madeiras.
O incio das atividades no museu foi marcado pela exposio Nordeste,
realizada no perodo de novembro de 1963 a fevereiro de 1964. A mostra, que teve
colaborao do Museu de Arte da Universidade do Cear, do Instituto Joaquim
Nabuco de Pesquisas Sociais e do Museu do Limoeiro foi dividida em duas partes, a
mostra de arte popular, realizada no Solar e uma mostra de artistas contemporneos
representantes de trs estados do nordeste brasileiro: Cear, Pernambuco e Bahia.
Esta exposio que inaugura o Museu de Arte Popular do Unho
deveria chamar-se Civilizao do Nordeste. Civilizao. Procurando
tirar da palavra o sentido ulico- retrico que a acompanha.
Civilizao o aspecto prtico da cultura, a vida dos homens em
todos os instantes.
23
Logo em seguida o museu foi tomado pelos militares que apresentaram no
espao uma exposio de armas subversivas da ditadura, quando a arquiteta
retornou para So Paulo.
Lina experimentou intensamente os valores dessa civilizao que conheceu
no perodo e atravs desse espetculo procurou abrir um espao na modernidade
para uma nova leitura de fatores culturais. A arquiteta investigou esses valores, essa
identidade, atravs de inmeras possibilidades, que permeiam de hbitos populares
do cotidiano, hbitos alimentares, tcnicas de construo, hbitos musicais.
23
BARDI, Lina Bo. Texto retirado do cartaz da Exposio Nordeste. (nov. 1963-fev. 1964). Arquivo Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi.
33
Figura 17 - Convite para a Inaugurao do Solar do Unho
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi
Figura18 - Croqui de Lina Bo Bardi para a escada do Unho. 1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
34
Figura 19 - Pea encenada no Unho. 1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 20 - Pea encenada na escada do Unho. 1963
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/Crdito
35
CAPTULO 2 A ARQUITETURA COMO MATERIALIZAO DE UM
IDERIO
Figura 21 - Maquete
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Hans Gnter Flieg
Uma fortaleza que cultiva em seu interior espaos de lazer, de convivncia,
de interao entre as pessoas que a freqentam. Definida pela autora do projeto
como cidadela, ponto de defesa de uma cidade, do ingls, goal
24
, meta; procura
o bem estar do povo atravs de uma experincia autntica de dignidade e
simplicidade. A arquitetura do Sesc se constitui atravs de sua funcionalidade,
apresentando tcnicas contemporneas na execuo. As solues plsticas e de
textura empregadas apresentam um aspecto simples, o que apreende a percepo
dos usurios no espao.
O projeto da Fbrica de Lazer da Pompia realizou-se em duas etapas, em
um total de nove anos. A primeira etapa, recuperao estrutural e adaptao dos
galpes da antiga fbrica para atividades culturais e de lazer, foi realizada de 1977 a
1982. A segunda etapa, construo de torres de concreto aparente para
24
LATORRACA, Giancarlo. (ed.) Cidadela da liberdade.So Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi e Sesc - Servio Social do
Comercio,1999, p.11.
36
acomodao do bloco esportivo, aconteceu de 1982 a 1986. A rea total do terreno
de 16.500m, com 23.500m de rea construda.
Essa concepo do Sesc Pompia carrega elementos antagnicos que a
torna amplamente comunicvel, como o antigo e o moderno representado pelos
galpes horizontais voltados para as atividades culturais e as torres verticais para os
esportes, sintetizando a heterogeneidade do bairro inicialmente fabril, e, na poca da
construo do Sesc, j ocupado pela especulao imobiliria com edificaes
verticais; ou ainda a dialtica de trabalho e lazer, uma antiga fbrica que carrega a
idia do trabalho intenso dos homens que passou a produzir poesia, liberdade
atravs das atividades e relaes que ali se desenvolveram.
Figura 22 - Vista do possvel futuro do Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi, 1983
37
Para os procedimentos tcnicos do restauro dos galpes, Lina baseou-se nos
princpios da carta de Veneza; documento aprovado no segundo congresso
internacional de arquitetos e tcnicos dos monumentos histricos, em maio de 1964.
O documento trata de princpios de preservao de elementos dotados de valores
humanos, testemunhos da histria de um povo. A Carta de Veneza estende-se no
s s grandes criaes mas tambm s obras modestas, que tenham adquirido, com
o tempo, uma significao cultural
25
Para a arquiteta, o passado faz parte do cotidiano, vivo, dinmico. Dessa
maneira ela trabalha os museus que concebe, a disposio de obras de arte no
espao, o restauro de construes histricas. Em artigo intitulado Quarto de
Arquiteto
26
desenvolvido pela arquiteta Olvia de Oliveira esse conceito ilustrado
por uma gravura de Lina onde maquetes de edifcios antigos, modernos, templos,
palcios ocupam todo o espao, como se fossem roupas e objetos de cotidiano,
garantindo essa constante renovao entre o passado e o presente.
Figura 23 - Quarto de arquiteto
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Crdito Lina Bo Bardi
25
CARTA de Veneza.Documento,1964. Disponvel em: http://www.vitruvius.com.br/documento/patrimonio/patrimonio05.asp.
Acesso em: jul. 2006.
26
OLIVEIRA, Olvia Fernandes de. Quarto de Arquiteto. Revista CULUM, n.5.
38
Justificando sua atitude em considerao histria e como ela se adiciona ao
presente, Lina desenvolve a idia de que A Histria aquilo que transforma os
monumentos em documentos
27
, contestando o filsofo Michel Foucault, LHistoire
est ce que transforme des documents en monuments
28
. A histria como documento
traduz a noo de que o passado testemunho da cultura de um povo, e persiste
ainda no presente. Para a arquiteta os monumentos no se referem somente s
obras arquitetnicas, mas do mesmo modo s aes coletivas do povo:
Antes de assumir o compromisso da restaurao e reciclagem da
velha fbrica, procurei me informar sobre sua importncia histrica e
seu valor para a regio. Vi que a industrializao no lado oeste da
cidade est muito ligada s estradas de ferro, que foi tambm o que
gerou a urbanizao dos antigos capoeires e chcaras isoladas
existentes na rea. Falando com os antigos moradores do lugar senti
que havia neles um apego pela construo. Ento a preservao
tinha razo de ser, mesmo tratando-se de uma fbrica despojada, de
arquitetura apenas tcnica.
29
A arquiteta no se limitou ao levantamento do terreno, da regio, observando
seus freqentadores e hbitos, visto que o Sesc j se encontrava funcionando nos
galpes da fbrica; mas ainda participou efetivamente da obra, em todos os passos:
seu escritrio, um barraco de madeira, foi construdo no prprio canteiro de obras,
concebendo muitas das solues no cotidiano da obra ao lado de seus
colaboradores, engenheiros e operrios e as executando juntos. Assim foi no Museu
de Arte de So Paulo, no Solar do Unho, e igualmente na Fbrica de Lazer da
Pompia. O filsofo Eduardo Subirats descreve o escritrio e suas impresses sobre
ele:
Era uma casinha de madeira, de paredes escorridas pelas chuvas e
pelo bolor, que se sustinha sobre umas delgadas pilastras. Conheci
mais tarde estas delicadas arquiteturas nas encostas da selva
amaznica, s que agora a exuberante vegetao estava substituda
pela selvagem monumentalidade de um subrbio industrial de So
Paulo. O conjunto era frgil, chegava-se casinha por uma tenebrosa
escada, que logo dava-se lugar a uma passarela. Seu interior oferecia
assolhos um alegre espetculo: empoeirados arquivos, mesas e
cadeiras velhas, muitas pastas com recorte de jornais, revistas, e
alguns textos manuscritos. Uma certa desordem. E, aqui e ali,
referncias a um museu de arte popular brasileira: joguinhos
maravilhosos, bonecos lavrados por mos delicadas e toscas a um
27
LATORRACA, op. cit., p.38.
28
FOUCAULT,Michel. L'Archologie du Savoir. Paris, Gallimard, 1969. (A Arqueologia do Saber. Rio de Janeiro, Forense-
Universitria, 1972)
29
BARDI, Lina Bo. Escrito sobre a fbrica da Pompia. Arquivo ILBPMB.
39
mesmo tempo, cermicas cheias da mais sensual fantasia. E esse
era o obrador, a oficina, como se chamavam os atelis dos artistas
que construram as Igrejas na Idade Mdia europia.
30
Figura 24 - Lina, Andr Vainer e Marcelo Ferraz no Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi, 1986
A convivncia na obra foi rica e frtil ao lado dos operrios, mestres de obra,
engenheiros e inclusive seus colaboradores, os arquitetos Marcelo Ferraz e Andr
Vainer. Eram muitas as exigncias, mas existia uma relao de trabalho baseada no
respeito, na dignificao da profisso humana do trabalho.
Ela dava voz, dava poder s pessoas. No era autoritria apesar
de ser muito autoritria conceitualmente , tinha um respeito pelo ser
humano que era uma coisa preciosa. Aprendi muito com isso, pela
maneira como ela comandava. [...] Era uma mulher muito dura, mas,
ao mesmo tempo, muito doce, muito gentil e delicada.
31
Lina possua uma capacidade grande de assumir erros e encontrar diferentes
solues que vinham da realidade da obra, sem preconceitos; fossem do tcnico, do
operrio, do arquiteto. Ela no era exatamente contraditria, incoerente, mas
30
SUBIRATS, Eduardo. Os gigantes e a cidade. So Paulo, 1986. Publicado na revista Projeto n. 92 e n. 149. So Paulo, 1992.
31
Entrevista com o artista plstico Rubens Gerchman. So Paulo,13/10/06. Anexo.
40
paradoxal. Essa caracterstica certamente causava muitas brigas no decorrer da
obra, mas traziam as dissonncias, expostas percepo dos usurios.
Sendo o projeto executivo realizado no canteiro de obras , foram permitidas
muitas decises, principalmente de acabamentos, que no seriam possveis no
projeto executivo entregue num s pacote para o cliente. As divergncias, erros de
percurso, caminhos possveis que existem no cotidiano faziam parte do processo de
trabalho. Lina borrou nesse momento a fronteira entre o erudito e popular,
relacionando artistas, tcnicos e operrios, situao de troca que se traduziu numa
arquitetura simples, clara, repleta de poesia. Atravs de toda a sua histria, ligada
condio estrangeira e ao esforo de integrao no novo contexto cultural, a
arquiteta teve a capacidade de produzir uma nova realidade, atravs de uma
releitura de valores.
Figura 25 Lanchonete para o bloco esportivo
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi, 1984
Lina utilizava-se muito de seus croquis para a representao e dilogo na
obra. Seu pai, Enrico Bo, engenheiro e tambm pintor, a ensinou a desenhar desde
pequena. Depois cursou o Liceu Artstico, antes de ingressar na faculdade de
Arquitetura de Roma. Desenhava muito bem. Suas aquarelas, colagens, esboos
41
demonstram que sua percepo estava voltada para as relaes do Homem com o
entorno; retratavam o cotidiano, a realidade do espao imaginado. Nos desenhos da
arquiteta para o Sesc percebemos essa particularidade sobretudo na fase dos
acabamentos, onde obtinha o entrosamento de todos os aspectos, tcnicos ou no,
atravs de croquis em cores, caneta esferogrfica, hidrocr. Durante a realizao da
obra, seguia os experimentos in loco.
Nesses experimentos o espao obteve solues que carregavam um pouco
da cultura dos operrios, incorporando valores do povo, criando identidade; como
acontece com os mdulos de azulejos de folha de bananeira e peixes idealizados
pelo artista plstico Rubens Gerchman, combinados aleatoriamente pelos
trabalhadores e resultando em arranjos autnticos no restaurante e piscina; os pisos
dos galpes para as oficinas de gravura e desenho, feitos com retngulos de
cimento e salpicados com seixos trazidos diretamente de rios do tringulo mineiro,
dosados pelos prprios operrios; a execuo do painel de comunicao para o
restaurante, uma homenagem a Torres Garcia, feito por um operrio da obra, o
Paulista, enfim, diversos detalhes construtivos que evidenciam o valor da
execuo, do fazer. Os resultados, produtos em parte inesperados, so
intencionais. A arquiteta procura uma releitura de valores culturais atravs da
realidade de todos que trabalham no dia a dia da obra. Existe nesse sentido um
grande rigor ideolgico da arquiteta na busca do que seria para ela a cultura
brasileira.
A cultura um fato de todo o dia. E o que a gente conseguiu pr,
dentro de um plano da realidade de certa realidade esse fato
prtico da cultura, que vai das coisas mais humildes at certas coisas
importantes.
32
32
BARDI, Lina Bo. In Entrevista de Fbio Malavglia com Lina Bo Bardi. Realizada em duas sesses, de 23 e 26 de agosto de
1986. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
42
2.1. Interveno no existente: 1 fase do projeto
A interveno no conjunto dos galpes da fbrica levou seis anos para se
concluir, e no houve modificao estrutural. A escolha de materiais para as
alteraes foi feita com critrio para que a integrao entre o antigo e o novo
parecesse natural, porm diferenciada. A fbrica se encontrava com as paredes
externas rebocadas e Lina optou por evidenciar os tijolos da construo.
33
Podemos
constatar em fotografias tiradas pelo fotgrafo Hans Gntter Flieg, no inicio da
dcada de 50, para o desenvolvimento de material publicitrio para a IBESA, que as
paredes externas encontravam-se rebocadas, e as internas, de tijolo vista. A
limpeza foi realizada com jatos de areia e em seguida, os tijolos originais foram
limpados. As telhas da fbrica, da mesma forma, foram lavadas e recolocadas. A
construo despida mostrou os elementos originais conservados: estrutura, parede
externa e cobertura.
A idia foi expor a histria da construo da fbrica e toda a sua evoluo ao
longo do tempo. Nos acrscimos arquitetnicos foram empregadas tcnicas
modernas sem rebuscamento ou relevo. O concreto utilizado, por exemplo, possui
um aspecto bruto, diferente das vigas e pilares originais; elementos como tijolos de
concreto aparente foram utilizados nos atelis, biblioteca, salas de msica e
separaes internas; a tubulao toda aparente e diferenciada por cinco cores
marcando funes, trs principais (vermelho para esgoto e incndio, amarelo para
som e azul para eletricidade) e mais duas complementares (verde para gua e
laranja para linhas telefnicas), o que tambm proporciona uma manuteno rpida
e eficaz. Esse esquema foi utilizado tambm no MASP Museu de Arte de So
Paulo (So Paulo, 1957-1968) e na casa do Benin (Salvador, 1987). Lina tinha a
tendncia de repetir solues que funcionaram bem em outras experincias de
projetos, adaptando-as ao novo uso. Assim foi cultivando uma seqncia, uma
narrativa de sua obra.
33
Entrevista com o arquiteto Andr Vainer. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
43
As portas da antiga fbrica, em madeira de lei, foram preservadas. Nas
aberturas, foram colocadas esquadrias treliadas, tambm em madeira de lei,
tambm utilizadas na restaurao do Solar do Unho (1959-1963) e Casa Valeria
Cirell (So Paulo,1958).
Os muxarabis foram utilizados largamente na arquitetura colonial brasileira,
emergidas da colonizao portuguesa e de suas referncias mouriscas, podendo
ainda ser observados em construes de cidades histricas como Ouro Preto,
Mariana, Diamantina. O elemento adaptado na obra do Sesc possui um fator
intencional, mostrando vnculo com a cultura popular, mas trabalhada de maneira
particular. A articulao entre a modernidade e a tradio foi tambm objeto de
estudo de Lcio Costa, sendo os muxarabis componentes de sua arquitetura no
incio dos anos 1930. Um exemplo o projeto para a Vila Monlevade, 1934:
Assim, a pequena cidade idealizada por Lcio Costa [Vila
Monlevade] resultante de uma sntese entre elementos e valores
aparentemente dspares: concreto e barro, telha de amianto e
venezianas de madeira, pilotis e muxarabi, festana da roa e mveis
standard, estradas rurais e preceitos da urbanizao moderna...
34
A mesma condio pode ser observada na utilizao dos azulejos
desenhados em motivos predominantemente azuis no restaurante da fbrica e
tambm na piscina, uma herana portuguesa utilizada largamente na arquitetura
colonial e j adaptada no inicio da arquitetura moderna brasileira com a sntese das
artes. O tema figurativo evocado nos azulejos da piscina do Sesc pelo artista
plstico Rubens Gerchman; peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, foi
justamente o tema utilizado por Portinari no Ministrio da Educao e Sade, edifcio
precursor da arquitetura moderna brasileira, projetado por Lucio Costa e equipe.
Desde o inicio da arquitetura moderna no Brasil podemos encontrar a integrao nos
trabalhos entre arquiteto, escultores e pintores.
35
Essa ainda uma particularidade
de Lina, que acredita a arquitetura como um produto do trabalho conjunto do
arquiteto, artista, arteso, engenheiro; conforme observado pelo arquiteto Andr
Vainer, A Lina sempre incorporou coisas de outras pessoas nas obras, o que
34
GUERRA,Ablio. Lcio Costa:modernidade e tradio Montagem discursiva da arquitetura moderna brasileira. Tese de
doutoramento. So Paulo, 2002, p. 23.
35
FERNANDES, Fernanda. A sntese das artes e a moderna arquitetura brasileira dos anos 1950. Disponvel em
http://www.iar.unicamp.br/dap/vanguarda/artigos_pdf/fernanda_fernandes.pdf.
44
muito interessante. Significa que voc no est sozinho fazendo o projeto, est
aberto a que o projeto tenha participao de outras pessoas.
36
Lina utiliza continuamente elementos extrados da cultura popular, o que nos
trs intimidade com sua obra: a consolidao do projeto se estrutura a partir de
valores culturais e, atrelado a isso, trabalha a criatividade. A arquiteta define sua
prpria arquitetura como poesia realizada com grande rigor tcnico e prtica
cientfica.
37
A materializao dessa poesia acontece no projeto do Sesc Pompia atravs
da naturalidade na qual o espao projetado e da insero de uma perspectiva
humana. Em texto escrito em ocasio de premiao pela cenografia da pea UBU-
Folias, Pataphysicas e Musicaes (1985), a arquiteta cita Lautreamont
38
: a arte deve
ser feita por todos e no por um s,
39
sugerindo que o espao feito por quem o
circula, com ele interage, o vivencia. Esse , igualmente, o princpio utilizado no
Sesc Pompia: um espao amplo, galpes de fbrica, que proporcionam infinitas
possibilidades e arranjos para o lazer.
Mas ningum transformou nada. Encontramos uma fbrica com
uma estrutura belssima, arquitetonicamente importante, original,
ningum mexeu. Ns colocamos apenas algumas coisinhas: um
pouco de gua, uma lareira. Quanto menos cacareco, melhor.
Fizemos tambm um esforo para dignificar a posio humana.
40
36
Entrevista com o arquiteto Andr Vainer. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
37
C.f. MICHILLES, Aurlio.vdeo Lina Bo Bardi. So Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994.
38
Pseudnimo de poeta uruguaio Isidore Ducasse. Disponvel em http://pt.wikipedia.org/wiki/Conde_de_Lautr%C3%A9amont.
Acesso jun./2007
39
BARDI, Lina Bo. UBU Folias physicas, pataphysicas e musicaes. In: FERRAZ, Marcelo (org.). Lina Bo Bardi. So Paulo,
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p. 260.
40
_____________. Interview n63. So Paulo, ago./1983.
45
Figura 26 - Sesc Pompia em obras
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 27 - Retirada do reboco das paredes originais do Galpo de Atividades gerais. Abril/80
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
46
Figura 28 - Detalhe da tubulao aparente do Sesc
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 29 - Detalhe das trelias do galpo de atividades gerais
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
47
Figura 30 - Retirada do reboco das paredes originais do Galpo de Atividades gerais. Abril/80
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
2.1.1. Os galpes e suas atividades
O eixo principal de circulao do Sesc Pompia se d por uma antiga rua
interna de paraleleppedos da fbrica que permeia os galpes restaurados. Uma
evocao dos primrdios da vida urbana em So Paulo e das vilas operrias, onde
as ruas, com o calamento de paraleleppedos,
41
eram o ponto de abrigo de aes
coletivas urbanas, a conexo entre um lugar e outro, o ir e vir de crianas, velhos,
homens mulheres. Lina procura preservar esse valor democrtico na entrada da
fbrica de lazer. Muitas atividades e brincadeiras acontecem nos caminhos da
cidadela. A arquitetura aqui definida pelo efmero, pelo cotidiano.
41
O calamento de paraleleppedos foi introduzido em So Paulo entre 1870-73, tornando-se freqente a partir de 1910. C.f.
YZIGI, Eduardo. O mundo das caladas. So Paulo: Humanitas/FFLCH6/USP; Imprensa Oficial do Estado, 2000.
48
Figura 31 - Atividade na rua interna.
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Os paraleleppedos possuam para Lina a conotao de elogio ao povo. A
arquiteta se rebelava com a madame de salto alto que fosse entrar no Pompia, ou
desquitadas que pretendiam fazer cursos nos atelis, mas fez questo de incluir o
deficiente fsico. Depois de pronto o projeto a arquiteta acabou por delinear uma
passagem plana entre as pedras aos usurios.
Os paraleleppedos so um dos calamentos mais sublimes da
histria da humanidade, documentos seculares de pedras cortadas e
alisadas com as mos, por homens, mulheres, crianas, documentos
de civilizao da qual os deficientes no devem ser excludos.
42
Medindo 134 metros de comprimento e oito metros de largura, a rua foi
mantida com o revestimento de paraleleppedos original. A areia empregada para
assent-los foi substituda por terra, propiciando o crescimento de grama em seus
vos, o que produziu um aspecto interiorano. margem da rua segue uma larga
vala de concreto e alvenaria revestida com seixos rolados para o escoamento das
guas. O revestimento, de textura belssima, foi concebido para produzir sonoridade
ao chover.
42
BARDI, Lina Bo. Esboo de carta a ser endereada ao professor Luiz Carlos Zanolli. So Paulo, Arquivo Instituto Lina Bo e
P. M. Bardi, sem data.
49
Ela [Lina] dizia que aquilo quebrava a chuva, quando vinha a chuva,
a gua violenta, e fazia barulhinho tambm, ela tinha essa ligao
com a natureza. Aquela soluo de acmulo das pedrinhas; vi os
caras fazendo artesanalmente. A Lina ia l, e, puxa pra c, puxa pra
l, era muito legal de ver. Ela cuidava daquilo como se fosse a casa
dela, como se fosse uma escultura, ou um jardim que ela estivesse
regando.
43
Figura 32 - Incio das obras na rua interna
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
43
Entrevista com o artista plstico Rubens Gerchman. So Paulo,13/10/06. Anexo.
50
Figura 33 - Calha de concreto e alvenaria revestida com seixos rolados
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
A rua torna-se o ponto de encontro obrigatrio dos diversos galpes. A nova
proposta do Sesc para o espao de lazer adotou o aproveitamento do espao
horizontal, o que possibilitava uma utilizao funcional e polivalente.
A preservao do prdio acrescentaria muito ao trabalho social que
l se desenvolve, em funo do dado esttico e de funcionalidade. A
construo de rara beleza, e sua horizontalidade facilita a
integrao de pessoas estimulando o convvio grupal informal. A
horizontalidade, eliminando o constrangimento das estruturas
verticais, oferece, ainda, alm das j citadas, outras inegveis
vantagens sobre a verticalidade. Possibilita a integrao e
informalizao das atividades, dotando-as de colorido que nasce de
espontaneidade, dos espaos abertos, da luz natural e da vegetao
prpria para o nosso clima.
44
So quatro os principais plos de atividades culturais que ladeiam a rua
central na fbrica de lazer; as atividades gerais, o teatro, os atelis e o restaurante-
choperia.
44
REQUIXA, Renato. Proposta de preservao do prdio do centro cultural e desportivo Pompia. So Paulo, Arquivo Instituto
Lina Bo e P. M. Bardi, 21/jan./1977.
51
Alm desses principais galpes existe um espao destinado ao almoxarifado
e apoio s oficinas, situado em frente ao galpo das oficinas, o qual a arquiteta
intencionava utilizar ainda para uma rea de jogos para crianas, e a Administrao,
uma rea de 700m situada na entrada do conjunto ao lado direito. Esse espao no
sofreu muitas alteraes, houve apenas a construo de algumas alvenarias. O
layout das salas foi definido pela arquiteta, assim como o seu mobilirio, mesas de
vidro com a base funcionando como arquivo.
Na administrao, porta de entrada para o conjunto do Pompia, foi colocada
uma carranca feita por artesos de Pirapora, Minas Gerais; presente do professor
Bardi ao Sesc. Segundo a tradio, a carranca afastaria os maus espritos ou o mau
olhado e nesta ocasio foi colocada como smbolo de proteo.
Galpo de Atividades Gerais
Nos primeiros estudos de Lina para o interior do galpo de Atividades Gerais
ela props a insero de pisos elevados de madeira laminada de diferentes ps
direitos, unidos por rampas sinuosas, cercadas de vegetao. A arquiteta procura
trazer movimento, vida ao espao. As solues do projeto foram modificadas, mas
essa questo central a ser projetada no espao foi preservada.
Figura 34 - Primeiros estudos para a restaurao da fbrica
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
52
O galpo de atividades gerais o mais amplo do conjunto. Livre das paredes
internas abriga variadas atividades; exposies, biblioteca, rea de leitura, estar,
jogos. A iluminao acontece pelos sheds, e pela insero de cobertura de telhas de
vidro em uma das guas da estrutura. Em estudos existe a proposta de se cobrir
todo o galpo com telhas de vidro, o que no foi possvel devido ao conforto trmico
do espao.
As interferncias no espao foram singelas, a dignificao da posio humana
aparece no sentido criativo e recreativo materializado. A arquiteta colocou o fogo, a
gua, pequenas alegrias, como ela as batizou, arranjadas para a fbrica de lazer:
uma lareira e um grande espelho dgua revestido internamente por pedras do
tringulo mineiro. Lina no queria um desenho racional, pensado. Seu contorno foi
definido in loco, livre de composies. O Rio So Francisco, trao de unio de
diversas atividades, idades e tipos.A arquitetura no precisa ser romntica no
sentido pequeno, domstico da expresso. Ela pode ser potica.
45
Lina criou volumes de concreto aparente suspensos com 1,20 metros de
altura no guarda corpo para leitura e salas com sesses de vdeo abaixo. O concreto
apresenta textura bruta, evidenciando as marcas do madeiramento vertical utilizado
na concretagem da forma. Todo o piso foi trocado, utilizando-se pedra gois. O
bloco integra-se no ambiente com naturalidade; um ambiente reservado para leitura
de jornais e revistas e biblioteca situou-se logo na parte inferior. O espao era
percorrido com muita liberdade e circulao, sem grandes interferncias nas reas
de diferentes funes. O lazer colocado com liberdade, sem muitas regras ou
imposies. Lina encontrou muitas oposies para realizar essa idia:
Mas existiu essa briga da Lina com as bibliotecrias. Elas queriam
organizar a biblioteca de tal forma que a pessoa no tivesse a menor
chance de roubar um livro. Acho que iam distribuir vrias cmeras. E
a Lina brigava: Ento os homens vo roubar os livros? Jura? Mas
que timo! Ah, se um dia me disserem que acabou a biblioteca
porque roubaram todos os livros! Temos que dar uma festa!. E as
bibliotecrias arrancavam os cabelos!
46
45
BARDI, Lina Bo. A Oficina da Criao: Lina Bo Bardi conseguiu transformar num ousado centro de lazer os galpes
tradicionais de uma antiga fbrica de geladeiras. Revista VEJA. So Paulo, 14/abril/1982.
46
Entrevista com a sociloga Celene Canoas. So Paulo, 30/01/2007. Anexo.
53
Figura 35 - Concretagem do contrapiso do leito do rio. Dezembro/1979
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 36 - Rio com a forrao de seixo rolado e piso do galpo com revestimento de pedra mineira. Janeiro/1980
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
54
Figura 37 - Montagem das formas da sala de leitura e biblioteca
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 38 - Salas de leitura e piso prontos
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
55
O Teatro
O Teatro do Centro de Lazer da Pompia situa-se na seqncia do Galpo de
Atividade Gerais, ladeando a rua central pela direita. Seu foyer corresponde
originalmente a uma das entradas da fbrica. O espao foi planejado para abrigar
exposies e demais atividades ao ar livre.
As telhas da cobertura foram trocadas por telhas de vidro e um volume
suspenso, que leva aos camarins e ao acesso da galeria do teatro, foi construdo em
concreto bruto aparente. O piso original foi substitudo por paraleleppedos, seguindo
o padro da rua principal. Suas duas extremidades foram fechadas com grandes
esquadrias em trelia de madeira. O jogo de texturas empregado no espao muito
atraente. Com elementos rsticos e o concreto spero marcando as intervenes do
conjunto de galpes existentes, Lina construiu uma linguagem forte e impactante.
Figura 39 Foyer teatro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
56
Figura 40 Foyer teatro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
O Teatro, rea que mais sofreu modificaes na interveno, conformado
por duas platias opostas, mais duas galerias superiores de trs metros de
comprimento.O palco e sua iluminao foram projetados em conjunto com o artista e
cengrafo Flvio Imprio. Ele desmontvel, composto por pranchas de pinho. So
55 mdulos de 2m x 1m. O espao nem sempre foi utilizado na sua forma integral.
Lina se referia ao Teatro como auditrio, o que evoca a imagem de uso mais
informal e variado. A arquiteta procura desenvolver em todos os mbitos o lazer
descomprometido no espao.
O programa que melhor utilizou o espao foi o Fbrica do Som, realizado em
parceria entre a direo do Sesc Pompia e a TV Cultura. O programa, de grande
sucesso, foi ao ar pela primeira vez no dia 12 de maro de 1982, com apresentao
de Tadeu Jungle. Contava com a participao ativa do pblico, apresentando carter
revolucionrio: lanou nomes importantes na cena do rock e punk nacionais, como o
Tits, o Premeditando o Breque, o Ira! A comunho do espao com o programa se
deve ao carter de novidade e movimento do espao.
57
Figura 41 Teatro-auditrio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 42 Apresentao do Fbrica do Som no teatro do Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
58
Oficinas
O galpo de oficinas o ltimo bloco voltado para o lado direito da rua de
paraleleppedos. So seis as atividades que compe o espao: marcenaria,
cermica, cinzelamento, gravura e serigrafia, tapearia, grfica. O ateli foi
idealizado para o desenvolvimento de atividades manuais, aberto ao pblico em
geral. Flvio Imprio participou na concepo do programa das oficinas com forte
base ideolgica. A idia inicial do Sesc era constituir ateli de artistas, o que
contradizia o iderio concebido por Lina para o espao. Inicialmente, muitos artistas
renomados ministraram cursos nos atelis para atrair o pblico para as atividades.
Figura 43 Estudo para disposio dos atelis
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
A disposio dos atelis foi inspirada na obra do arquiteto holands Aldo Van
Eyck, conhecido pelos seus projetos de parques infantis ldicos. Seus limites so
marcados por blocos de concreto, com 2,20m de altura, dispostos em volumes
circulares e retilneos com aberturas desencontradas, favorecendo um percurso que
promove mais um jogo, uma brincadeira no espao. A arquiteta batiza os segmentos
de muros labirinto. O assentamento desses blocos favorece a idia do inacabado,
mostrando o cimento escorrendo pelas superfcies externas. A arquiteta brinca com
a textura dos materiais intencionando tambm deixar a superfcie sempre mostra,
59
sendo que, com a rugosidade formada, no se consegue pendurar ou colar objetos.
Um outro bloco ao fundo do galpo abriga um laboratrio fotogrfico no trreo e o
sistema de ar condicionado para o teatro.
No ateli, ela quis fazer uma homenagem ao Aldo van Eyck. Ela
tinha em mente um projeto do Aldo, um playground formado por
labirintos de bloco, e ela achou que deveria usar uma coisa similar, de
certa maneira mostrar como aquilo era uma obra da verdade. O
material estava o tempo todo colocado no prprio sentido da
restaurao, sem recuperar o tijolo de maneira certinha e
formalmente adaptada. O olhar de restaurao dela foi de materiais
que pudessem ir se sucedendo. Existem muitas paredes em que o
tijolo est colocado de um jeito, de outro ora surgia uma abertura,
ento se fechava.
47
O piso deste espao tambm ganha carter pessoal e referncia popular
graas s placas de cimento forradas com seixos salpicados, trazidos de rios. Sua
dosagem foi definida pelos operrios que aplicavam o cimento.
Figura 44 Vista geral dos atelis
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
47
Entrevista com o arquiteto Andr Vainer. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
60
Restaurante- Choperia
Ao lado esquerdo do conjunto restaurado encontramos na seqncia o
almoxarifado em frente ao galpo de oficinas, o restaurante, que ocupa a maior
extenso, e por fim um ambiente aberto com banheiro.
No restaurante foi projetada uma cozinha industrial com capacidade para 1.500
refeies por perodo. Observa-se uma grande quantidade de tubulao colorida no
espao. O forro coberto por placas metlicas e o piso de cermica vermelha em
toda a extenso. Lina utiliza os azulejos desenhados por Rubens Gerchman, com o
esboo de folhas de bananeira, na cozinha.
Figura 45 Vista restaurante do Pompia obras
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
61
Figura 46 Vista geral restaurante do Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Outro artista plstico que participou da composio desse espao,
caracterizado igualmente por fatos populares, Edmar Jos de Almeida (Arax,
1944). Na estrutura superior do restaurante foram suspensos exemplares de tecidos
em tear e tapearias feitas em ponto kilim
48
, com o uso de corantes naturais.
O restaurante, acompanhando a linguagem do conjunto, possui carter
despojado, feito para a coletividade atravs de uma dimenso industrial. Seu
programa adequou-se perfeitamente ao espao. Projetado para abrigar restaurante
e choperia, funciona do mesmo modo at os dias atuais. Um espao de vanguarda
onde se combinam musica eletrnica, popular, rock, punk, baile da saudade, etc.
48
O Kilim um tapete de origem oriental. Seu nome tem origem turca e significa dupla-face. A tapearia pode ser utilizada de
ambos os lados pois confeccionada da mesma maneira que um bordado.
62
2.1.2. Mobilirio
Todo o mobilirio do Sesc desenhado pela arquiteta. Sua concepo se
aproxima da unidade do conjunto, carregada de simplicidade e poesia. Para se
estabelecer o sentido das decises de Lina para o mobilirio proposto para a Fbrica
da Pompia, faz-se necessrio situar seu repertrio acerca do desenho industrial.
Chegando ao Brasil Lina percebe a ausncia de estudos no campo do
desenho industrial. Em sua gerao, na Itlia, ps-segunda guerra mundial, o design
industrial aparecia como uma esperana de liberdade: liberdade dos homens, da
escravido dos trabalhos pesados, das mulheres nos afazeres domsticos:
o desenho industrial ainda no tinha esse nome, mas que
era o desenho ligado a produo industrial daquela poca, aparecia
como esperana de libertao. Pouco antes do final da guerra, j
percebamos o perfil bem claro daquilo que iramos lanar como a
libertao dos homens, da escravido do trabalho pesado, que
persistiu at a vspera da II Guerra Mundial. Especialmente a
libertao da mulher, que com os trabalhos domsticos, sem a ajuda
mecnica, ficava presa aos filhos, casa, cozinha, sem a
possibilidade de ter vida prpria e um trabalho fora do ambiente
domstico.
49
Ao desenvolver o auditrio da sede provisria do Museu de Arte de So Paulo
da Rua 7 de Abril (1947), que serviria tambm para sala de dana e ensino de
msica, observou que era inexistente no pas um mobilirio com um desenho
moderno que maximizasse o aproveitamento do espao. Criou ento uma cadeira
dobrvel e empilhvel de jacarand da Bahia compensado, com assento e espaldar
em couro esticado (1947).
49
BARDI, Lina Bo. Entrevista concedida aos pesquisadores Marcos Cartum e Maria Lydia Fiaminghi. So Paulo, Arquivo
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,1984.
63
Figura 47 Cadeira Masp 7 de abril
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Pouco depois, Lina Bo e Giancarlo Palanti (1906-1977) iniciam uma produo
manufatureira voltada para o desenho industrial no Studio de Arte Palma (1948-
1950). O escritrio levou o mesmo nome da galeria de Pietro Maria Bardi (1900-
1999) em Roma.
Giancarlo Palanti (1906-1977) formou-se arquiteto pelo Politcnico de Milo
em 1929. Tinha relao com uma linha de design na Itlia promovida por Adriano
Olivetti, onde trabalhou com projetos de stands, lojas e escritrios. Essa linha
marcou fortemente o design italiano no perodo. Palanti veio para o Brasil em 1947.
Giancarlo Palanti foi um personagem importante na transposio
dessa experincia para o contexto brasileiro. Pertence a uma
segunda gerao do movimento racionalista da qual fazem parte seus
principais parceiros de projeto, Franco Albini e Albert Camus,
formados pelo Politcnico de Milo em 1929. A obra realizada em
conjunto apresenta maiores proximidades com a nova objetividade
alem do que com os apelos do mediterrneo. Antes de transferir
para o Brasil em 1947, a carreira de Palanti na Itlia reuniu trabalhos
que iam do design de objetos e mobilirios at planos urbansticos. O
interesse comum em desenvolver um mobilirio moderno, produzido
industrialmente, levaria associao com Lina Bo bardi, onde
64
realizariam projetos de mveis em compensado de madeira,
produzidos de forma manufatureira, e de interiores para residncias,
lojas e stands de exposies.
50
O uso do compensado recortado em folhas paralelas foi uma das principais
novidades introduzidas pelo Studio de Arte Palma:
fizemos a primeira tentativa de produo manufatureira (no bem
industrial) de mveis de madeira compensada cortada em p (no
dobrados como Alvar Aalto). Cortados em folhas e outras tentativas
com materiais brasileiros. Usamos inclusive muito chitas das Casas
Pernambucanas e couro, ao invs das fazendas feitas mo, muito
luxuosas, que se usava na poca.
51
Figura 48 Cadeira Z madeira compensada
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Roberto Maia
50
ANELLI, Renato. A ao cultural de Lina Bo Bardi. Texto de Livre Docncia. Sem data.
51
BARDI, Lina Bo. Lina Bo Bardi: Palma. In FERRAZ, Marcelo (org). Lina Bo Bardi. So Paulo, Charta,1993, p.56.
65
Figura 49 Cadeira madeira compensada e chita
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Lina trabalha com a simplicidade estrutural, levantando um estudo a partir das
madeiras brasileiras e procurando sempre atender a natureza humana, a lgica do
sentar no empregando aquilo que considerado arbitrrio ou intil.
O Studio Palma, mesmo ainda ligado aos esquemas culturais europeus,
enfatizava a importncia e necessidade do desenvolvimento de um mobilirio
nacional. Lina e Palanti utilizavam materiais nacionais e populares, como a madeira,
a chita e o couro. So ainda exemplos de cadeiras desenvolvidas por Lina seguindo
as idias da introduo de formas racionais valendo-se de materiais voltados ao
clima brasileiro: a poltrona trip em madeira torneada, com assento e encosto em
tecido removvel, de 1948, a poltrona preguiosa de cedro macio com assento e
encosto em sisal natural; a bardis bowl, uma semi-circunferncia lanada em 1951
pela Ambiente.
66
Figura 50 Cadeira trip em madeira assento removvel em couro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 51 Cadeira preguiosa
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
67
Figura 52 Cadeira Bowl - publicidade
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Lina assume que a liberdade que buscava no Brasil no era a mesma
liberdade a ser alcanada na Itlia, pas arrasado pela guerra e em busca de um
modo de vida compatvel com a industrializao, mas uma liberdade proveniente do
envolvimento com a suas realidades e possibilidades. Existia um novo design a ser
trabalhado em cima da cultura popular brasileira.
No ano de 1957 a arquiteta participa de um concurso para mobilirio italiano
experimentando as idias que pesquisava no pas, realizado em Cant, uma
pequena cidade na Itlia conhecida como o centro do mau gosto.
Cant uma pequena cidade perto de Milo, o centro dos
marceneiros artezes, que herdaram a tcnica tradicional mais
esmerada juntamente ao pssimo gosto e as idias confusas que
podem ser causadas somente pelo no-acompanhamento evoluo
dos tempos.
52
52
BARDI, Lina Bo. Artezanato Industrial? Concurso para mobilirio. So Paulo, HABITAT n.46, 1958. Apud. FERRAZ, Marcelo
(org). Lina Bo Bardi. So Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,1993, p.96.
68
Em seu texto de livre docncia, A ao cultural de Lina Bo Bardi, Renato
Anelli alega que o interesse da arquiteta pela cultura popular no se restringia
somente ao Nordeste, pois houve tambm um envolvimento com a cultura caipira do
interior do Estado de So Paulo. No Sesc Pompia desenvolve exposies dirigidas
para o costume do caipira, como veremos adiante. No concurso para mobilirio de
Cant j observamos estudos voltados para o tema:
A srie de mveis propostos para o concurso constituda por um
nico elemento base, desenhado de acordo com as observaes
feitas com os caboclos do interior que ficam por horas a fio de
ccoras. Neste hbito que vem dos ndios o corpo assume uma
posio especial, e o mvel que corresponde a esta posio o
banquinho, muito usado antigamente nas fazendas de caf. Ao
estudar a posio do corpo humano sentado no banquinho ou de
ccoras, pode-se observar a relao entre a curva do corpo sentado e
a curva inferior da perna correspondente ao joelho.
53
A arquiteta se aproxima mais uma vez da viso culturalista de Mario de
Andrade, com o idealismo terico calcado na viso romntica do caboclo do
interior. Seu discurso valoriza o primitivo, a investigao nas razes brasileiras. A
memria dos autores modernistas significante para a identidade de sua obra.
Lina continuou desenvolvendo mobilirio, mas inseridos nos projetos de
arquitetura. Na Bahia desenhou a cadeira para o auditrio do Teatro Castro Alves
para o MAMB e realizou diversos estudos de mobilirio para o Solar do Unho.
Nesses estudos encontramos similaridades nas cadeiras posteriormente
desenvolvidas para o restaurante do Benin (girafinha) e projeto Barroquinha (Frei
Egdio).
53
Ibidem.
69
Figura 53 Cadeira auditrio teatro Castro Alves
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
No Sesc Pompia Lina desenvolve o mobilirio fundamentando-se na
simplicidade esttica e dos materiais, procura a liberdade no estar. A arquiteta
possui extensa pesquisa com base antropolgica, e comum encontrarmos em
seus croquis de mobilirio cenas alegres, coloridas, de pessoas usufruindo o espao
desenvolvido. Existe muita crtica acerca das cadeiras duras e desconfortveis
criadas para o Sesc. Lina estabelece o anti-confort, uma tomada de posio: a
simplificao dos meios existenciais promove o equilbrio do conjunto. o distanciar
e envolver, o ir e vir do povo, a arquitetura viva e em movimento no conjunto. O
mobilirio permanece nos ambientes, cada qual com suas particularidades mas com
um significado comum. Observamos hoje o espao ocupado por crianas brincando,
pessoas lendo ou repousando nos mveis projetados.
Os materiais utilizados para o mobilirio desenvolvido no Sesc so
basicamente o concreto e a madeira macia encerada (Pinus Elliotis). Para o Galpo
de Atividades Gerais, Lina desenvolve o mobilirio da biblioteca, exposies,
descansos, sala de msicas. A arquiteta desenha almofadas magras de lona
locomotiva
54
nas cores branco, azul, vermelho, laranja, lils, rosa, celeste,
procurando passar a idia de um campo verde cheio de flores. Em um de seus
54
BARDI, Lina Bo. Anotaes sobre o Sesc Pompia. Sem data [1982?]. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
70
estudos cita a inteno de se parecer um Klimt. Como nos banheiros do bloco
esportivo, que busca a sutileza de nuances das cores no pintor Yves Klein, aqui ela
procura trabalhar o ambiente como se fosse uma figura do pintor impressionista
(1862-1918), uma mistura de cores que lembra ainda uma colcha de retalhos.
Figura 54 Mobilirio desenvolvido para o galpo de atividades gerais
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 55 Mobilirio desenvolvido para o galpo de atividades gerais
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
71
Outra cadeira que ganha roupas em seus desenhos so as do teatro: tambm
sobre a lona locomotiva Lina desenha vestidinhos e conjuntos de camiseta e
bermuda sobre o mobilirio, no realizados. Lina procura aqui o distanciar e
envolver, e no apenas o sentar-se fazendo aluso aos jogos de futebol nos
estdios e aos teatros greco-romanos e autos da idade mdia apresentados em
praas.
Figura 56 Estudo de roupas para o teatro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
Para as crianas ela desenvolve um cubo: conjunto de cadeira e mesa para
jogos, audio de msicas, leituras.
72
Figura 57 Mobilirio desenvolvido para crianas
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
No galpo destinado ao restaurante e choperia, desenvolve bancos de
laminado industrial em madeira macia com base em concreto. Um mobilirio
resistente para o dia a dia:
As cadeiras de cimento, da choperia, tambm. Aquela coisa
pesada. Quando o Tim Maia tocou l, lembro que a Cilene subiu em
cima da mesa. No tinha como quebrar uma cadeira, acontecer
alguma coisa (Valter).
Tambm, eram Tim Maia e Sandra de S. Liberou geral (Cilene).
55
55
CANOAS, Cilene e Valter. Entrevista realizada em So Paulo, 30/01/2007. Anexo.
73
Figura 58 Concretagem mobilirio restaurante
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 59 Mobilirio desenvolvido para restaurante
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
74
2.1.3. Comunicao visual
A linguagem para a comunicao visual do Centro de Lazer do Pompia foi
pensada da maneira mais simples possvel, contudo carregada de metforas.
A arquitetura do Sesc foi construda atravs de uma forte unidade ideolgica
que por si s comunica. A identidade do usurio est vinculada histria, e aos
diversos sons, cores, texturas e propores inventadas. A prpria terminologia inicial
do Sesc foi alterada com o intuito de harmonizar com o espao. O nome Centro
Cultural e Desportivo Jess Pinto Freire
56
foi modificado para Centro de Lazer
Sesc - Fbrica da Pompia. O primeiro nome trazia, segundo a arquiteta, a idia do
esporte e cultura como imposio, obrigao. O nome de Fbrica de Lazer por sua
vez simboliza a produo do cio, dos jogos, da capacidade criadora dos usurios.
Nessa realidade criada por Lina, a cultura assimilada como convvio, no como
obrigao.
uma coisa que acontecia nos Sesc em geral, que era o Centro
Cultural e Desportivo. Lina disse, Cultural fica meio batido. cultural
vai ter que se fazer cultura. Porque a composio dessa palavra est
to pesada e desgastada ao mesmo tempo. E desportivo esporte
competitivo. Vamos pensar numa coisa de um esporte mais livre, de
recreao. E com isso ela prope centro de Lazer. E eles no
aceitam de imediato. Isso demora alguns anos, de a gente
desenhando. Nos nossos primeiros desenhos estava centro cultural e
desportivo.. num momento seguinte a gente deixou de chamar de
centro cultural e desportivo nos nossos desenhos, mas ainda no
tinha sido oficializado que no era. Ento foi criando uma tenso que
at no momento de inaugurar em 82 no era mais centro cultural e
desportivo, ento tinha sido de certa maneira incorporado todo um
iderio, um conceito, uma ideologia mesmo da Lina o que devia ser
aquele centro no projeto do Sesc.
57
A comunicao do Sesc por sua vez englobou uma gama de diferenciais,
como a concepo de caixotes de madeira em relevo desenhados por Lina em
homenagem ao artista plstico Torres Garcia e desenvolvidas pelo operrio
responsvel pela marcenaria, o Paulista. Somente um desses caixotes foi
56
O Senador Jess Pinto Freire(1918-1980) , natural do Rio Grande do Norte, foi eleito presidente da CNC (Confederao
Nacional do Comrcio) em 1964. Disponvel em: http://www.portaldocomercio.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=24 Acesso
jul./2007.
57
Entrevista com o arquiteto Marcelo Ferraz. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
75
finalizado e utilizado como indicao do restaurante. Lina, alm de trabalhar com
uma equipe de diversos profissionais, dando a eles a oportunidade de criar e fazer
diferena, tambm envolve seu trabalho de referncias e tributos pessoais. A
homenagem a Torres Garcia se d pelas formas vivas, tridimensionais e claras do
artista. Outras esculturas de madeira foram idealizadas, como uma mscara na
entrada do teatro, de madeira policromada, a ser colocada na entrada da do foyer
pela Rua Baro de Bananal, que no foi realizada.
Figura 60 Homenagem a Torres Garcia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Um totem foi idealizado na entrada, uma idia j realizada no MASP, com a
indicao das atividades. Lina utiliza o desenho de uma mo de madeira cor-de-rosa
para indicar os caminhos, ao invs de uma seta. Os elementos grficos utilizados
pela arquiteta apresentam um teor de brincadeira. As letras so brutas, de cor
vermelha; os smbolos comunicam de modo alegre e espontneo.
Lina desenhou diversos elementos com o intudo de preencher o espao com
poesia, voltados para o cotidiano, como uma cabine de banheiro para as reas do
deque, uma bilheteria mvel, as roupas dos funcionrios roupas leves de tecidos
populares. Os antigos tambores da fbrica agora so grandes latas de lixo coloridas
76
espalhadas no espao. At mesmo o cardpio em dias de programao diferenciada
era desenvolvido por ela, no propsito de se criar identidade com as diferentes
culturas que l habitam. A questo da arquiteta ao trabalhar esses detalhes a de
estimular os sentidos, trazendo tona a percepo do pblico.
Para o logotipo esboado para o Sesc a arquiteta evidencia a dialtica do trabalho e
lazer promovido na fbrica. A linha infantil, ldica do esboo de uma chamin que
agora solta flores descontrai e convida ao lazer descompromissado. O jogo de
metforas que envolvem o projeto acaba por materializar toda uma potica
vivenciada pela comunidade.
Figura 61 Totem na entrada do Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 62 Desenho indicao comunicao visual
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
77
Figura 63 Desenho mascara teatro
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
Figura 64 Desenho elementos comunicao visual
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
78
Figura 65 Desenho logotipo
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
Figura 66 Desenho logotipo entrada Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
79
2.1.4.Restaurao concluda
Figura 67 Atividades no Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ crdito
O Sesc Pompia no teve uma nica data de inaugurao, mas diversas
inauguraes pontuais, talvez por certo receio da criao de uma estrutura
diferenciada das solues habituais dos Sescs. Essas estrias pontuais so
significativas por apresentar um carter de vanguarda em situaes distintas,
assimilando o moderno e a tradio, a tcnica e a poesia, assim como a prpria
Fbrica de Lazer.
Para a inaugurao do galpo de atividades gerais houve a apresentao do
grupo de dana belga PLAN K (janeiro/fevereiro 1982), ainda pouco conhecido, mas
uma inovao no cenrio artstico mundial no momento; conhecido por mesclar
dana, tecnologia e arquitetura. Foi uma ocasio de integrao da modernidade com
o povo e suas tradies.
Logo aps aconteceu a apresentao de teatro da pea Filhos do Silncio,
com Irene Ravache, atriz e intrprete conhecida pelo seu trabalho de mltiplas
expresses. A pea tematiza o universo do surdo-mudo.
80
No dia 12 de abril de 1982 aconteceu a estria da primeira exposio no
Sesc; Design no Brasil: histria e realidade, um momento de reflexo acerca do
caminho percorrido pelo design brasileiro, explicitada adiante. A inaugurao
considerada oficial ocorreu no dia 18 de agosto de 1982, com a presena do
Presidente da Repblica Joo Batista Figueiredo.
A arquiteta insistiu na ao do Sesc Pompia com base no desenvolvimento
cultural da coletividade mesmo aps sua inaugurao. Em carta endereada a
Renato Requixa ela exps seu comprometimento e tambm certa preocupao de
que o sucesso do centro de lazer o desviasse de sua razo popular:
Pessoalmente tenho-me dedicado quase que diariamente
observao das reaes dos visitantes, colaborando para o uso
correto dos espaos, e a conservao dos bens do Centro (mveis,
tapearias, objetos, plantas, etc.) ganhando (talvez) uma pequena
impopularidade.
1982 foi para o Pompia um estrondoso sucesso, mas as coisas da
cultura caminham sobre o fio da navalha e um pequeno deslize pode
ser fatal. Est faltando-nos, por exemplo intercmbio internacional.
Tenho procurado iniciar contatos a esse respeito.
58
Figura 68 Desenho almoo no Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi, 1984
58
BARDI, Lina Bo. Carta a Renato Requixa. 11/jul./1983. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
81
2.2. Construo do novo: 2 fase do projeto
Figura 69 Vista externa Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ crdito
A segunda fase do projeto da Fbrica de Lazer da Pompia foi edificada de
1982 a 1986. So trs as torres que compe o conjunto: a Caixa dgua, torre
cilndrica que o marco da fbrica e dois edifcios interligados por passarelas que
atravessam o crrego das guas pretas, componente non edificandi do terreno
transformada em deque de madeira. O crrego das guas pretas foi uma
condicionante na ocupao do terreno, da mesma maneira que aconteceu no Masp:
uma das exigncias do seu doador, Joaquim Eugnio de Lima, prefeitura era a de
no bloquear a vista do Vale do Trianon para a Avenida Nove de Julho.
Uma das premissas de Lina para a construo do bloco esportivo foi
contrastar as escalas do edifcio novo com as naves horizontais da fbrica
restaurada. Como referncia a arquiteta apresenta o projeto de restaurao de um
antigo engenho em Providence, Inglaterra, para uma estao de conservao de
energia pertencente ao instituto REDE (Research and Design Institute). O prdio
original de 1840 e as mudanas foram realizadas em 1975. A construo de torres
de concreto contrastando com a antiga fbrica de tijolos compartilha a obra com o
entorno: atravs da diferena de unidade o conjunto dialoga com o antigo bairro
fabril em processo de crescimento vertical devido especulao imobiliria. Para a
sua concepo a arquiteta apresentou os fortes militares brasileiros, que alm da
idia da escala, do material bruto, caracteriza para ela a identidade do povo
82
brasileiro, o que se traduz em um de seus textos como metfora para a ligao com
a arquitetura vernacular.
Pensei na maravilhosa arquitetura dos fortes militares brasileiros,
perdidos perto do mar, ou escondidos em todo o pas, nas cidades,
nas florestas, no desterro e sertes.
59
O conjunto vertical bruto dialoga com o entorno e mostra delicadeza pelos
elementos singulares arranjados. A importncia da sua arquitetura extremamente
ligada coletividade e funcionalidade. A beleza est no povo que a freqenta, a
critica, que interage.
O bonito fcil, difcil o feio, o verdadeiro feio. Espero que o
conjunto Esportivo do Sesc Fbrica da Pompia seja feio, bem mais
feio que o Museu de Arte de So Paulo.
60
Figura 70 Obras de restaurao na fbrica adquirida elo REDE, Providence
Fonte Reinhold Publishing Company, Inc., 1975. S/ Crdito
59
BARDI, Lina Bo. Bloco Esportivo. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
60
FERRAZ, Marcelo (org.) Texto Lina Bo Bardi sobre o Sesc. So Paulo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1993, p.230.
83
As torres de servios e esportes
Lina esboou o bloco esportivo inicialmente com lajes sobrepostas
estruturadas em concreto, livre de paredes. O fechamento aconteceria por redes
metlicas, comumente utilizadas em quadras poliesportivas. Outra soluo (1977),
ainda com quadras sobrepostas, leva um jardim com playground em sua cobertura.
O acesso aconteceria por uma rampa. A idia parece evoluir para o arranjo de
caixas justapostas, com vegetao habitando os espaos livres.
Figura 71 e 72 Primeiros estudos para o Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
Figura 73 Estudo para bloco esportivo Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
84
Foi definida a construo de dois blocos interligados por passarelas e
interdependentes. As comunicaes agora so verticais, fragmentadas. O local para
prtica esportiva no possui a mesma imediatez de relaes presenciada no bloco
restaurado.
A torre mais comprida e estreita, de onze andares, abriga toda a circulao:
possui dois elevadores, uma escada-caracol em seu interior e a escada de
segurana externa. A escada de ferro no bloco estreito d a idia de proteo. Toda
pintada em vermelho, assemelha-se a uma escada de bombeiros ou a uma gaiola.
Suas aberturas foram concebidas sem seguir um padro compositivo. Suas
posies foram definidas de modo aleatrio: algumas janelas se encontram juntas
ao piso e outras prximas ao forro, o que oferece um curioso cenrio tanto para o
espectador que se encontra do lado externo do edifcio como tambm do lado
interno. O edifcio no possui pilares no interior: sua estrutura formada por vigas
protendidas em grelha, que se apoiam nas paredes laterais. No trreo, onde hoje
funciona hoje um cyber-caf, foi projetada originalmente uma lanchonete. No
primeiro pavimento foi locado o atendimento ao pblico e sala para exames
mdicos. Nos demais pisos esto os vestirios de apoio s quadras do bloco maior.
Somente no terceiro pavimento encontramos o vestirio masculino e feminino; nos
demais pisos eles se alternam, at o stimo pavimento. Os banheiros dos vestirios
masculinos so revestidos de azul e prata, enquanto os femininos, de rosa e
dourado. A composio para as cores dos banheiros foi inspirada no artista Yves
Klein (1928-1962)
61
, que desenvolve um trabalho intenso com cores
monocromticas. Acredita que a cor na sua forma primria traduz a unio do corpo e
da mente, para um nvel de sensibilidade pura. Essas sensaes trabalhadas por ele
tm base na cultura oriental.
62
A simbologia incorporada nos banheiros traz uma
leitura instigante ao espao.
61
C.f. OLIVEIRA,Olvia de. Lina Bo Bardi: sutis substncias da arquitetura. So Paulo, Romano Guerra, 2006, p. 248-255.
62
Disponvel em http://www.galeriaantonioprates.com/paginas/yklein.htm. Acesso julho/2007.
85
Figura 74 Estudo para a pintura do banheiro feminino bloco esportivo
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Crdito Lina Bo Bardi
Nos pisos seguintes encontramos salas de luta, ginstica, danas, palestras.
Passarelas de concreto vo ao encontro do bloco maior, com cinco pavimentos
duplos. Robusto, abriga as quadras esportivas e piscina, toda a sua circulao
vertical est amarrada ao outro bloco. So trs passarelas simtricas e uma superior
assimtrica. O jogo intencional e remete cultura oriental: as passarelas brincam
com a percepo do usurio no seu jogo de vai e vem, sobe e desce, onde a pressa
est ausente. O lazer realizado de maneira informal e para usufruir a proposio
da arquitetura o usurio deve estar atento, preparado para as intempries da
natureza e s situaes da prpria obra bruta, escancarada para a cidade.
86
Figura 75 Bloco esportivo Sesc Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Marcelo Ferraz
As passarelas possuem uma estrutura de ferro para o fechamento do guarda
corpo, intitulada flor de mandacaru, um elemento estilizado que remete cultura
nordestina. A flor de mandacaru uma flor de raiz forte, que brota somente no
perodo noturno, indicando se haver chuva no serto.
Figura 76 Flor de mandacaru
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Srgio Gicovate
87
O bloco destinado s quadras esportivas conta com vigas protendidas em
grelha que vencem vos de 30 e 40 metros. Cada um dos pavimentos se refere a
uma estao do ano. O ginsio primavera possui uma quadra longitudinal com
arquibancada e os demais ginsios possuem quadras duplas dispostas
transversalmente. As quadras so pintadas em diferentes cores, garantindo
identidade ao espao:
no bloco novo a cor foi usada para a pintura dos pisos com epxi,
mas tambm para tentar criar um elemento que tornasse reconhecvel
a quadra, porque ali voc tinha trs andares. Dois andares tinham
quadras exatamente iguais, duas quadras por andar. O ltimo andar
tinha uma quadra em outro sentido, e no primeiro ficava a piscina.
Assim, foi uma forma de fazer com que as pessoas pudessem
distinguir as quadras, j que elas tinham uma semelhana muito
grande, e tambm pudessem nomear as quadras: Vou para a quadra
Inverno, vou para quadra Vero, Outono....
63
Figura 77 Quadra esportiva - outono
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ crdito
63
Entrevista com o arquiteto Andr Vainer. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
88
Figura 78 Estudos para quadra esportiva
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
No trreo encontramos uma piscina trmica. Seus azulejos decorados com
peixes e estrelas do mar foram desenhados pelo artista plstico Rubens Gerchman.
Em estudos para o revestimento das paredes Lina trabalha com vrias nuances se
cor simbolizando o cu em diversas situaes:
H uma linda aquarela onde Lina especifica o tratamento de cada
uma dessas paredes, infelizmente no realizado. Ali a parede maior
que coincide com a porta de entrada concebida como a noite e
seria inteiramente pintada de um azul uniforme, enquanto sua
frente teramos a parede alvorada, pintada em dgrad num
esfumaado, partindo de baixo para cima, de carmim at azul. As
duas paredes laterais seriam pintadas com nuvens brancas e cinzas
ou com a chuva cinza-escuro at cinza-claro. Ambas teriam uma
banda azul inferior, representando o mar ou talvez o cu.
64
Lina optou enfim por pintar a parede em tinta epxi branca com o intuito de
utilizar os efeitos da lanterna mgica
65
, aparelho ptico que projeta slides com
movimento em tamanhos ampliados, criando espetculos luminosos. A idia no foi
concretizada.
64
OLIVEIRA, op. cit., p. 214-216.
65
BARDI, Lina Bo. Estudos para o Sesc. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
89
Figura 79 Piscina bloco esportivo
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Rmulo Fialdini
Figura 80 Janela buraco
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Rmulo Fialdini
90
Nesse bloco ainda encontramos as clebres janelas-buraco de Lina. Buracos
pr-histricos ou buracos da guerra de Espanha, como a arquiteta se refere a
esboo de aberturas semelhantes para o projeto do Teatro Oficina (1980-1984),
remete a unio da histria e o movimento. Sua inteno a circulao cruzada de ar
constante. Seus fechamentos so em trelias de madeira, pintadas de vermelho. As
janelas buraco foram utilizadas tambm posteriormente no projeto do Restaurante
do Coaty, em Salvador.
Na rea non edificandi, onde existe o crrego canalizado, foi construdo um
deque de madeira, utilizado como solarium e tambm para eventuais shows. Lina
empregou como referncia um projeto de renovao de uma rea de Atlantic City,
New Jersey. O projeto de Robert Venturi e Denise Scott Brown . O projeto possui
um deque de madeira colorido alternadamente que leva para uma rampa
panormica. No Sesc Pompia a arquiteta utiliza a soluo como alternativa para
cobrir o crrego das guas pretas, no causando danos em caso de enchente. O
deque foi nomeado de praia pela arquiteta e l encontramos tambm uma
cachoeira, calha que funciona como chuveiro ao ar livre. A arquiteta projetou uma
outra soluo com um tapete executado com placas mveis em concreto revestidas
de pedras brasileiras variadas, como mrmores ou pedras semi-preciosas, cercado
por um gramado. Encontramos alm disso diversos estudos para o espao nos
desenhos de Lina, quando o Sesc pensava ainda em anexar um terreno situado
atrs do conjunto. Foram desenhados muros cobertos por plantas tropicais, lagos
com ilhas distribudas; um paredo estrutural em forma de escultura, aproveitando a
gua corrente da calha do bloco esportivo
66
.
66
OLIVEIRA, op. cit., p.233.
91
Figura 81 Deque Atlantic City. Venturi/ Scott Brown
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Stefano Valabrega
Figura 82 Chuveiro ao ar livre solarium
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
92
Caixa dgua
Uma torre cilndrica de 75 metros de altura foi projetada para funcionar como
a caixa dgua da Fbrica de Lazer e foi batizada como sua nova de chamin. J no
incio das obras a chamin original da fbrica se encontrava destruda e no se
justificava reconstitu-la. Assim, optou-se por fazer o elemento de forma cilndrica
integrado parte nova, que acabou tornando se um marco. Lina cria um novo
referencial para o elemento estereotipado. A chamin, smbolo da era da mquina
encontra uma sada do imperialismo ocidental. O smbolo desgastado da chamin
deglutido pela arquiteta que devolve ao povo atravs da fbrica que produz lazer e
solta flores.
Sua textura e imponncia tiveram referncia nas torres da cidade satlite
(1957-1958) de Barragn, sendo que Lina buscou sua prpria soluo na execuo.
Foi idealizada em 75 anis de concreto armado com dois jogos de frmas de
madeirite ligeiramente cnicas, que eram presos atravs de uma estrutura vertical,
que as segurava desde o cho. Um saco de estopa preso nas frmas comps a
textura diferenciada dos anis de concreto.
Ela apareceu com o [Luis] Barragn pela primeira vez, ningum
sabia quem era o Barragn. Na FAU, ningum sabia quem era o
Barragn. E ela aparece com um catlogo preto, da exposio do
Barragn em Nova York, no Moma, feita pelo Emilio Ambasz, um
arquiteto argentino que est l at hoje. Foi a primeira exposio do
Barragn, e ela ganhou esse catlogo. No sei se ela conhecia ou
no, mas no importa. Sei que ela ficou impressionada com aquilo,
nos mostrou e fez at uma comparao do reboco do Barragn com o
reboco que ela tinha usado no [Solar do] Unho, na Bahia, aquele
reboco grosso. E na hora de fazer a caixa-dgua ela disse: Vamos
fazer uma coisa la Barragn, no quero concreto liso, mas j
tnhamos visto aquilo. Chegamos a comprar um daqueles livros, veio
um livro daqueles, de Nova York foi o Andr quem comprou. E
comeamos a estudar como fazer aquele babado. Foram muitas
experincias: uma hora quebrava um pedao, outra hora quebrava
outro. At chegar quela forma cnica, com o saco de estopa, que
ningum queria fazer. Havia uma resistncia enorme da engenharia,
que dizia que ia encarecer muito, ia ser complicado. A, piorou o
desafio, porque tnhamos de fazer funcionar, tnhamos de fazer dar
certo aquilo que queramos como resultado formal, visual, mas dentro
de um custo j feito e fechado pela construtora. E conseguimos. A
caixa-dgua foi feita com dois jogos de frma. At em cima, de
madeira, em vez de ao. Ela apareceu com o Barragn pela primeira
vez, ningum sabia.
67
67
Entrevista com o arquiteto Marcelo Ferraz. So Paulo, jul. 2007. Anexo.
93
Figura 83 Chamin-Caixa dgua do Pompia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Araty
Figura 84 Torres da cidade satlite (1957-1958) de Barragn
Foto Alberto Moreno Guzmn
Figura 85 Chamin-Caixa dgua do Pompia em obras
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
94
CAPTULO 3 A EXPOSIO COMO MANIFESTAO DE UM
IDERIO
No ano de 1981, aps a concluso da fase de restaurao da Fbrica de
Lazer da Pompia, Lina convidada da entidade para assessorar sua programao,
com o papel de conduzir as pessoas ao uso proposto para o espao.
Dentre os muitos acontecimentos, festejos, lanamentos de livros,
aniversrios do Centro, comemorados sempre aos 18 de agosto, houveram seis
grandes mostras organizadas pela arquiteta: Design no Brasil: histria e realidade
(1982), Mil brinquedos para a criana brasileira (1982), O belo e o direito ao feio
(1982), Pinocchio a histria de um boneco italiano (1982), Caipiras, capiaus: pau-
a-pique (1984) e, concluindo, Entreato para crianas (1985).
A finalidade das mostras no era somente a realizao de uma exposio de
artes, mas a procura de um envolvimento do povo para se obter capacidade crtica e
histrica voltada para a realidade. A arquiteta programou situaes aparentemente
ingnuas, muitas vezes chamando a ateno para sensaes, objetos, sons comuns
ao cotidiano de muitas pessoas. A idia era trazer a cultura de um povo, do povo
brasileiro, para circunstncias prticas do dia a dia. O prprio espao, atravs de
seus elementos poticos e culturais visa trabalhar esse desenvolvimento de uma
nova cultura estruturada a partir dos valores da prpria coletividade.
As exposies concebidas pela arquiteta revelavam um mundo existente, mas
ignorado, uma realidade prxima, no percebida; de carter didtico, carregadas de
simplicidade e dignidade.
Lina nunca fez escola no sentido formal, da prtica arquitetnica ou
design. Fez uma grande escola de fazer pensar, de no permitir o se
acomodar diante de um mundo injusto.
68
68
FERRAZ,Marcelo. Texto extrado de palestra. Chile, Viena, s/ data.
95
A arquiteta atingiu nos anos 1970 um momento de reflexo/reviso de sua
existncia no Brasil e tambm na Itlia, considerando os momentos cruciais de sua
trajetria: os horrores da primeira e segunda guerra mundiais, os anos do fascismo
italiano, a procura intil pelo desenvolvimento do artesanato italiano estruturando o
pas por bases slidas, a esperana encontrada num pas jovem e livre dos vnculos
com o passado, o momento vivido na Bahia em que a arquiteta se envolveu com o
desenvolvimento de uma cultura calcada em valores legtimos, a decepo do golpe
militar de 1964 na Bahia. O Sesc surge para ela como uma nova perspectiva
nacional. Como o feitio de uma colcha de retalhos, suas lembranas, elementos
vitais de sua vida, comeam a tomar corpo em sua produo:
A guerra foi a marca que carregou durante toda a sua vida, e de
onde tirou, continuamente, foras para enfrentar dificuldades,
derrubar barreiras e pensar que a vida vida por um fio, e que
portanto s se deve pensar e fazer aquilo que fundamental,
imprescindvel, vital. Da Lina tirou seu profundo senso objetivo e
potico ao mesmo tempo.
69
No somente nas obras do Sesc, mas em toda a sua produo voltada
para o espao, podemos nos orientar por fios condutores, que muitas vezes nos
aparentam banais, ingnuos, mas que carregam conceitos importantes, trabalhados
no dia a dia com a coletividade. Atravs das exposies, do mesmo modo,
procuramos filtrar um pouco mais desses fundamentos que Lina carrega consigo.
3.1. Conceito de exposio artstica em Lina Bo Bardi
Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, diretor dos Dirios
Associados, convida Pietro Maria Bardi, professor e crtico de arte e arquitetura
italiano, a constituir um Museu de Arte brasileiro, logo aps sua vinda com sua
mulher, a arquiteta Lina Bo Bardi, a bordo do navio Almirante Jaceguai, em 1946.
Desse modo, nasce o MASP, no dia 2 de outubro de 1946, situado
inicialmente no prdio dos Dirios Associados, Rua 7 de abril, nmero 230.
69
Ibibem.
96
Lina Bo Bardi d incio ao trabalho museogrfico de seu espao
expositivo. Um museu moderno onde o passado e o presente convivem entrosados
na vida moderna, onde a luz e o ar fazem parte do espao:
Um recanto de memrias? Um tmulo para mmias ilustres? Um
depsito ou um arquivo de obras humanas que, feitas pelos homens
para os homens, j so obsoletas e devem ser administradas com um
sentido de piedade? Nada disso. Os museus novos decidiram abrir
suas portas, deixar entrar o ar puro, a luz nova. Entre o passado e o
presente no h soluo de continuidade. Nada se detm, tudo
continua. necessrio entrosar a vida moderna infelizmente
melanclica e distrada por toda espcie de pesadelos, na grande e
nobre corrente da arte. Estabelecer o contacto entre vida passada e
presente. Nesse sentido os museus novos, tendo compreendido a
sua funo no mundo contemporneo, encontraram a coragem de
exerc-las, e esto mais adiantados que os mais progressivos
organismos educativos estaduais. O Museu de Arte de So Paulo
entre os primeiros do mundo que iniciaram ao redor dum ncleo de
obras de arte famosas, esse trabalho de vivificao e
rejuvenescimento.
7 70 0
Figura 86 - Masp 7 de abril: primeiro andar do museu
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Roberto Maia
7 70 0
BARDI, Lina Bo. O que um Museu?. Habitat, So Paulo, SP, n. 9, out./dez., 1952.
97
O museu destinava-se a instruir um pblico no conhecedor do conceito
de arte, sem algum tipo de convencionalismo; dentre uma obra antiga ou moderna,
de um pintor afamado ou no. Lina utilizou-se da classificao informal e didtica,
sem critrio cronolgico, estimulando um ambiente que propiciasse a compreenso
da obra de arte, despertando a curiosidade e a investigao.
O espao expositivo organizado de modo claro, limpo. As obras de arte so
colocadas sobre um fundo neutro e as molduras, quando no-autnticas da poca,
so substitudas por um filete neutro:
Desta maneira as obras de arte antigas acabaram por se localizar
numa nova vida, ao lado das modernas, no sentido de virem fazer
parte na vida de hoje, o quanto possve.l
71
No podemos desvincular o sistema expositivo trabalhado por Lina do
desenvolvimento das formas expositivas italianas, exploradas inicialmente no entre
guerras, em mostras e exposies variadas.
Por ter se constitudo em um dos poucos espaos de atuao
ocupados pela primeira gerao racionalista entre 1928 e 1932,
quando ento se abre um amplo campo de trabalho mediado por uma
poltica conciliatria, a trajetria das exposies se confunde com a
prpria histria da aproximao dos italianos com a arquitetura das
vanguardas modernas.
72
A arquitetura moderna amplamente difundida no seio da sociedade italiana
nesse perodo atravs da assimilao dessas novas formas de expor. A construo
moderna italiana sempre apresentar relao com a histria por meio de obras de
arte de outros perodos histricos, construindo assim uma particularidade. Esse caso
nos permite entender um pouco da linha de trabalho de Lina Bo Bardi desenvolvido
no Brasil.
Quem d incio a essas experincias expositivas na Itlia o arquiteto
Edoardo Persico, que explora potencialidades grficas no design dos editoriais da
revista Casabella. Em parceria com Pagano, transfere-as para o espao expositivo.
71
Ibidem.
72
ANELLI, Renato. A ao cultural de Lina Bo Bardi. Texto de Livre Docncia. S/data.
98
Persico trabalha com o conceito de ambientes museogrficos, utilizando-se de
perfis metlicos sugerindo percursos, transparncia, linearidade. Trabalha tambm
com a ausncia do fundo.
Aps sua morte, sua obra ganha duas vertentes: uma delas com Marcello
Nizolli, que transfere essas experincias para a rea de criao de produtos
comerciais; e outra com Franco Albini, que as desenvolve na arquitetura de espaos
museogrficos, agora na atualidade do ps-guerra.
frente ao conjunto desses trabalhos aqui relatados que a obra
museogrfica de Lina Bo Bardi deve ser analisada. Seu vnculo com a
posio de Prsico ntido, no apenas na forma dos dispositivos
que destacam as obras do solo e das paredes. Seu objetivo tambm
o de criar uma ambincia que condicione a fruio da obra, primeiro
como uma experincia vital, depois como inteleco, o que
explicitado pela colocao das etiquetas de identificao na parte
posterior do suporte. A trajetria da sua obra museogrfica
contempornea aos museus italianos do ps-guerra, percebendo-se
um acompanhamento distncia. A maior proximidade se d com os
trabalhos de Albini, tanto por constiturem uma maior continuidade
com a abordagem de Persico, quanto pelo apego de Lina Bo sua
potica formal, explicitada mais de uma vez pelo seu design. Mas se
a obra expositiva de Persico desenvolve seu trabalho grfico, o
mesmo acontece com a de Lina Bo em relao s suas ilustraes
para a revista Lo Stile, momento de intensa pesquisa de formas para
a apresentao de objetos artsticos de perodos histricos e estilos
diversos.
73
Figura 87 - Franco Albini. Galeria Palazzo Bianco in Genova 1950 51
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Sem Crdito.
Publicado na Habitat, n.15.
73
Ibidem.
99
O MASP, ainda situado no prdio dos Dirios Associados (1947), foi dedicado
a uma massa desinformada, no intelectualizada. Atravs de exposies didticas, a
idia foi despertar a curiosidade da populao. A sobreposio do novo e antigo no
presente surge na montagem das exposies de Lina Bo Bardi.
O fim do museu o de formar uma atmosfera, uma conduta apta a
criar no visitante a forma mental adaptada compreenso da obra de
arte, e nesse sentido no se faz distino entre uma obra de arte
antiga e uma obra de arte moderna.
74
No MASP da Avenida Paulista (1957-1968), Lina evolui essa maneira de
expor. Agora o edifcio moderno, aberto para a cidade, dialoga tambm com a obra
de arte. A palavra de ordem a simplificao. Lina prope os cavaletes de vidro,
painis didticos que ocupam o espao da pinacoteca do museu. O antigo e o
moderno dividem o espao com o povo na pinacoteca, que viva:
Eu procurei, no Museu de Arte de So Paulo retomar certas
posies. Procurei (e espero que acontea), recriar um ambiente no
Trianon. E gostaria que l fosse o povo, ver exposies ao ar livre e
discutir, escutar msica, ver fitas. Gostaria que crianas fossem
brincar no sol da manh e da tarde. E at retretas e o mau-gosto de
cada dia que, enfrentado friamente pode ser um contedo.
75
Figura 88 Pinacoteca Masp
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto H. G. Flieg
74
BARDI, Lina Bo. Citao sobre o Masp 7 de abril. In FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.) Lina Bo Bardi. So Paulo, Instituto
Lina Bo e P.M. Bardi,1993.
75
BARDI, Lina Bo. O novo Trianon 1957-67. So Paulo, Mirante das artes. Set./out. 1967, p. 20.
100
J em 1959 Lina apresenta a exposio Bahia no Ibirapuera juntamente com
a Escola de Teatro de Martim Gonalves, que aparece com um elemento novo: A
arquiteta trs para So Paulo a arte primitiva, popular que encontrou no nordeste. A
questo era voltar o olhar para a manifestao dos valores autnticos do povo por
meio de objetos de uso do cotidiano. Os apoios da exposio foram feitos de
madeira com base em concreto, repleto de conchas e pedrinhas cravadas. O cho
da exposio foi coberto com folhas de eucalipto. A arquiteta usou esse artifcio em
muitas de suas exposies, utilizava folhas vivas que exalavam perfume no ar, em
referncia s comemoraes religiosas do nordeste
76
. Percebe-se uma aproximao
de Lina com os materiais populares para o desenvolvimento da tcnica expositiva.
No MAMB (1959) a arquiteta fez uma aproximao entre a arte ocidental e a
cultura popular. Mais uma vez trabalha na fronteira entre o erudito e o popular. Suas
exposies continuam de carter didtico: era um incio, uma escola, um futuro
museu, formado inicialmente sem pinacoteca. Nas exposies temporrias no
havia crtica. A idia que a crtica viesse com o tempo e com o olhar do povo.
Atravs de conscincia crtica da populao, a arquiteta acreditava na continuidade
histrica do pas. As obras de arte reconhecidas, do passado, que geralmente
adquiria atravs de Pietro Bardi e o MASP aqui eram expostas isoladamente, como
forma de aprendizado, diferentemente das solues apresentadas por ela em So
Paulo.
Por isso expomos e continuaremos a expor obras do
passado. Procuramos isola-las, coloca-las em evidncia como
Acontecimento, e as comentamos como msica de poca.
77
Foram vrias as exposies realizadas no MAMB, dentre elas, exposio Mario
Cravo, exposio das Formas Naturais, exposio Burle Marx, exposio Degas. J
no conjunto do Solar do Unho restaurado (1963) a arquiteta teve a oportunidade de
montar somente uma exposio, a Exposio Nordeste. Dando continuidade s
pesquisas desenvolvidas na Bahia, Lina procura caminhos para um design brasileiro
calcado em valores culturais. A exposio montada com simplicidade e procura
evidenciar os elementos do cotidiano, um olhar sobre o aspecto prtico da cultura.
76
BARDI, Lina Bo. Estudos. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
77
_____________. Nota sobre o MAMB. FERRAZ apud. Marcelo(org.) op. cit., p.139.
101
Figura 89 - Exposio Burle Marx MAMB
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Armin Guthmann, 1961
Figura 90 - Exposio de artistas do Nordeste no Solar do Unho
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Lina tem a oportunidade de refletir e desenvolver os iderios trabalhados
anteriormente nas exposies realizadas no Sesc, que se seguem. Montadas para
pessoas de todas as idades, continuam didticas, reveladoras. O mundo popular
apresentado por ela o mundo existente, mas ignorado, no percebido. A arquiteta
busca a dignidade, o respeito do povo brasileiro atravs da sua capacidade criativa,
no projeto, no fazer da obra, nas exposies realizadas. Busca o no se acomodar
diante das dificuldades. O Sesc se aproxima, para a arquiteta, de uma esperana
nacional. Uma fbrica de se fazer pensar.
102
3.2. Design no Brasil: histria e realidade
A exposio Design no Brasil: Histria e Realidade
78
, inaugurada no dia 12
de abril de 1982, d incio proposta de mtodo expositivo desenvolvida por Lina
para o espao da Fbrica de Lazer dedicado a atividades coletivas, prticas e
crticas.
A temtica escolhida para essa primeira exposio, O Design no Brasil, no
poderia ter ambiente mais propcio, dando continuidade dialtica trabalho-lazer
desenvolvida pela arquiteta na Fbrica de Lazer da Pompia.
Os objetos separados para a exposio eram parte da realidade antiga e at
ento atual do trabalho, obra tambm de outras exposies j realizadas pela
arquiteta, no Museu de Arte Popular do Unho (Exposio nordeste, 1963) e no
Masp ( A mo do povo brasileiro, 1969). Questo estudada por ela continuamente
desde sua chegada ao Brasil. No ano de 1950, dirigida por Lina Bo Bardi, o MASP
abre a primeira escola de desenho industrial, IAC (Instituto de Arte Contempornea).
Ainda na mesma dcada leciona uma cadeira da FAU-USP sobre design.
A Exposio Nordeste, que inaugura o Museu do Solar do Unho, apresenta
objetos concebidos a partir de latas velhas, lmpadas queimadas, madeira, tecidos;
carregadas da originalidade e identidade popular brasileira.
Insistimos na identidade objeto artesanal-padro industrial, baseada
na produo tcnica ligada realidade dos materiais e no
abstrao formal-folclrico-coreogrfica.
79
A arquiteta acredita na formao de um pas autntico enraizado em bases
populares, que acompanhasse o movimento industrial, recente no pas, o que
procura desempenhar de maneira didtica:
Salvaguardar ao mximo as foras genunas do pas, procurando ao
mesmo tempo estar ao corrente do desenvolvimento internacional,
ser a base da nova ao cultural, procurando, acima de tudo, no
diminuir ou elementarizar os problemas, apresentando-os ao povo
como um alimento insosso e desvitalizado, no eliminar uma
78
Exposio Design no Brasil: Histria e Realidade. Sesc Pompia, 1982. Colaboradores: Andr Vainer, Marcelo Carvalho
Ferraz, Marcelo Suzuki, Equipe do Sesc e NDI/FIEP.
79
Bardi, Lina Bo. Texto de Abertura da exposio Nordeste, 1963. In. Livro- catlogo, Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
103
linguagem que especializada e difcil mas que existe, interpretar e
avaliar esta corrente e sobretudo ser til lembrar as palavras de um
filsofo da praxe no se curvem ao falar com as massas senhores
intelectuais, endireitem as costas.
80
Seis anos mais tarde, o MASP expe a mostra A mo do povo brasileiro,
voltada para o artesanato e a arte popular. O cerne da exposio era homenagear a
criatividade do povo brasileiro.
A exposio Design no Brasil: histria e realidade, apresentada treze anos
mais tarde, procurou mostrar um balano da situao do desenho industrial no Brasil
e o que poderia ser feito. Uma tomada de conscincia, uma exposio crtica, pois
admitia que o Brasil no possua um design original, mas repeties de modelos
internacionais:
Nossa incapacidade em pr as exigncias humanas fundamentais
acima das exigncias econmicas e industriais, concretizou-se, no
mundo Ocidental, numa grande falncia
81
Lina Bo Bardi traou um paralelo partindo de recursos e da assistncia
tcnica do Ncleo de Desenho Industrial (NDI), representados pelo empresrio Jos
Mindlin, o arquiteto Alessandro Ventura e o designer Alexandre Wolner, organizada
pelo MASP.
O espao expositivo foi pensado nos moldes das grandes feiras populares do
Nordeste e tambm de So Paulo, feito para ser visto, circulado e experimentado
como se estivssemos em um desses lugares. No considerada pela arquiteta
uma exposio de arte, mas uma amostragem histrica do desenvolvimento do
desenho industrial brasileiro desde os primrdios at a atualidade de ento,
passando pelo chamado milagre brasileiro.
A mostra foi organizada em duas vertentes cronolgicas. Uma primeira parte
pr-industrial (at 1960), situada na entrada, se apresentou semelhante s
exposies de arte popular j elaboradas pela arquiteta, evidenciando a capacidade
criativa popular. No caso a exposio dessa arte primitiva foi organizada com o
80
BARDI, Lina Bo. Cultura e no cultura. Crnicas 1, Dirio de Notcias. Salvador, 07/ set./1958.
81
_____________. Design no Impasse. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, s/ data.
104
intuito de reviso dos valores da sociedade. Foram dispostos antigos trabalhos feitos
mo, tais como artesanatos indgenas de madeira e palha, colchas de retalhos,
tapetes, vasos de cermica, tonis de cobre de alambiques de cachaa, cangas,
mveis do sculo XIX; ao centro uma coleo de objetos kitsch pertencente ao
Masp, doada por Olney Kruse.
82
A segunda parte da exposio trs o design
industrial (anos 70 e 80) desenvolvido no pas. So colocadas mostra peas
industrializadas, comuns ao dia a dia: computadores eletrnicos, calculadoras,
orelhes-concha, relgios. Ao percorrer a grande feira montada no espao foi
possvel apreender o salto industrial sofrido pelo pas, no havendo um
desenvolvimento da linguagem artesanal do povo e sua criatividade para a
industrializao, processo ao qual Lina se envolve intensamente nos anos
1960/1970. Muitos seminrios sobre o tema foram realizados durante a mostra. Um
momento para ponderar sobre o design brasileiro e seus caminhos trilhados. Foi um
balano da histria nesse momento industrial vivido pelo pas e suas conseqncias:
Aos designers brasileiros e aos grandes responsveis a tarefa de
reviso e balano. Ao pblico, a alegria das feiras e a resistncia ou
aceitao de todo um modelo de comportamento
83
82
Olney Kruse (1939-2006), crtico de artes plsticas, doou, em 1984, 1.200 peas de sua coleo de arte kitsch para o acervo
do Museu de Arte de So Paulo. No ano de 2003 realizou exposio na galeria Prestes Maia, com 700 peas das doadas ao
museu e outras 500 de uma nova coleo. Alm dos pingins de geladeira, haviam altares para Marilyn Monroe, James Dean e
Elvis Presley .
83
Texto extrado da apresentao da exposio Design no Brasil: histria e realidade. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
105
Figura 91 - Geral da primeira parte da exposio de design
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 92 - Geral da segunda parte da exposio de design.
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
106
Figura 93 - Exposio Design no Brasil: histria e realidade
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 94 - Exposio Design no Brasil: histria e realidade
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
107
3.3. Mil brinquedos para a criana brasileira
Lina dedicou trs exposies voltadas para as crianas, das seis pontuais
idealizadas por ela na Fbrica de Lazer. A exposio Mil brinquedos para a criana
brasileira
84
foi a primeira, seguida da exposio Pinocchio e Entreato para crianas.
Da mesma forma como aconteceu na mostra Design no Brasil: histria e
realidade foi realizada extensa pesquisa sobre brinquedos de diversas pocas e
diferentes culturas seguidos do surto do progresso e as diversas variaes
produzidas nesse setor.
O acervo de brinquedos populares do Sesc So Paulo
constitudo por milhares de brinquedos das mais variadas espcies. A
pesquisa, a coleta e a compilao das fichas de cada objeto recolhido
para a exposio tiveram a cargo de Dulce Maia e de uma equipe do
Sesc evidenciando uma capacidade de comunicao e de escolha
que determina o interesse dessa manifestao. Eles, pacientemente,
coletaram os materiais, numa sala do Museu de Arte de So Paulo,
dia a dia juntando coisas, que nos parecia ouvir a Sinfonia dos
Brinquedos de Leopold Mozart, a famosa Kindersymphonie, que a
cortina musical dessa exposio.
85
A exposio trazia todo um enredo da histria do brinquedo e sua evoluo,
expondo diversas questes do papel dele em nosso meio e a formao infantil, as
diferenas culturais e tecnolgicas. Contava tambm com atividades livres de
escultura e desenho, promovendo o ato do brincar.
De maneira afetuosa, Lina trabalha o imaginrio de todos os que participam e
interagem com a exposio. Adultos e crianas, funcionrios e trabalhadores.
Ela colocava de uma maneira to gostosa a idia, por exemplo nessa
questo da exposio dos brinquedos das crianas. Ela provocou
todos ns na exposio. Como que voc brincava, que brinquedo
voc tinha quando era criana? Ser que ns brincvamos todos
iguais? A ela disse que s tinha bonequinha de pano. Depois que
comearam a aparecer a bonequinhas de loua. Fizemos um debate.
Todos tinham o que falar sobre os brinquedos de sua infncia. Meu
av fazia brinquedos de madeira. Porque na minha gerao no
existia muitas lojas de brinquedo. Era muito comum os pais fazerem.
As mes faziam bonecas, os pais caminhozinho. No tinha muito
84
Exposio Mil brinquedos para a criana brasileira (1982). Colaboradores: Andr Vainer, Marcelo Ferraz, Marcelo Suzuki,
Dulce Maia, Equipe Sesc.
85
BARDI, Pietro Maria. Apresentao catlogo da exposio Mil brinquedos pra a criana brasileira.So Paulo, Sesc So Paulo
e MASP, 1982.
108
brinquedo mas as crianas brincavam intensamente. E depois, como
a gente chega na Estrela. Como que voc tem por ano no sei
quantos lanamentos de brinquedo. E como que fica a cabea da
criana que agora no pensa s na bonequinha que a me fez para
ela. Ela fazia toda essa reflexo com a gente e a gente entrava de
cabea no projeto. A gente via plenamente que ela j vinha com uma
coisa pronta. Ela sabia colocar, mas todos participavam com idias.
Tambm entrava de cabea quando a equipe apresentava uma
proposta.
86
Lina se envolve na histria de cada pessoa, atingindo o interesse e
produzindo dignidade e valor histria, vida do povo brasileiro. A exposio trs um
sentido muito amplo atravs dos brinquedos expostos; ela intencional, de
aparncia ingnua. Trabalha com a histria, o contemporneo, a identidade, a
coletividade.
86
Entrevista com a sociloga Celene Canoas. So Paulo, 30/01/2007. Anexo.
109
Figura 95 - Vista geral da Exposio Mil brinquedos para a criana brasileira
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 95 - Playmobil
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
110
Figura 96 - Bonecos
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 97 - Brinquedos exposio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
111
3.4. O belo e o direito ao feio
A exposio O Belo e o direito ao feio
87
, que ocorreu do dia 24 ao dia 31 de
outubro de 1982 na Fbrica de Lazer da Pompia foi a primeira realizada pelos
funcionrios do INAMPS.
Essa mostra traduz um aspecto primordial assimilado pela arquiteta no pas, a
no importncia da beleza, da proporo; mas de um sentido muito mais profundo,
ou segundo ela, o sentido da liberdade. Mais uma crtica ao design industrial
ocidental. Essa linguagem tambm trabalhada do projeto do Masp e no Sesc
Pompia, quando a arquiteta considera que o belo o til, o valor da coletividade.
O feio faz parte da vida e base primordial na formao e autenticidade
de uma civilizao. Os objetos kitsch expostos evidenciam toda essa critica por ela
formulada. O termo kitsch surge na Alemanha, no sculo XIX como um olhar de
averso da alta burguesia sobre a produo popular. Hoje o sentido da palavra se
aplica at mesmo para pessoas e certos comportamentos sociais:
A expresso Kitsch surgiu na Alemanha no fim do sculo XIX quando
a revoluo Industrial tomou definitivamente o poder. o estigma da
alta burguesia culta contra os setores da mesma classe, menos
afortunados que atravs da industrializao comeavam a ter acesso
aos tesouros da arte, ao belo.
Esta pequena exposio uma integrao do Kitsch apenas um
pequeno exemplo do DIREITO AO FEIO, base essencial de muitas
civilizaes, desde a frica at o extremo oriente que nunca
conheceram o conceito de Belo, campo de concentrao obrigado da
civilizao ocidental. De todo esse processo foram excludos uns
ainda menos afortunados: o Povo.
E o Povo nunca kitsch. Mas essa uma outra histria.
88
87
Exposio O belo e o direito ao feio I exposio de Artes dos funcionrios do INAMPS (1982). Lina Bo Bardi e Equipe
Sesc.
88
BARDI, Lina Bo. Texto de apresentao da exposio, O belo e o direito ao feio, 1982. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi.
112
Figura 98 - Vista Geral da Exposio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 99 - Mveis
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
113
Figura 100 - Cama e roupas
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 101 - Painis Exposio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Sem Crdito
114
3.5 Pinocchio histria de um boneco italiano
A exposio Pinocchio histria de um boneco italiano
89
aconteceu na
Fbrica da Pompia do dia 15 de agosto a 15 do outubro de 1983, sendo inaugurada
com uma grande festa, que comemorava os 100 anos do boneco.
Pinocchio histria de um boneco italiano, foi montada na Itlia em 1981,
exibida em Firenze, Roma e na Bienal de Veneza, trazida para o Brasil por iniciativa
do Consulado Geral da Itlia e Instituto Italiano di Cultura de So Paulo, com apoio
do Sesc, MASP e da Secretaria Municipal de Cultura.
Lina no deixa de acrescentar um outro sentido e uma crtica para a
exposio. O personagem da literatura italiana que se tornou universal com o tempo,
foi concebido por Carlo Lorenzini Collodi, participante da luta pela independncia
italiana, a revoluo de 1948.
O boneco ensina a moral do comportamento, tanto para adultos como
crianas. Age como um trombadinha inocente mas astuto, pronto a se aproveitar
das situaes.
A historia de Pinocchio , como quase todas as histrias para
crianas, uma histria de adultos.
Na realidade Pinocchio no o menino mentiroso de nariz comprido
que precisa ser endireitado, mas um pobre trombadinha.
O livro de Carlo Lorenzini (Colladi) (revolucionrio Italiano de 1848)
a vingana de um pellorccia , becero barra pesada da toscana da
provncia de Lucca e Pistoria que deixou num pequeno livro
declarao de amor ao homem- criana e uma denuncia contra todo
um sistema.
90
A verso de Lina Bo Bardi para a exibio Pinocchio foi marcada por um
aspecto singular. Paralelo ao material vindo da Itlia que contava com desenhos,
brinquedos de madeira, acrlico e outros materiais, desenvolve uma exposio
interativa, ldica, uma verdadeira festa para as crianas e adultos. Contou com
grandes bonecos dos personagens da histria: Uma baleia com dentes de espuma
89
Exposio Pinocchio. (1983). Lina Bo Bardi, Equipe Sesc, MASP, Secretaria Municipal de Cultura.
Consulado Geral da Itlia e Instituto Italiano di Cultura de So Paulo.
90
BARDI, Lina Bo. Anotaes sobre a exposio. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
115
na qual se podia entrar e sair por uma portinha lateral, um pombo estilizado que
carregava Pinocchio, a raposa, o gato, o grilo. Todas as peas em madeira foram
executadas pelo mesmo pedreiro que trabalhou na obra do Sesc e em sua
comunicao visual, o Paulista. Sua abertura foi organizada com bolo, pipoca,
suco, bandinha, palhaos, grandes bonecos e muitas crianas.
Figura 102 - Vista geral exposio Pinocchio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
116
Figura 103 - A baleia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 104 - Menino na boca da baleia
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
117
3.6. Entreato para crianas
A exposio Entreato para crianas
91
pode ser recebida, conforme Lina Bo
Bardi escreve no texto de abertura da exposio, como um convite terrvel lgica
das crianas que se aproxima do rigor cientfico. A arquiteta busca referncias de
sua infncia, de sua cultura para tal. Quando ainda estava em Milo, conheceu um
escritor e entomlogo chamado Dino Buzzatti,
92
que lhe conferiu o amor aos
bichinhos.
93
Nessa exposio procura mostrar esse mundo para as crianas. Em
rascunho Lina manifesta essa lgica das crianas citando B. Brecht e a epgrafe da
presente dissertao.
O no das crianas, virando a cabea violentamente de um lado para o outro
(reprimidos pela educao escolar). [...] O no dos imbecis que um sim.
94
A mostra trabalha em diversos nveis, despertando um sentido ldico para
uma ligao dos brasileiros com os bichos; Enquanto uma variada e didtica
exposio de borboletas, besouros, escaravelhos, aranhas, escorpies podia ser
apreciada em vitrines, vindos do Museu de Zoologia da USP, Museu de Pesca de
Santos e da Policia Florestal, seguidas de aulas de gelogos e do museu Butant,
havia um momento onde diversos animais, intitulados os Passistas Brasileiros
,desfilavam no espao, So exemplos:
Macaco do Sambbromo: Rio, Mangueira, Carnaval de 1984
Anta: Rio, Mocidade Independente, carnaval de 1983
Veadinho de ouro, Rio 1984. Cortejo de Natal RioSul.
Elefante: Rio, Portela, carnaval 1983
Leo: Rio, TV Globo, figurante da novela Sol de Vero.
95
91
Exposio Entreato para crianas, 1985. Colaboradores: Marcelo Ferraz, Mrcia Benevento e Equipe Sesc.
92
Jornalista e romancista italiano nascido em San Pellegrino, prximo a Belluno, Itlia, uma das figuras mais importantes da
literatura italiana e europia contempornea, cuja obra foi influenciada por Kafka e pelo surrealismo. Disponvel em:
http://www.dec.ufcg.edu.br/biografias/DinoBuzz.html.
93
Bardi, Lina Bo. Depoimento registrado em entrevista de Lina a Fabio Malavglia.
94
____________. Escrito sobre a exposio. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1985.
95
____________. Escritos. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
118
Nessa exposio Lina montou um cartaz com o retrato de uma baratinha
pequena, do fim do sculo passado, fornecida por cientistas alemes do Museu de
Histria Natural
Esta exposio apenas o barulhinho de uma engrenagem que
inicia um movimento, um pequeno convite cincia e a fantasia.
um convite tambm terrvel lgica das crianas, que tanto se
aproxima do rigor cientfico.
Mas tudo isso outra histria. Importante: os brutos no falam, isto ,
difcil entend-los. Mas alm dos bichos amigos (o Pet dos ingleses)
h bichos vagabundos visveis ou quase invisveis, os bichos
caseiros, aranhas, baratas, besourinhos, ratinhos, todos eles
estrelando a casa na espera da bomba do pesticida.
Est claro (ou no est claro) que existem (ou podem existir) zonas
cinzentas, isto , intermedirias entre o branco e o preto, zonas que
permitem a convivncia o respeito e a ateno, que no permitem
que as formigas sejam pisadas, as baratas achatadas a esmo,
bichinhos gentis mortos de uma mozada, assim como flores
amassadas na planta, galhinhos desfolhados por um interlocutor ou
conversador distrado.
Esta exposio tambm uma chamada para a imaginria Brasileira,
isto , a ligao do povo brasileiro com os bichos. Tudo isso no
uma invaso no campo da ecologia, da proteo dos animais e do
meio ambiente. Um seminrio vai acompanhar a exposio: aos
especialistas a palavra.
96
96
BARDI, Lina Bo. Texto de apresentao da exposio. Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.
119
Figura 105 - Vista geral exposio
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Figura 106 - Cobra
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
120
Figura 107 - Estudo para o Cartaz
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Escrito Lina Bo Bardi
Figura 108 - Contra-kafka
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Escrito Lina Bo Bardi
121
3.7. Caipiras, capiaus: pau-a-pique
A exposio Caipiras, capiaus: pau-a-pique
97
, realizada em 1984 no Sesc
trabalha igualmente com valores culturais brasileiros, carregado de crtica.
A mostra teve inicio com levantamento realizado em campo e estudos acerca da
realidade rural brasileira. O cerne era apresentar, atravs de objetos, msica,
fotografia e discurso da cultura caipira sua identidade e dignidade.
A idia no compatibilizar a vida humana com a misria, o imobilismo: a
mostra poltica, um adeus a uma cultura, dotada de criatividade e valor, mas que
perde sua vigncia.
um adeus e ao mesmo tempo o convite documentao histrica
do Brasil.
Comeou com Celso Furtado, na poca da Sudene [...] Eu acho que
um pobre que pobre, no deve ter antes da morte a terra em volta.
Deve ter concreto armado.Que viva Hennebique!
98
O espao expositivo do Sesc integrou diversos ambientes. No primeiro,
atravessava-se um bosque de paus-mastros
99
feitos de eucaliptos naturais,
dispostos em mdulos e um espao com figuras esfarrapadas, os espantalhos, ao
som de elementos como a gua, o trovo, animais, o silncio.
Cada pau-mastro homenageava alguma figura, concebido pela arquiteta. Essas
homenagens aparentam ser particulares da arquiteta, da mesma maneira que em
elementos da obra do Sesc ela faz as homenagens a Torres Garcia ou Yves Klein.
Este ltimo homenageado novamente com o pau-mastro, que recebe as mesmas
cores utilizadas no banheiro feminino do bloco esportivo do Sesc Pompia. Os paus-
mastro homenageiam nomes como:
Antonin Artaud: vermelho escarlate com mancha preta dos dois lados.
Cndido Portinari: Pau fino, branco, s com olhos olhos azuis, verdes,
vermelhos, amarelos, pretos. No cho: Brodowski.
Yves Klein: Rosa plido com uma enorme rosa dourada de papel amarrada.
Faixa azul arara para amarrar a rosa.
Wladimir Majakovsky: Pau fino preto com manchas vermelhas dos dois lados
97
A exposio, Caipiras, capiaus: pau-a-pique aconteceu do dia 29 de junho aos 11 de novembro de 1984. Idealizada por Lina
Bo Bardi e Glucia Amaral, teve como colaboradores os arquitetos Marcelo Carvalho Ferraz e Marcelo Suzuki.
98
BARDI,Lina Bo. Entrevista Favio Malavglia.
99
Nas festas juninas, originadas no interior, comum o costume do pau-de -sebo, pau-mastro envolto com sebo de boi
derretido utilizado em joguete cujo objetivo subir ao seu topo onde em posicionado um cone de Santo Antonio e prendas.
122
A segunda parte da exposio foi tambm arranjada com elementos tpicos
do interior paulista. Foram montadas trs casas de pau-a-pique
100
e mais uma
capela num perodo de quinze dias pelo casal Antonio Jos da Mota e Tereza Maia.
Antonio ainda ensinou a equipe construir fornos de barro, e Maria fez questo de
criar os enfeites da capela. Havia ainda poo, terreiro, alambique, paiol, chiqueiro e
galinheiro.
No final de semana da inaugurao, foram colocados animais de verdade:
uma vaca mansa, galinhas, porcos, coelhos. No restante da mostra animais feitos
nos atelis compuseram o ambiente dos animais. Neste momento da exposio
eram tocadas as valsas mais piegas do Brasil: Saudade do Mato, E o destino
desfoliou, Dois Coraes, Ave Maria no Morro.
Ao longo do percurso um muro que definia o ambiente do espao expositivo
descrevia a paisagem ao longo da exposio.
Na ultima parte, uma radio transmitia as principais etapas da histria do
Brasil: Juscelino Kubitschek falando em 1955, Jnio Quadros, falando em 1960-
1961, Joo Goulart em 1963, o Deputado Carlos Lacerda em 1964, o Hino Nacional.
Nesse ltimo momento do espao existia a capela, cujo piso foi forrado de folhas
secas, artifcio utilizado por Lina em diversas exposies precedentes.
Lina elabora ainda o cardpio da exposio e o cartaz de divulgao, que
levou o desenho de um chapu caipira, com um tiro ao alvo em cores.
E na exposio tinha tudo isso, tinha o fogo ligado para voc sentir
o cheiro. Se fazia comidinha no fogo de lenha, possui um cheiro
diferente, um calor diferente. A casa fica com a parede preta. E ela
desenhava tudo isso nas reunies. Muito simples. As pessoas diziam
que parecia quase um desenho infantil. Mas eram deles que o povo
fazia o que tinha de ser feito. Ela se entendia muito bem com o
eletricista com o peo. A casa de pau a pique, foi feita uma. Por dois
caipiras.
101
100
O pau-a pique a mais tradicional tcnica construtiva da populao rural brasileira, que consiste no entrelaamento do
pau-a-pique com os espaos preenchidos de barro, e depois rebocados.
101
Entrevista com a sociloga Cilene Canoas. So Paulo, 30/01/2006. Anexo.
123
Figura 109 - Forno de barro e casa de Pau-a-pique. 1984
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Arnaldo Pappalardo
Figura 110 - O capito com a mulher, Dna Tereza. 1984
. Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
124
Figura 111 - Capela.1984
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Foto Arnaldo Pappalardo
Figura 112 - Sanfoneiras na festa de abertura
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
125
Figura 113 - Galinhas, Vacas e Porcos na Exposio. 1984
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. S/ Crdito
Publicado no livro LBB
Figura 114 - Desenho de chapu utilizado no Cartaz da exposio. 1984
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi. Desenho Lina Bo Bardi
126
Figura 115 Lina Bo Bardi obras Sesc
Fonte Arquivo Instituto Lina Bo e P. M. Bardi
CONCLUSO
Ser radical agarrar as coisas pela raiz, e a raiz para o homem o
prprio homem (Karl Marx)
Anos de guerra vividos na Itlia, a formao sob o fascismo, a vinda para um
pas livre das amarras do passado, carregado de possibilidades criativas e,
sobretudo, o foco de seu olhar voltado para as razes sociais e antropolgicas
como as pessoas vivem, o que comem, como dormem: estas so as substncias
fundamentais para a concepo do projeto de Lina Bo Bardi, Sesc-Fbrica da
Pompia, desenvolvido na presente dissertao.
Atravs de intensa reflexo e reviso de sua vida, Lina Bo Bardi chegou
compreenso da arquitetura como uma experincia coletiva. A arte para ela no
inocente e carrega consigo responsabilidades sociais. Sua arquitetura no uma
arquitetura fcil. Possui simplicidade, aparente ingenuidade, pureza, porm esta
uma linguagem para a construo de uma nova sociedade.
127
Comer, sentar, falar, andar, ficar sentado tomando um
pouquinho de sol... A arquitetura no somente uma utopia, mas
um meio para alcanar certos resultados coletivos. Vejo a cultura
como convvio, livre escolha, como liberdade de encontros e reunies.
Gente de todas as idades, velhos, crianas, se dando bem. Todos
juntos. (Lina Bo Bardi)
No Sesc-Fbrica de Lazer Pompia a arquiteta tem a oportunidade de colocar
em prtica seu iderio e esperanas. Lina prope uma sociologia da forma. Com
senso prtico e objetivo, carregado de metforas, a arquiteta adapta a arquitetura
desenvolvida nas mais variadas formas para a obteno de uma tomada de
conscincia do povo e de seus valores, prope a formao da crtica voltada para a
realidade social. Para vislumbrar esse iderio foram evidenciados dois momentos do
processo narrativo da obra: o primeiro refere-se ao projeto arquitetnico e, o
segundo, ao projeto expositivo, que por sua vez se ajusta na obra, ambos
articulados evidenciando questes difundidas por Lina.
Dentre essas questes e consequentemente as diversas leituras que podem
apresentar, so imperativas algumas posies, como o desenvolvimento da obra no
canteiro de obras junto com os operrios, tcnicos e colaboradores, criando
identidade atravs da incorporao de pontos de vista distintos dos seus. A prpria
arquiteta assimila valores, incorporando o elemento popular e nacional no seu
processo criativo, apresentando caractersticas antropofgicas. O movimento
antropofgico brasileiro, surgido na dcada de 20, teve por objetivo a deglutio da
cultura estrangeira e da cultura primitiva, popular, como meio de alcanar uma nova
realidade nacional. A arquiteta, que possui um amplo conhecimento do mundo
ocidental estuda a fundo a cultura brasileira produzindo a flor de mandacaru, o rio
So Francisco, uma praia no meio do espao urbano de So Paulo, espaos
abertos, coletivos como um elogio ao povo brasileiro e sua capacidade de improviso.
A concepo de suas exposies, didticas, reveladoras dessa realidade
popular trabalhada tanto nas temticas, na escolha do material a ser exposto, na
ambientao, voltada para pessoas de todas as idades, sexos, nvel cultural. Cada
vez mais a arquiteta estabelece vnculos com as razes populares. O museu aberto
ao povo, que inaugurou no pas um mtodo expositivo atual, onde as pessoas, a
obra de arte, a cidade faziam parte de um acontecimento s acaba por apresentar
128
feies de uma grande feira popular nas exposies do Sesc Pompia. A prpria
matria da exposio o objeto do dia a dia, posto para a formao de conscincia
esttica e coletiva.
Lina ainda prope uma maneira significante de assimilar a histria, uma
situao que envolve a tomada de posio em diferentes atividades realizadas por
ela. A histria considerada como parte do presente, ou o presente histrico. A
importncia ao monumento avaliada com grande rigor. O passado no prende: se
ainda tem alma ele prevalece.
A arquiteta procurou a comunicabilidade no projeto, alvo de muita critica
devido s diversas decises tomadas; a rua de paraleleppedos, a textura utilizada
nos materiais, passagens sem proteo contra intempries climticas, as
desconfortveis cadeiras dos espaos. A obra no se impe ideologicamente ao
usurio, mas o faz pensar a respeito das aes do dia a dia, o coloca numa posio
de reflexo em considerao s diversas situaes semeadas no espao. O
espectador o jri de sua obra.
Vivo minha vida aprendendo sem parar, s vezes di as
vezes encanta. Nunca me lembro de, num pedao de tarde, ter
aprendido tanto, o Brasil precisa ver este Centro de Lazer, que uma
rvore, para fazer dele semente. (Darcy Ribeiro,17/04/83)
129
BIBLIOGRAFIA
ANELLI, Renato. Arquitetura fascista. Resenha. Disponvel em:
www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha001.asp, 2001.
______________. Texto de livre docncia. A ao cultural de Lina Bo Bardi. s/d.
BARBARA, Fernanda. Espaos Culturais na obra de Lina Bo Bardi: uma anlise do
Sesc Pompia. Iniciao cientfica FAPESP. So Paulo, fevereiro de 1993.
BARDI, Lina Bo. Arte Industrial. Crnicas 8, Dirio de Notcias. Cidade de Salvador,
26 out. 1958.
____________. Carta ao Dr. Stanislau Silva Salles. So Paulo, 09/09/1982. (ocorrido
na exposio mil brinquedos que acabou por afastar Lina)
_____________. Casas ou museus?. Crnicas 5, Dirio de Notcias. Cidade de
Salvador, 05 out. 1958.
_____________. Cinco anos entre os brancos: O Museu de Arte Moderna da Bahia.
Mirante das Artes n6, novembro de 1967.
_______________. Cultura e no cultura. Crnicas 1, Dirio de Notcias. Cidade de
Salvador, 7set 1958.
________________. Entrevista de Lina sobre Arquitetura. Sem data.
________________. Escrito (sobre arte popular, realidades e possibilidades de um
pas). Sem data.
________________. Escrito Lina (sobre guerra na Itlia). Sem data.
_________________. Escrito para a revista Veja (?) [...] A arquitetura o espelho
da personalidade de quem a habita [...]. Sem data.
__________________. Escrito sobre Pompia.
130
___________________. Museu de Arte Moderna da Bahia. Texto de Apresentao.
Salvador, BA, 1960.
_____________________. O que a cidade deve preservar e revitalizar. Escrito de
Lina para universidade Catlica de Santos- Faculdade de Arquitetura. 13/05/1985.
______________________. Prefcio. Revista Habitat nmero 1. So Paulo, out.
dez. 1950.
_______________________. Texto de abertura da exposio Nordeste no Unho.
Nov-Fev. 1963.
BARDI, Pietro Maria. escrito sobre Lina Bo Bardi. Sem data, Arquivo IBPMB.10p.
Bierrenbach, Ana Carolina de Souza. Como um lagarto sobre as pedras ao sol: As
arquiteturas de Lina Bo Bardi e Antoni Gaud. In www.vitruvius.com.br.
BIERRENBACH, Ana Carolina de Souza. Lina Bo Bardi: tempo, histria e restauro.
Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo UFBA
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2001.
BORJA, Ligia. O Museu de Arte Popular. In A TARDE, Salvador, BA, 05 de
novembro de 1963.
CABRAL, Maria Cristina Nacentes. O racionalismo arquitetnico de Lina Bo Bardi.
Dissertao de Mestrado. Rio de Janeiro, julho de 1996. PUC do Rio de Janeiro.95p.
CAMPELLO, Maria de Ftima de Mello Barreto. Lina Bo Bardi: as moradas da alma.
Dissertao de mestrado. USP So Carlos. So Carlos, 1977.
Carta de Veneza. Maio de 1964. Disponvel em:
www.vitruvius.com.br/documento/patrimnio/patrimonio05.asp.
CARVALHO, Flvio de. A cidade do homem nu. Disponvel em
http://www.vitruvius.com.br/documento/arquitetos/flavio1.asp .Acesso 04/06/2007.
CASTRO, Cleusa de. Permanncias, Transformaes e Simultaneidades em
Arquitetura. Dissertao de mestrado apresentada a UFRS-PROPAR.Dez/2002.
131
CHAGAS, Mauricio de Almeida. Modernismo e tradio: Lina Bo Bardi na Bahia.
Universidade Federal da Bahia. Mestrado em Arquitetura e Urbanismo.Salvador,
2002.243p.
COLLODI, Carlo. Pinquio; traduo de Monteiro Lobato. So Paulo: Ed. Nacional,
1979.
COMAS, Eduardo Dias. Trs momentos de Lina Bo Bardi por Carlos Eduardo
Comas. Ltus Internacional: Mondadori ED. Maro/2000.
CORBIOLI, Nanci. O Sesc continua sendo..Revista Projeto Design, edio 276, fev
2003.
Equipe Sesc (coord.) Mil Brinquedos Para a Criana Brasileira. So Paulo: Sesc,
MASP, 1982.
Equipe Sesc (coord.) O Design no Brasil: Histria e Realidade. So Paulo: Sesc,
MASP, 1982.
Equipe Sesc (coord.) Caipiras, Capiaus: Pau a Pique. Catlogo da exposio.
So Paulo: Sesc, 1984.
FERRAZ, Marcelo Carvalho. Texto extrado de Palestras proferidas em Viena e
Santiago do Chile. [s.d.].
_______________. Trigueiros, Luiz. Sesc Fbrica da Pompia. Lisboa, 1996.
_______________ (Org.). Lina Bo Bardi. So Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi,
1993, 1ed.
FOUCAULT,Michel. L'Archologie du Savoir. Paris, Gallimard, 1969. (A Arqueologia
do Saber. Rio de Janeiro, Forense-Universitria, 1972)
GUERRA, Ablio. O Homem primitivo: origem e conformao do universo intelectual
brasileiro (sculos XIX e XX). Dissertao de mestrado . IFCH Instituto de Filosofia
e cincias Humanas, UNICAMP, Universidade de Campinas.
_______________. Lcio Costa:modernidade e tradio Montagem discursiva da
arquitetura moderna brasileira. Tese de doutorado. IFCH Instituto de Filosofia e
cincias Humanas, UNICAMP, Universidade de Campinas, 2002.
132
GULLAR, Ferreira. Cultura Posta em Questo. Rio de Janeiro: Editora Civilizao
Brasileira S. A., 1965.
IMPRIO, Flvio. Carta para Lina. Sem data.
LEVANTAMENTO sobre Sesc Pompia. Estudantes de Arquitetura da Faculdade
Belas Artes. 28/11/1983.
JORGE, Lus Antnio. As lies da arquitetura brasileira de Lina Bo Bardi. Projeto
Design n212 p102-105. Set/1997
LATORRACA, Giancarlo (ed.). Cidadela da Liberdade. So Paulo: Instituto Lina Bo e
P. M. Bardi, 1999.
LAUS, HARRY . BRASIL, JORNAL DO. Museus no Solar do Unho. Rio de Janeiro,
RJ, 04 de abril de 1967.
LIMA, Elaine. Solar do Unho cria percurso rico em experincias estticas. In O
ESTADO DE SO PAULO, So Paulo, SP, 22 de outubro de 1997.
MALAVOGLIA, Fabio. Entrevista com Lina Bo Bardi. Texto datilografado no
publicado. (o entrevistado foi diretor de programao do Sesc Pompia) So Paulo:
Instituto Lina Bo e P. M. Bardi: 23 a 26 de agosto de 1986. pp.1-39. Edson Elito a
Jos Wolf. Boltim IAB 48. Janeiro/fevereiro 2005.
MEDEIROS, Jotab. Van Eick lutou para humanizar as maquinas de morar. O
Estado de So Paulo. Caderno 2. 28 jan 1999
MONTANER, Josep Maria. Arquitectura y mmesis: la modernidad superada.
Barcelona, Gustavo Gili, 1977.
NETO, Achylles Costa. A liberdade desenhada por Lina Bo Bardi. Universidade do
Rio Grande do Sul: programa de pesquisa e ps graduao em arquitetura
PROPAR. Porto Alegre, dezembro de 2003.275p.
NOELLE, Louise. Luis Barragn Bsqueda y creatividad. Mxico, Universidad
Nacional Autnomo de Mxico, 2004.
NOTICIAS, DIRIO DE. Arte Popular, Salvador, BA, 05 de novembro de 1963.
O ESTADO DE SO PAULO: Difuso e ensino no MAM baiano. So Paulo, SP, 05
de maio de 1966.
133
OLIVEIRA, Olvia Fernandes de. Folhas e Folias. Relato de um encontro com Aldo
Van Eyck. Disponvel em http://www.arranz.net/web.arch-mag.com/5/coll/coll1t.html.
Acesso em 22/09/2006.
________________. Quarto de Arquiteto. Revista culum, nmero 5/6. Campinas,
1995.p.82-87
_________________. Lina Bo Bardi- Sutis Substncias da Arquitetura. So Paulo:
Romano Guerra, 2006.
O PESSOAL da industria que nos desculpe, mas o Sesc est inaugurando uma
fbrica. Foheto Publicitrio. Sem data. (dec80) Arquivo ILBPMB.
PEREIRA, Juliano Aparecido. A ao cultural de Lina Bo Bardi na Bahia e no
Nordeste (1958-1964). Dissertao de Mestrado. USP- So Carlos. So Carlos,
2001.
REQUIXA, Renato. Introduo- Conversa com Renato Requixa. Pasta portflio do
Sesc Pompia. Arquivo ILBPMB.Sem data.
________________. O lazer no Brasil.So Paulo: Editora Brasiliense, 1977.
RIDENTI, Marcelo. Em busca do Povo Brasileiro. Rio de Janeiro: Record, 2000
RISRIO, Antonio. Avant- Garde na Bahia. So Paulo: Instituto Lina Bo e P. M.
Bardi,1995
ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. Tenso moderno/popular em Lina Bo Bardi:nexos de
arquitetura. 2002. Dissertao de mestrado. Faculdade de Arquitetura
Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2002.
RGGEBERG, Eduardo Subirats. Los Gigantes y La Ciudad. Arquivo ILBPMB. 8p.
SANTOS, Roberto. Texto/Documentrio. No Publicado. 11/06/1979.
SESC POMPIA, o lazer que deu certo. So Paulo, Folha de So Paulo, 7/08/1983.
SUZUKI, Marcelo. Uma Breve Reflexo sobre a arquitetura contempornea.
Novembro,1989.
134
SUZUKI, Marcelo (ed.). Tempos de grossura: o design do impasse. So Paulo,
Instituto lina Bo e P. M. Bardi, 1994.
SUBIRATS, Eduardo. Arquitectura y poesia; dos ejemplos latinoamericanos. 14p.
[1990?] Arquivo ILBPMB
SUBIRATS, Eduardo. Paisagens da Solido- ensaios sobre filosofia e cultura.So
Paulo:Livraria duas cidades, 1986
TARDE, A. Inaugurado o MAP com duzentas obras de arte e mil trabalhos de
artesanato,Salvador, BA, 04 de novembro de 1963.
VEJA. A Oficina da Criao: Lina Bo Bardi conseguiu transformar num ousado
centro de lazer os galpes tradicionais de uma antiga fbrica de geladeiras, So
Paulo, 14 de abril de 1982.
Vdeo: Lina Bo Bardi. So Paulo: Instituto Lina Bo e P. M. Bardi, 1994. VHS, son.
Color. Documentrio de Aurlio Michilles. Aborda a obra da arquiteta, contando com
variados depoimentos de intelectuais e artista a ela vinculados.
Vdeo: O ladro de bicicletas; Vittorio de Sicca
Vdeo: Roma - Cidade Aberta; Roberto Rossellini
Vdeo: Tarde da Noite depois de uma caminhada. Realizado pela televiso
holandesa,1996. Direo de Toenke Berkelbach.. VHS, son. Color. Apresentao e
comentrios crticos de Aldo Van Eick sobre a obra de Lina Bo Bardi nas cidades de
Salvador e So Paulo.
VISO. Nasceu ara a arte popular, So Paulo, SP, 29 de novembro de 1963.
135
ANEXOS
136
ENTREVISTA RUBENS GERCHMAN
13/10/2006
Como voc conheceu a Lina? ?? ?
Conheci a Lina na ocasio de uma exposio no Masp. Ela e o Pietro me convidaram.
Para mim, foi realmente uma honra. Encapamos toda aquela escada com folhas de
jornal, do Dirio Popular, foi um trabalho muito bonito.
Depois veio o Parque Lage, tive essas duas colaboraes dela. Fui convidado, pela
Academia de Cultura do Rio, para ser um dos diretores da Escola de Arte. Houve a
fuso do Rio (estado da Guanabara) com o estado do Rio. Naquela poca o Rio de
Janeiro era pequeno, era o estado da Guanabara, no pegava nem Niteri. O diretor
de teatro Paulo Grisolli convidou o Aylton Escobar para dirigir a Escola de Msica, o
Cludio Vianna na parte de dana, e eu nas Artes Plsticas, para dirigir o Instituto de
Belas Artes.
Eu fui falar com a Lina, Olha, Lina, me convidaram, mas eu no tenho experincia
didtica, e ela me disse: Voc um organizador cultural, j montou vrias
exposies. J havia montado exposio do Hlio Oiticica, do Srgio Camargo em
Nova York e no Rio, a Bienal da Bahia, a exposio de Lygia Clark. Ela disse ento
que eu estava chegando dos Estados Unidos cheio de idias, e tinha que fazer isso.
Eu queria uma carta de demisso, caso no gostasse. Redigimos juntos essa carta,
e eu andava com ela dentro do bolso. Disse para o diretor no ficar ofendido, eu iria
tentar. Lina dizia: Faa!. Ela foi vrias vezes ao Rio de Janeiro e me ajudou. O
Carlos Lacerda havia encomendado uma pesquisa Lina sobre o Parque Lage, ela
ento sabia de tudo de l, que aquilo era um parque ingls, um parque romntico.
Ela catalogou todas as plantas, sabia da construo, enfim, conhecia toda a
evoluo do problema. Ela contou a histria dos militares que queriam invadir o
parque, aquele espao era cobiado por muita gente. Aquela tinha sido a casa da
137
Gabriela Besanzoni Lage, uma cantora lrica; o marido dela, dono de um estaleiro,
construiu esse cenrio de pera para ela cantar. O Glauber [Rocha] gravou Terra em
Transe l, o Joaquim Pedro [de Andrade] gravou Macunama. Existia toda uma
histria.
Aceitei trabalhar l e minha primeira providncia foi mudar o nome, de Instituto
uma coisa acadmica, no molde da Escola de Belas Artes para uma escola
contempornea, associada com gente contempornea, Escola de Artes Visuais. A
Lina foi minha primeira conselheira e primeira apoiadora. Ela ia para o Rio de
Janeiro e eu no podia nem pagar sua passagem. Da mesma maneira colaborei
com o Sesc, depois.
Ela organizou comigo tambm uma exposio do Hlio Eichbauer. Ele deu um curso
de dana e expresso para teatro. Montamos maquetes, fazendo uma retrospectiva
de toda a obra dele. Agora montaram uma exposio dele, em 2006, 35 anos
depois. Ele foi um cara importante. Fez o Rei da Vela e trabalhou no Oficina. Lina
trabalhou com ele na Bahia, na poca do Juracy Magalhes, tambm com o
Glauber, com o Koellreutter. O Hlio fez nosso primeiro curso e mostrou todas as
maquetes, inclusive a do Rei da Vela. Tudo o que aconteceu foi muito precoce,
muito antes do tempo. Ele montou Uirapuru do Villa-Lobos, ela apoiou. Enfim, foi
uma troca muito boa.
Fiquei l de agosto de 1975 a maro de 1979, e hoje a escola completou 30 anos.
Aquela era a poca do governo Geisel, um governo militar, opressor, uma ditadura...
Era muito difcil. A escola serviu como uma espcie de respiradouro para a cultura
do Rio de Janeiro, foi muito importante. Eu no tinha conscincia disso na poca.
Lina j tinha uma experincia precedente, enfrentou essa opresso tambm na
Bahia, e conseguiu realizar coisas importantes. Anos depois ela voltou para fazer o
Pelourinho. A Lina sempre esteve muito ligada Bahia, e foi muito importante na
formao de gente como o Glauber e o Trigueirinho, outro cineasta de quem ela
138
falava muito. E depois veio o Caetano, veio o Gil, eles tiveram um bero. Cultura
sempre tem que ter pai e me.
Depois dessa amizade, dessa colaborao, fiquei muito prximo a ela. Cheguei a ir
casa dela, fomos a excurses. Conheci muito um amigo dela, o Roberto
Sambonet, que era designer. Viajamos juntos, o Flvio Motta tambm. O prprio
Bardi. Ele era uma pessoa velha, no participava muito, mas era sempre muito gentil
quando o encontrava.
E depois, quando ela fez o Sesc, fui l vrias vezes, conheci a equipe, os dois
arquitetos que a ajudavam, o [Marcelo] Ferraz e o Andr [Vainer]. Era um grupo
cerrado em torno da Lina. Muito, muito jovens. Atentos e prestativos, no largavam a
Lina um minuto.
Ento ela comeou com a fbrica dela. Ela dizia: Uma fbrica de tambores que eu
vou transformar em centro cultural!.
Parece que na Escola de Arte Popular do Unho, no Parque Lage e no Sesc,
ela trabalha com os mesmos ideais, busca essa liberdade coletiva...
, mas no Parque Lage ela no participou da organizao dos cursos, ela deu
aquela retaguarda, Tenho um grande carinho e agradecimento por tudo o que ela
fez. Ela acompanhava de longe, sempre me telefonava, mas da programao da
Escola ela no pde participar. At pensamos em aumentar, fazer tendas do lado
externo para realizarmos oficinas no jardim, mas isso nunca foi feito. Eu tinha uma
idia de fazer uma Universidade Livre de Arte. Infelizmente, o governo era muito
fechado. Lina poderia ter dado uma contribuio muito maior, mas no engrenamos
nesse segundo momento.
Foi nessa poca que ela comeou a fazer o Sesc.
139
, a foi o contrrio. Eu comecei a vir para So Paulo, e ela pedia algumas coisas. A
colaborao entre ns continuou. As bananeiras da choperia... Ela dizia: Faa,
faa!. Fiz um desenho e ela montou, com os operrios, a ordem dos azulejos. Acho
que foi o prprio operrio quem decidiu o mdulo.
Essas coisas eram decididas no momento da obra, esse era o seu modo de
trabalhar...
Ela dava voz, dava poder s pessoas. No era autoritria apesar de ser muito
autoritria conceitualmente , tinha um respeito pelo ser humano que era uma coisa
preciosa. Aprendi muito com isso, pela maneira como ela comandava. Ela dizia que
o mundo das mulheres era muito chato. Gostava do mundo masculino, dizia ser
muito mais interessante. Ela era feminina e estalinista. Era uma mulher muito dura,
mas, ao mesmo tempo, muito doce, muito gentil e delicada. Ela me deu umas
aquarelas, fez algumas gentilezas comigo. Eu a vi desenhando, fizemos alguns
croquis juntos. A gente jantava e discutia na mesa. Pena que, com o governo militar,
essas coisas eram muito difceis no Rio de Janeiro. Eu mesmo no tinha dinheiro,
havia muita represso. Fomos invadidos muitas vezes pela polcia.
No Sesc, ela era dona de um pedao, era a autoridade mxima; ento, acho que ela
ficou satisfeita. Tinham as oficinas, discutamos muito. Ela queria ter uma
programao l no Sesc, que acho que no foi como ela queria.
Nas exposies que ela montou no Sesc, na dcada de 1980, utilizou muitas
idias j estudadas para o Parque Lage: o teatro aberto, exposies sobre
design, brinquedos para crianas...
A mo do povo brasileiro. . Isso inevitvel. As idias de Lina so to amplas,
generosas. Eu no acompanhei a montagem das exposies no Sesc. Ela falava, e
140
depois eu via acontecer. Ela teve outros colaboradores. Tinha um cara que fazia
alguns estandartes em Minas, de uma exposio que ela fez com tecidos de
mulheres mineiras, no lembro o nome do autor. Tinha o Flvio Imprio, de quem
ela gostava. Depois, o teatro do Z Celso, que ela ajudou a reconstruir.
Ela sempre esteve em todos os lugares. Deu um pouquinho de sangue no Rio de
Janeiro, para mim, para esse grupo. ramos quarenta professores. Comeamos
com dez eventos, no segundo ano j eram mais de cem e, no terceiro, quase
duzentos, durante o ano. As idias dela estavam muito presentes, mas o pblico que
eu atendia, ela no conhecia. Era um povo carente do Rio de Janeiro, por tantos
anos de represso. Em 1975, 1976, eu chamava o espao que tnhamos de espao
de emergncia, espao de resistncia. Era uma resistncia s coisas que
aconteciam na cidade. Quando o Museu de Arte Moderna pegou fogo, com a obra
do Torres Garcia, a Escola comeo a assumir at exposies no espao de
exposies do MAM.
Ento o Parque Lage j tinha uma estrutura grande, nessa poca?
Era uma estrutura precarissima, mas fazamos de tudo. Inclusive shows de msica
aos sbados e domingos. Conseguimos licena para fazer shows e muitos cantores
apresentavam-se gratuitamente, e assim a Escola arrecadava dinheiro para as
funes. A Escola teve um pouco de teatro, um pouco de dana, um pouco de artes
plsticas, fotografia, cinema e show de msica. Tornou-se um centro cultural. Acho
que isso foi um pouco o fruto de tudo o que conversamos.
E das colaboraes no Sesc?
Minhas colaboraes no Sesc foram muito especficas, na parte tcnica. Eu fiz dois
azulejos: o da piscina das crianas, o desenho de um peixinho que parecia se mexer
debaixo dgua, e essa coisa da choperia.
141
Voc no fez uma tela com o tema do futebol, para o Sesc?
Acho que talvez tenha feito, mas agora no me recordo. Talvez tenha feito um
desenho na urgncia da hora. No vi nada impresso. Vou ter um livro agora, daqui a
um ms, um ms e pouco, com todas essas imagens. Nunca fiz um livro sobre o
parque Lage. Queria fazer esse livro. Dedicado Lina e tambm ao Roberto Maia,
que foi o meu brao direito. Lina o conhecia bastante, era um arquiteto que ficou l,
como meu brao direito. O Roberto conhecia muito a Lina. Seu pai era um fotgrafo
da gerao dos anos 30, 40, muito amigo de Lina, tambm.
E a idia dos motivos dos azulejos, de onde veio?
Foi minha concepo. Falei de uma idia, que tinha estudos, da bananeira, e Lina
achou a idia tima. Nesse momento eu morava na Barra. Tinha esta outra
proximidade: minha casa foi desenhada pelo Zanini, que era amigo de Lina. Ele se
inspirou muito nos mveis de Lina, tinha uma fbrica de mveis. Tenho impresso
de que ele ficou influenciado pelas solues da Lina... Ela ainda achava que ele era
meio brutalista, no to requintado, mas, enfim, eles eram amigos. E eu tive muita
sorte de estar ao lado dessas pessoas maravilhosas... Com todos, aprendemos
muito.
A Lina era uma fonte de constante questionamento. E conviver com ela, viajar com
ela, era indiscutvel. Ouvir a Lina contar coisas... Mas, voltando origem, coisa do
esporte, ela dizia: Faa, faa!. E eu vim vrias vezes, para ver a construo da
piscina, e disse: Que tal se a gente fizer uns peixinhos?. Ela adorou a idia. Um
peixinho que na gua ia parecer estar em movimento, que quando a gua se agita
aparece, vermelhinho. Era muito ldico, grando.
Houve uma restaurao recente, e um dos arquitetos, acho que o [Marcelo] Ferraz,
disse que o cloro tinha atacado a pintura dos azulejos e que iam refazer alguns
deles. Ento perguntou da cor, me mandou amostras e tal, e fizeram. Foi isso. Eu ia
sempre l e era sempre muito prazeroso. Vi aquele rio nascendo, com os seixos, a
142
idia do barulho... Ela tinha um processo muito orgnico. Em vez de fazer s uma
passagem de gua, ela resolveu colocar seixos rolados, e tinha o barulhinho da
gua. toda essa potica que eu vi nascendo.
Depois, os mveis. Ela desenhou aqueles mveis simples, de madeira, vigorosos,
esto l at hoje. Ela tinha um pensamento muito cristalino, forte mas suave ao
mesmo tempo. Ela conseguia pensar no ser humano com uma doura, um carinho...
Como ela nunca teve filhos, era me geral. Ela amava o Brasil, o Nordeste, a arte
popular...
Depois, tivemos uma colaborao bonita, ela escreveu um artigo que eu publiquei na
revista Malasartes. Antes do Parque Lage eu fiz uma revista com oito colaboradores,
no sei se foi no segundo nmero que saiu esse artigo sobre o desenho industrial
brasileiro, e nesse artigo ela fala uma coisa triste, de como a arte popular brasileira
poderia ter sido uma coisa extraordinria, como na China... E como o Brasil tomou
outro rumo... Aquela exposio da Mo do povo brasileiro muito isso, e a coleo
o recolhimento dessa poca que ela viu no Brasil quando chegou, e tambm os
caminhos tomados, que foram muito diferentes, depois. Lina era uma grande
humanista.
Minha experincia com ela foi isso. Um exemplo de vida. Ela me deu dois presentes
que eu tenho at hoje... Imagina como ela me considerava carinhosamente: deu-me
um pequeno quadrinho, uma paisagem do Alasca, que o pai dela pintou. Um
quadrinho a leo. Ela falava: O meu pai era pintor. Mas ela tambm, ela fazia
aquarelas, aquarelas maravilhosas. Agora as pessoas talvez tenham visto no livro,
mas era uma parte da obra dela que no aparecia muito... Mas eram lindas.
Apesar de ser super vanguarda, ela nunca anulou esse respeito pela tradio e
pela gente que tinha boa formao, que gostava das coisas da arte, da cultura. Ela
achava que isso fazia parte.
Ela chegou a influenciar na sua arte?
143
Eu era um menino de vinte e poucos anos. Tinha o corao ainda muito aberto, a
chega uma pessoa da importncia dela e apia, no s monta a minha exposio,
pelo carinho, dedicao... Ficamos mais de um ms montando. Foi uma exposio
sem recursos, sem patrocnio, sem nada. Ganhei papel da grfica, tudo era muito
modesto, reproduo no preto e branco... Era outro Brasil. No existia essa
velocidade de hoje, no tinha Internet, no tinha grfica eletrnica. Tudo era caro, os
fotolitos, as reprodues. Eu trabalhei num tempo em que se usava clich de metal...
Voc fazia uma placa com bolinhas, e isso que dava os cinzas e os pretos... No
tinha mquina de impresso rotativa, isso veio depois.
Eu comecei a trabalhar aos 14 anos. Meu pai trabalhava em grfica. Ele veio da
Alemanha, e foi uma influncia grande. Eram desenhadas as letras, a tipografia, os
logotipos, as marcas. Engraado que eu mostrei os desenhos do meu pai para a
Lina e para o professor Bardi, e eles gostaram muito. Papai chegou aqui em 1936, e
Lina nos anos 40, no me lembro bem...
Lina chegou em 1946.
, papai chegou dez anos antes. Eles participaram da guerra, viram a guerra. Papai
no pde mais trabalhar na Alemanha. Todo esse pessoal veio para o Brasil cheio
de gs, de ideais, respirou aqui. Para o meu pai, aqui era o melhor pas do mundo,
ele no queria sair daqui. Acho que a Lina tambm adotou o Brasil como sua ptria.
Convivemos muitos anos... Depois a vi menos, no final de sua vida. Soube que
depois ela foi Bahia, e acompanhei o projeto dela na Bahia. De vez em quando
tinha notcias, mas no participei de nada.
E no Sesc Pompia, voc chegou a participar de reunies?
Muitas, muitas reunies. Mas eu era de fora, no fazia parte da equipe. Tinham
todas aquelas senhoras, tinha uma mulher grande Llia, ou Cllia , que era
executiva, l, do projeto... Outro dia algum me falou: Ah, ela lembra de voc!. Eu
participei de algumas reunies, sim, havia muita polmica, muita discusso.
144
Pelo mtodo de Lina trabalhar, de desenvolver o projeto?
Eu vi uma coisa que me chocou, mas isso foi muito instrutivo. Sabe aquela torre de
gua? Ela bolou aquele desenho, porque era um negcio muito agressivo, vertical.
Ela bolou fazer umas formas com saco de aniagem, furava os sacos e o cimento
escorria, e por isso que ficaram aquelas formas irregulares, que do a volta em
torno dos vrios anis. Ela queria uma coisa bruta, spera. Eu vi duas discusses
que me impressionaram, a outra sobre aquela forma das janelas amebides. Aquilo
ela fez espontaneamente, l na obra. Ela riscou, claro, mas o desenho foi executado
com os operrios, na hora. Depois ela botou uma trelia vermelha por dentro, para
barrar a luz, para no ficar uma luz muito forte. Por causa desses materiais que ela
pesquisava, a obra carregava uma espontaneidade. Muita coisa ela acrescentou,
modificou durante o projeto. Ela foi descobrindo solues na obra, como esse rio
que eu vi nascendo l dentro daquela parte onde tem os cursos, vi que ela colocou
os seixos, ouvi o barulhinho da gua. Ela foi estudando aquilo, foi sentindo.
Outra coisa que eu vi nascer foram os seixinhos naquela calha que acompanha toda
a fbrica. Ela dizia que aquilo quebrava a chuva, quando vinha a chuva, a gua
violenta, e fazia barulhinho tambm, ela tinha essa ligao com a natureza. Aquela
soluo de acmulo das pedrinhas, vi os caras fazendo artesanalmente, a Lina ia l,
e, puxa pra c, puxa pra l, era muito legal de ver. Ela cuidava daquilo como se
fosse a casa dela, como se fosse uma escultura, ou um jardim que ela estivesse
regando.
Outra soluo foi uma ponte para cobrir um esgoto que passa nos prdios. Ela fez
uma praia para as pessoas tomarem sol, um deque de madeira. Aquilo era um
buraco de esgoto, eu vi como nasceu, tinha uma parte mais elevada para as
pessoas apoiarem a cabea. Ela dizia: Em So Paulo no tem praia, no tem no
sei o qu, ento vamos fazer um local de lazer. As pessoas podem ficar sentadas
tomando sol. Ela sabia muito das necessidades do homem urbano, da pobreza, da
carncia que ele tinha. E como l era o lugar do lazer, no buraco de esgoto, naquela
coisa feia, no sei que tratamento ela fez, ela colocou o deque e aproveitou aquilo e
fez um local para as pessoas estarem.
145
E a relao dela com seus colaboradores?
Ela tinha uma confiana absoluta nesses meninos. Alis, eu os conheci jovens, hoje
em dia eu vejo que eles so famosos e tal, mas eles eram muito jovens. Discpulos.
Estavam sempre juntos, bebiam as palavras dela. Claro, eles davam suas opinies,
mas a a Lina j tinha ido e voltado, j tinha pensado em tudo l na frente.
Normalmente, o que ela queria que era feito.
A Lina tambm comeou muito cedo. Ela disse que dirigiu uma revista de arquitetura
aos 20 anos, quer dizer, sempre assumiu responsabilidades desde muito jovem. Ela
era muito capaz, trouxe para si mesma o peso das coisas. Antes do Sesc ela ficou
muitos anos sem fazer coisas, ento ela teve muito desejo de fazer projetos. No sei
se por ela no ser natural do Brasil, por ser mulher, ou ainda pela situao poltica,
no sei se havia um preconceito, ou cimes pelo fato de ela ter feito o Masp. Ela
tambm era muito de esquerda, muito radical, uma posio nova em relao
mulher. Ela era dura, se defendia.
Eu tambm era de esquerda. Ficamos prximos tambm por semelhanas muito
grandes de posio. Ns nunca discutamos ideologias, era sempre a forma.
engraado, eu tinha liberdade para discutir esttica com ela, no plano da criao e
no da ideologia, pois nisso estvamos muito sintonizados. Era bacana, isso, apesar
da diferena imensa de idade.
Ela tinha isso mesmo de confiar em quem trabalhava com a mo, em quem era o
produtor. No estou falando que ela pegou os azulejos e disse: Ah, deixa l que o
Manuel vai colocar. Ela dizia: Ah, d um espao aqui, repete alguns... Depois
deixa. A esttica, foi a do acaso. Quando cheguei l, j vi pronto. Eu s fiz o azulejo
em si.
Ela deu uma estrutura to forte de arquitetura e de orientao cultural, que aquilo
persistiu e ainda tem influncias at hoje. Que talvez at seja um pouco incorporado
atual filosofia do Sesc.
146
Sabe aqueles bancos do Estado, de teatro, e a quantidade de Sesc? Claro que
nenhum deles to bonito, to orgnico como o Sesc Pompia.
Depois a Lina refez o Oficina. Tocaram fogo, aquele dia foi criminoso. Ela viveu em
focos o Parque Lage, o Oficina. Muita coisa no Brasil ficou oculta, mas o tempo vai
passar e as coisas vo para o lugar. Mas isso muito pouco.
Como eram os almoos da Lina?
Eram muito bonitos, interessantes. Ela fazia comidas estranhas. Eram especiais.
Lembro que eu comi muito bem, l. Eu gostava de ir casa dela, ver obras de arte,
comer. As conversas... Era maravilhoso. Sempre tinham visitas importantes.
Uma pessoa muito legal, que j morreu, foi o Roberto Sambonet. Foi professor, junto
com o Flavio Motta, quando o Museu de Arte ainda era na Sete de Abril. Ele era um
dos melhores designers italianos. Um homem sofisticado, um nobre italiano. Lina me
apresentou a ele e ns passamos em So Sebastio, na praia, quase um ms
juntos, desenhando, caminhando, fazendo excurses, batendo papo... Depois o
encontrei na Itlia, estava numa bolsa de estudos em Berlim, e a que eu vi como
ele era importante. Ele fez uma peixeira de cobre, em forma de peixe, que Lina
usava para servir seus almoos.
Ela era uma mulher muito sofisticada. Os almoos dela eram com velas, pratos
gostosos. E conhecia muita comida brasileira, do interior. Ela estudava muito, ela
gostava comida mineira e coisas assim. Depois ela comeou a ver muitos desses
teceles, ela ia para o interior.
Ela trouxe um rapaz que fazia estandartes de l de bode, umas coisas grandes, uns
estandartes coloridos. Um rapaz de Minas, foi exposto l no Sesc. Tinha umas
coisas escuras e meio religiosas... Depois, ela comeou a falar das procisses...
Depois ela andou fazendo uns centros culturais no interior tambm, nuns lugares
aonde ningum ia. Coisas simples, sem dinheiro nenhum. Ela sempre foi
exatamente uma estudiosa da cultura brasileira, de comidas e de tudo. Dos
costumes.
147
ENTREVISTA JULIO NEVES
18/01/2007
Quando e como voc foi convidado para realizar o projeto para o Sesc
Pompia?
Em meados de 1971 o SESC Servio Social do Comrcio, atravs do seu ento
Presidente o Senhor Jos Papa Junior, nos convidou para a elaborao do projeto.
Como era o programa fornecido pelo Sesc ?
O Programa objetivava a construo de um Centro Cultural e Desportivo e,
basicamente, compreendia:
SETOR ADMINISTRATIVO
Com reas para: escritrios e servios gerais
SETOR CULTURAL E DESPORTIVO
Com reas para:
Teatro
Exposies/ estar
Lanchonete / cozinha
Biblioteca
Fisioterapia
Ambulatrio
Quadras de esporte e ginstica
Piscina
Vestirios e sanitrios
Voc poderia descrever as principais questes do seu projeto?
Aps a elaborao de diversos estudos, a adequao do programa foi
proporcionada atravs de sua distribuio em 2 novos blocos, sendo um horizontal e
outro vertical. A partir da definio adotada pela entidade, nosso escritrio elaborou
os desenhos que foram submetidos aprovao da Municipalidade o que ocorreu
em 05/12/1975, com a expedio do competente alvar da obra.
A seguir, o projeto arquitetnico foi devidamente compatibilizado com os demais
projetos complementares, contratados diretamente pelo SESC e destinados
execuo da obra. Nossos trabalhos foram concludos e entregues em janeiro de
1977.
Por que ele no chegou a ser realizado?
No incio de 1977, com o projeto executivo em mos e de posse de oramento mais
detalhado da obra e, ainda, em funo da conjuntura econmico-financeira de ento,
148
a direo do SESC optou por suspender a programao de incio da obra e
reformular seus objetivos fixados anteriormente para o empreendimento.
A arquiteta Lina Bo Bardi foi encarregada da elaborao de um projeto que
mantivesse as edificaes existentes, aproveitando-as, reformando-as e
complementando-as com o que mais fosse necessrio.
Em que ocasio voc conheceu Lina Bo Bardi?
Foi por ocasio da construo do edifcio sede do MASP, em 1963/64.
Qual a sua posio sobre o projeto da arquiteta?
O projeto do SESC Pompia atendeu aos novos objetivos definidos pelo cliente
atravs da reforma e adequao dos galpes existentes, incluindo a proposio de
blocos complementares com a sua arquitetura de forte impacto visual.
149
ENTREVISTA CILENE CANOAS
30/01/2007
Quais eram suas atividades no SESC, e quanto tempo trabalhou l?
No SESC, entidade, eu trabalhei 36 anos. Passei a minha juventude l. Comecei
com 18 anos e me aposentei com quase 60. Foram 36 anos dentro do SESC.
Quando surgiu o SESC Pompia, a primeira idia partiu do diretor Regional Renato
Requixa, que era amigo da Lina. Ele que teve a idia de convid-la. O Renato
achava que o SESC tinha de ser vanguarda, tinha de estar na dianteira. Ele
realmente conseguiu isso naquele momento, e penso que at hoje o SESC mantm
essa dianteira. E acho que aumentou o nmero de participantes nesse cenrio.
Naquele tempo havia menos gente preocupada cm cultura, lazer. Lazer era s no
SESC, mesmo.
Primeiramente o Renato chamou os tcnicos mais experientes para darem suporte
para a Lina no SESC Pompia, porque ela ia restaurar a parte arquitetnica.
Acontece que a Lina era incapaz de se restringir arquitetura sua viso era
poltica, social, humana. bvio que a arquitetura era importantssima para a Lina,
que era at uma liderana entre os arquitetos da poca, mas de maneira alguma ela
era apenas uma arquiteta. Essa era a grande diferena. Eu me lembro que
surgiram at cimes. O Renato disse, Para coordenar esse projeto, vou chamar a
Lina Bo Bardi, e responderam: Mas que idia! Ela nunca entrou dentro do SESC.
Mas ela entendia de tudo, muito mais do que qualquer um de ns. Num primeiro
momento houve aquela reao, mas depois, as pessoas entenderam. Alguns no
entenderam at hoje por que a Lina participou.
Voc conheceu a Glucia Amaral? No foi ela quem chamou a Lina para
trabalhar no SESC?
150
A Glucia era ligadssima Lina. Ela e o Renato faziam parte de um pequeno grupo
da direo que se interessava muito pelos meios culturais e artsticos. Ns nos
aposentamos na mesma poca, temos mais ou menos a mesma idade. Ela era da
equipe diretora que sempre acompanhava a Lina. S que a Lina preferia falar com
os pees, perguntar a opinio daquele que estava no cho atendendo as pessoas,
sua preocupao era essa.
Alguns detalhes no SESC Pompia foram feitos pelos pees, a Lina achou to lindo
que mandou fazer tudo daquele jeito certos arranjos de azulejo, de pedra no
corredor. No que ela quisesse parecer boazinha, ela acreditava na criatividade
dos pees. uma viso diferente, tem a ver com a opinio poltica da Lina. Tem a
ver, por exemplo, com Gramsci: todo ser humano intelectual, mesmo que seja
analfabeto. Alis, o Gramsci era italiano, como ela. Muitos intelectuais dizem isso,
mas so incapazes de acreditar que voc to intelectual como eles.
O Renato disse: Vamos colocar pessoas experientes na coordenao, mas achava
que no podiam ser os mais velhos tinha de ser gente jovem. Houve um debate
inicial sobre a formao dessa equipe para o Pompia. Eu tinha acabado de fazer
meu mestrado. O Renato j tinha aberto mo de vrias pessoas mais velhas,
daquelas que acham que sabem tudo, e formou um grupo muito interessante.
Provavelmente eu era a mais velha do grupo, mas me integrei perfeitamente porque
no tenho problema em aprender. Era at difcil perceber aonde ele queria chegar. A
maneira como estvamos raciocinando era nova, porque ao trabalhar com pessoas
mais velhas comum lembrar coisas passadas. Uma das pessoas com quem mais
aprendi nesse grupo foi um menino que coordenava a equipe tcnica, um jornalista
muito interessante, uma figura maravilhosa: Fbio Malavglia. Ele foi da TV Cultura
[e agora est na Rdio Cultura FM].
No primeiro ano do Pompia, quando fomos comemorar o dia 25 de janeiro ele
disse: Vamos pegar a musica Sampa, do Caetano Veloso, desmembrar e fazer o
projeto em cima. Eu achei aquilo uma loucura, mas o projeto saiu: mostrava a
diversidade de So Paulo, vieram grupos variados, foi uma coisa incrvel. E a Lina
entrava junto nessa experincia, ela amava fazer o diferente. Ela entrava fortemente
na nossa loucura.
151
No primeiro ano fizemos uma festa muito louca, que durou 24 horas, com uma
atividade atrs da outra, mesmo de madrugada. Uma festa maravilhosa. Cada parte
da festa tinha a ver com o momento a hora do almoo, o ps-almoo. Sobre o
almoo, a Lina falou: Ah, no pode ser um almoo qualquer, arroz, feijo. Tem que
ser arroz verde, feijo azul.... Ns perguntvamos como fazer isso, e ela deixava a
nutricionista maluca: Tem jeito de fazer um arroz azul?. E a nutricionista respondia:
Tem. A gente pode tingir o arroz, pondo isso fica azul, pondo aquilo fica verde.
Ento vamos fazer arroz de vrias cores!. O povo adorava! Era uma folia danada.
E era arroz que se podia comer, claro. Na hora parecia s loucura, mas no era.
Existia essa filosofia do SESC Pompia, de querer fazer coisas diferentes. A Lina
tinha discusses muito interessantes, por exemplo, com as bibliotecrias. O SESC
Pompia ia ser uma grande Biblioteca. Com as idias da Lina, aquilo foi se
transformando passou a ser restaurante, choperia, teatro, oficina. Ia ser uma
biblioteca para fazer frente grande biblioteca municipal, que estava se formando na
Paulista. Isso foi no final dos anos 70. No existia nenhuma biblioteca fora do centro,
ento a prefeitura inventou essa, e o SESC quis fazer uma grande biblioteca na
Pompia. Mas a o SESC inventou de fazer um monte de coisas alm da biblioteca,
e a prefeitura tambm. Agora, [o Centro Cultural So Paulo, da Prefeitura] gira mais
em torno das salas de teatro do que da biblioteca em si, embora seja uma tima
biblioteca.
Mas existiu essa briga da Lina com as bibliotecrias. Elas queriam organizar a
biblioteca de tal forma que a pessoa no tivesse a menor chance de roubar um livro.
Acho que iam distribuir vrias cmeras. E a Lina brigava: Ento os homens vo
roubar os livros? Jura? Mas que timo! Ah, se um dia me disserem que acabou a
biblioteca porque roubaram todos os livros! Temos que dar uma festa!. E as
bibliotecrias arrancavam os cabelos!
Eu a ouvia muito. Tinha gente que brigava muito com ela, batia de frente. E ela
adorava uma discusso intelectual, um debate inteligente. Se voc falasse uma
bobagem, ela no ofendia, mas dizia: Voc no entendeu, precisa ler mais sobre
isso. E eu vou at recomendar um livro. Isso tambm eu aprendi com ela. Ela falava
152
de um jeito que no humilhava. No te chamava de burra. Mas algumas pessoas do
SESC se achavam mais intelectualizadas porque tinham estudado na USP, e no
gostavam disso. E no final tudo uma bobagem. Mas eu ficava quieta, at porque
sabia que ela me quis na equipe por eu ser mais velha. Depois eu me integrei, e
todos ficamos amicssimos, mas era um grupo na faixa dos 25 anos e s eu tinha
mais de quarenta na poca.
O Renato fazia questo absoluta que tivssemos atividades para os velhos, por isso
queriam algum desse setor. A meninada de 25 anos ia pensar em mil coisas
culturais, intelectuais, interessantes, mas jamais pensaria em algum de 60 anos. O
Renato, que implantou a Terceira Idade no SESC, fez questo. E eu tinha acabado
de fazer meu mestrado sobre a velhice, e o meu livro foi um dos primeiros a serem
lanados no Pompia. Eu sou assistente social. Depois fiz mestrado e doutorado
sobre poltica social, polticas pblicas, e depois fui para a Frana. Foi o Renato
quem me deu essa bolsa. Fui para Barcelona, tambm.
Aps o lanamento do meu livro, logo no comeo, eu ainda ficava muito quieta nas
reunies. A Lina soube que eu tinha acabado de defender tese sobre a velhice e se
encantou comigo. Para o padro europeu eu era jovem, estava com quarenta anos.
E s entendi isso quando fui estudar na Europa. Aqui, eu era considerada uma
funcionria perto da aposentadoria. L, a esperana de vida era muito maior. A Lina
quis saber como uma pessoa jovem foi se interessar por velhice no Brasil, onde
ainda no se falava sobre isso. Dei a ela o meu livro, e ela ficou encantada. Eu at a
convidei no dia do lanamento, mas ela no saa noite muito, muito raramente.
Ela me mandou flores. Foi um lanamento muito bonito. Tudo o que aconteceu no
Sesc Pompia nos dois primeiros anos foi assim. As pessoas tinham curiosidade,
porque tudo o que acontecia ali era novo e bom.
A Lina comeou a conversar muito comigo, perguntava o que fazer com os velhos.
Ela percebeu que eu tinha algumas idias erradas eu agora defendo , coisas que
no havia entendido. Ela perguntava como deveriam ser as oficinas, e eu dizia:
Vamos colocar uns horrios, os velhos preferem o perodo da tarde. Vamos
preparar o professor, ou seja, tudo como no deve ser. S depois fui entender. Ela
me disse: Mas por que tem que separar os velhos?. Ah, no separar. que os
153
velhos se sentem protegidos. Ah, ento eles gostam de ser segregados, e a gente
ensina que eles devem ser segregados!. Eu dizia que no queria segregar ningum,
e ela respondia: Ento, pra de segregar! Como que a natureza? No nasce e
morre gente todo dia? No tem gente andando a, na rua, de tudo quanto idade?
Algum diz que a calada de l s para velho, a de c s para mulher? No tem
isso! Temos de conviver. E ser que os velhos, quando segregados, deixam de
saber como conviver, e como ser tolerante, e como entender um menino de 15
anos?.
Eu achei uma loucura. E resolvemos fazer uma experincia, perguntar para os
velhos. J tnhamos um grupo, porque antes da restaurao do Pompia j existia o
Pompia velho, l tnhamos o grupo da Terceira Idade. Durante a reforma eles
foram suas reunies no salo de festas de uma igreja prxima, na Lapa. Eu fui l e
contei que amos ter oficinas e festas, e eles ficaram animadssimos. E expliquei que
no Pompia ia ser diferente, amos misturar as pessoas, amos nos relacionar com
os jovens. E a maioria disse: Pelo amor de Deus, eu saio!. Perguntei para a Lina o
que fazer, e ela respondeu: Deixa ir. E vamos comear com quem quiser, tenho
certeza de que uns vo voltar. Eu, como sempre, achei timo.
Nesse meu livro que saiu em 82 eu j dizia algo que naquele momento desagradou
um pouco o SESC: que o lazer um meio, no pode ser utilizado como um fim. E
para o SESC ele era geralmente um fim. O lazer um meio para conseguirmos
outras coisas conhecimento, alegria, prazer , mas um meio. E alguns
discordavam disso. Dissemos para os velhos que teramos tais e tais horrios de
oficina, de marcenaria, e que eles poderiam escolher qualquer um: Se tiver velho,
muito bem; se no tiver velho, tudo bem; se tiver velho, moo e criana, tudo bem.
Alguns acharam a idia interessante, mas a maioria abominou. E alguns comearam
a fazer. Era a coisa mais linda, e at hoje assim eu passava pela oficina com
uma visita e explicava, e as pessoas viam aquele ambiente todo aberto. Era a idia
da escola a escola formal, antiga. O que costumam fazer? Dividir as crianas. A
criana de sete anos, de oito, de nove, de dez. A de sete no pode falar com a de
nove, como se fosse perigoso. Acham que uma maneira de resolver todos os
problemas consiste em separar as pessoas. Primeiro voc separa em moos e
154
velhos, depois em gordos e magros, depois em brancos e pretos. E assim vai
separando, separando, at perceber que est fazendo a maior bobagem do mundo.
No SESC Pompia, por conta da Lina iniciamos essa forma diferente de tratar as
pessoas. Nas outras unidades os velhos tm a sala deles, e alguns tm at a chave
nem o diretor da unidade entra naquela sala. A sala dos velhos, o armrio dos
velhos. Alguns j tm essa tendncia de separar, imagine quando so estimulados
cria-se um gueto. E eu no tinha entendido muito bem essa questo. No gostava
de separar, mas acabava separando por ser essa a norma, e com a Lina fiz essa
reflexo percebi que teoricamente j vinha construindo isso, mas no na prtica. E
continuei trabalhando com velhos. Agora mesmo acabei de vir de Minas Gerais.
Fiquei quatro anos no interior de Minas, organizando um grande setor de ps-
graduao, e acabei criando a Universidade da Terceira Idade, l. E a maior
dificuldade foi mudar a cabea dos professores.
Essa reflexo provocada pela Lina foi fundamental para mim. E as coisas que ela
nos dizia pareciam, no momento, to simples! Certa vez, um colega que ia dirigir a
choperia quis instalar um neon bem grande na esquina a esquina da Rua Cllia,
por onde todos passam. Na poca, neon era chique. Ela foi contra, e ele teve um
acesso de loucura. Ele tambm era italiano, muito bravo, e numa reunio foi
perguntar: Por que voc contra todas as nossas idias?, e ela respondeu: Eu
no sou contra a sua idia. E quero que voc faa a melhor choperia de So Paulo.
S que este um centro cultural que tem uma choperia, no uma choperia que
tem um centro cultural. No momento foi uma briga, uma discusso, mas
exatamente isso, preciso ter noo das coisas: a choperia no era o fundamental.
E ns temos de lembrar o tempo todo que um centro cultural At a choperia tinha
uma programao musical diferenciada, por estar num centro cultural. E ela dizia
essas coisas com uma segurana muito grande.
Estvamos to impregnados da idia de que tnhamos de ser diferentes, vanguarda,
que na hora em que o gerente viu o non, deve ter pensado: Descobri a plvora!. A
Lina esfriou essa idia, no por ser contra o neon, mas por seguir a idia
fundamental do que devia ser feito. Ela no perdia nem por um momento essa viso
do conjunto. Mesmo eu, coordenando a Terceira Idade, tinha de participar de todas
155
as reunies. E outra coisa interessantssima, que s vi l: nas nossas reunies ela
chamava o eletricista, o marceneiro, o chefe dos guardas, uma srie de pessoas.
Por que eles tinham de participar da reunio de programao? Fundamental,
porque vocs vo ter a idia louca, mas o eletricista, o marceneiro, que vo dizer o
que pode ou no pode fazer. O Fbio era um que inventava de pr coisas em cima
do teto. Ento vamos ver se pode. E a segurana? E a quantidade de gente que vai
entrar?. Lembro que na inaugurao do ginsio de esportes, j alguns anos depois,
tivemos muito medo, porque se programou um show do [Gilberto] Gil naquelas ruas
do SESC. Ele estava no auge, e ficamos pensando naqueles shows no
Anhangaba, que so problemticos. preciso ter comida, segurana. E o show j
estava programado e divulgado. E afinal, tudo correu muito bem. O SESC tinha
muito medo de acidentes, sempre equacionvamos tudo, e nunca aconteceu. Era
exatamente esta a questo: pensar no conjunto.
Comigo, a Lina sempre mostrava uma afetividade muito grande. Acho que ela sentia
o meu afeto j de muito tempo pelos velhos, e se inclua no grupo. Eu j lia e
estudava muito, e meu marido professor universitrio tambm, sempre discutimos
nosso trabalho em casa. Por isso, nas reunies, acho que eu realmente entendia
mais que os outros, ou talvez ela s quisesse demonstrar afeto, mas s vezes
anunciava: Agora, vou dizer uma coisa que Cilene entende. Nunca bati de frente
com ela, at porque no tinha argumentao para tal. Ela era forte, ia firme. Nunca
vou esquecer o dia em que meu colega esbravejava sobre o neon. Ela perguntou:
Qual sua formao?. E ele: Eu fiz seminrio na Itlia, fui padre, e depois resolvi
vir para c. Agora fiz sociologia. E ela: No precisa dizer mais nada, j entendi
tudo!.
E logo depois, quando houve a Revoluo dos Cravos em Portugal, a Lina que era
de esquerda estava muito contente. Ns recebamos muitas visitas, e certo dia
recebemos a consulesa de Portugal. A mulher estava muito irritada, porque era
contra a Revoluo dos Cravos, considerava aquilo um retrocesso! E nessas horas
que transparecia a educao da Lina. A consulesa era uma visita, no podamos
brigar com ela, e a Lina comeou a trat-la como criana, passando a mo na sua
cabea e dizendo: , s vezes acontecem coisas que a gente no entende bem.
156
Esse dia foi muito divertido. A Lina tinha essa caracterstica do Italiano, que muito
afetuoso, mas que tem uma grande capacidade de se impor quando no concorda.
A Lina era extremamente discreta em relao a ela. S vi uma foto dela moa depois
de sua morte. Uma foto de quando ela chegou da Europa, com o Pietro. No final da
vida ela s andava de preto, e nessa foto ela est de roupa clara. Ela no contava
nada, s dizia que tinha sido aluna do Pietro e que veio com ele para o Brasil. Eu fiz
cinco ou seis vdeos com pessoas idosas entrevistadas por um grupo de idosos, e o
Pietro foi um. Esse vdeo deve estar na biblioteca do SESC. O Pietro foi entrevistado
pelo Renato, pelo diretor do MASP e por um jornalista. No vdeo ele fala muito da
histria poltica, do MASP, do Chateaubriand, mas no fala da Lina. Como eles
tinham personalidades to definidas, talvez achassem que no tinha cabimento
ficarem falando um do outro. O Pietro adorava vir s festas. Bebia um pouco, e, se
tinha alguma moa dando mole, ele j vinha. E a Lina, no.
Na inaugurao de uma das primeiras exposies do SESC, sobre design de
cadeiras, um arquiteto foi saudar a Lina e disse: A senhora fez essa maravilha,
mesmo sendo uma mulher. A Lina levantou-se na hora: O fato de eu ser mulher
no tem nada a ver com isso aqui. O senhor renove a sua frase. O fato de eu ser
mulher uma questo de natureza biolgica, no influiu em exatamente nada do
que eu fiz aqui. Houve at certo mal-estar. Ela no permitiu que ele acabasse de
falar.
O espao expositivo localiza-se no galpo de atividades gerais, um espao
livre, com muitas possibilidades. Como foi o papel de Lina Bo Bardi na
definio desses espaos e o que ela procurava desenvolver l?
O espao expositivo o mais aberto possvel, idia dela, para possibilitar muitas
coisas. Quando diziam que seria aberto, o nosso referencial eram prdios de salas.
Achavam uma loucura: Vai ser uma gentarada, criana caindo na gua!. E no
acontece nada disso. E o fato de ser aberto, at mesmo a biblioteca, que foi o maior
problema, representa uma vitria: as pessoas lutaram o mais possvel, e ela foi
muito firme. Depois que comearam a surgir os projetos e as pessoas viram as
157
possibilidades do espao aberto, comearam a entender. engraado perceber
como nos sentimos seguros com paredes.
E depois, tivemos aquela famosa exposio dos brinquedos, Mil brinquedos para as
crianas brasileiras. Essa exposio marcou poca, ela percorreu o pas inteiro.
Tinha uns trs mil brinquedos. A pesquisa demorou vrios meses, envolvendo
crianas de todo o Brasil. Eu vi muita gente emocionada. Gente do Piau que est
em So Paulo h muito tempo e, de repente, v um brinquedo que s a criana do
interior do Piau brinca na exposio. Eu mesma fiquei emocionada. Sou de Santa
Catarina, onde existe uma grande influncia portuguesa as crianas brincam muito
com panelinhas de barro, que chamamos de alguidar. Quando eu vim para So
Paulo, sentia saudade dos meus alguidares, porque aqui s existem panelinhas de
plstico ou de metal. E no SESC eu vi de um arteso de Santa Catarina, com
colees de panelinhas de barro. Florianpolis ocupada por aorianos, por isso
aquela maneira de falar, que entrou fortemente em nossa veia de brasilidade.
A Lina j conhecia a diversidade que existe em So Paulo, e j naquela poca dizia
que no podamos ficar vendo o Brasil pela Rede Globo, onde s veramos um
Brasil paulista e carioca. Mas, que mal existe em mostrar So Paulo e Rio?. Mal
no tem, mal pensar que s isso. Ela foi restaurar o Solar do Unho. Mas, ao
restaurar, ela entrou em contato com os intelectuais baianos. E tinha esse grupo
todo que mais tarde ficou importante: Gil, Caetano. De todas essas idias refletidas
que sai a Tropiclia. Quando pedamos ao Caetano que ele fosse ao SESC, ele s
queria saber se a Dona Lina estaria l. A ele ia, mesmo sem ganhar nada. Porque
era importante para ele. Ns tambm tivemos projetos apresentados pelo Henfil. As
pessoas iam, porque o SESC Pompia era muito importante.
________________
Ns vamos a delicadeza da Lina. Ela tinha uma maneira romntica de mostrar as
coisas. Ela defendia suas idias com fundamentao, mas era uma pessoa
extremamente delicada. O logotipo do SESC Pompia, criado por ela, de grande
delicadeza. Teve gente querendo dar idias incrveis, chamar no sei quem para
158
desenhar. E ela foi rabiscando, e surgiu uma chamin que solta flor. piegas, mas
tem tudo a ver. para chamar a ateno, mesmo. E ela falava, quando era piegas.
Uma vez ela passou pelo baile, parou na porta da choperia, ficou vendo os velhos.
Ficou olhando de longe, e depois veio comentar: No devia ser baile s dos velhos.
Por que no trazem a famlia, os filhos?. E assim comeamos a fazer bailes noite,
com orquestra. Para atrair os velhos, perguntvamos a eles que orquestras queriam
trazer: A do Silvio Mazzuca. Era a orquestra chique da poca. E havia a orquestra
de Orlando Ferri, e outras. E tivemos grandes bailes, abertos ao publico. Os velhos
acharam o mximo, porque eles que deram a idia de trazer o Silvio Mazzuca. E
traziam a famlia, os amigos.
Existia um pblico mais especfico, ao qual as atividades do SESC eram
direcionadas? No perodo em que voc acompanhou, sentiu mudanas no
perfil do pblico freqentador?
Sempre se estimulou a participao das pessoas mais diversas, em todos os
aspectos, principalmente em relao ao preo. Comer no restaurante do SESC no
nada caro. O teatro, as oficinas, tudo tinha um preo acessvel, mas no era de
graa. Sem dvida, no era para pessoas que no tivessem nada, e dava-se
preferncia para quem trabalha no comrcio, que j um grupo muito variado, vai
desde o faxineiro at o diretor da loja. O objetivo maior era diversificar o pblico.
Mas no comeo no era assim, a idia era colocar pessoas mais intelectualizadas,
gente de vanguarda, quem tivesse interesse em arte.
Voltando ao assunto das oficinas, elas no tm porta, para que as pessoas, ao
passarem na frente, tenham vontade de participar. A Lina dizia que as oficinas no
eram para desquitadas que no tm o que fazer. E explicava: A mulher que
abandonada pelo marido e no sabe o que fazer, vem fazer pintura no Pompia!
No, no, no!. No que ela no quisesse a presena das desquitadas, mas
teriam de vir por outro motivo, querer pintar ou querer aprender com esse professor.
Ela queria que viesse gente com vontade de aprender. Aprender a tecer em tear
manual, saber a histria do tear, fazer peas, construir coisas na marcenaria. E
vamos cenas bonitas: um idoso fazendo um bero, junto com o jovem que era dono
159
do bero, mas ajudando, dando idias, o que melhor. E as pessoas faziam coisas
que seriam usadas, mesmo: um bero, um banco necessrio para a casa. No eram
pessoas descomprometidas. Ns tnhamos uma oficina de cermica imensa, com
aulas de importantes ceramistas. Depois foi mudando, mas os primeiros professores
tinham renome: um grande ceramista, um grande tecelo. E vinha gente atrada pelo
nome do professor.
Periodicamente ao menos uma vez por ano fazamos uma exposio dentro das
oficinas, integrando todas as oficinas. A montagem se fazia em grupo: Ns fizemos,
esse projeto nosso. Os primeiros professores foram saindo, comearam a vir
outros, e estes queriam fechar, colocar uma portinha. E ns ficvamos lutando, o
tempo todo.
Como se dava a participao de Lina nas programaes culturais? Ela tinha
algum cargo? Como foi sua participao nessas atividades?
A Lina era assessora do SESC. Depois da inaugurao, continuou durante cinco
anos. No era funcionria, tinha uma assessoria pessoal, no sei como funcionava.
Lina foi afastada do SESC em 1985, depois da exposio Entreatos para
Crianas. Voc pode falar sobre o que aconteceu?
S sei que ela saiu quando o Renato saiu. Foi quando entrou o novo diretor regional,
o Danilo, que continua at hoje. O Danilo uma pessoa excelente, que j participava
da equipe do Renato. Quando houve essa mudana, a Glucia saiu tambm, mas a
Lina continuou l. E algumas pessoas pensavam: Ah, essa mulher j era, ela j fez
aquilo que tinha que fazer. Pessoas que no quiseram compreender seu trabalho,
ou que no compreenderam. Parece que ela poderia continuar, numa assessoria
externa. Sem dvida, tudo isso foi conseqncia dessa mudana de pessoas.
Lina sempre falou muito do Presente Histrico, da importncia de se fazer uma
seleo criteriosa do passado que assume o presente em nossas vidas. Nas
exposies do SESC podemos perceber que ela busca referncias em
bagagem carregada por ela tanto no Brasil como na Itlia, incorporando-a no
160
espao. Como era acompanhar esse seu momento criativo, e o que ela
buscava no passado?
Ela reunia sempre muitas pessoas, para pesquisa. Nunca se baseava s nas idias.
Tenho a impresso de que ela tinha uma idia, um projeto, e mandava pessoas
pesquisarem coisas que obviamente j conhecia. Por exemplo, quando fez a
lindssima exposio Caipiras, capiaus, pau-a-pique, ela mandou um grupo de
tcnicos pesquisarem. Eles estudaram e fotografaram o que era pau-a-pique, como
era a vida no interior, onde ainda no se tinha luz. Ao voltarem a Lina montou um
projeto, e ento percebemos que ela sabia perfeitamente o que era tudo aquilo.
Nada do que diziam era novidade, porque ela complementava: Isso nessa regio,
porque naquela se faz pau-a-pique assim. E quando voc entra nessa casa de pau-
a-pique e as pessoas tm fogo de lenha, como o cheiro, como a cor da casa?.
E na exposio tnhamos tudo isso, at o fogo ligado para sentirmos o cheiro.
Faziam comidinha no fogo de lenha. Assim, percebamos que esse fogo tem um
cheiro diferente, um calor diferente, que a casa fica com a parede preta. E ela
desenhava tudo isso nas reunies, de maneira muitos simples. s vezes as pessoas
diziam que esses desenhos eram quase infantis, mas com base neles fazia-se o que
tinha de ser feito. Ela se entendia muito bem com o eletricista, com o peo. A casa
de pau-a-pique foi feita por dois caipiras.
A programao cultural do SESC apresentava, nesse perodo, sempre temas
polmicos, voltados para o popular. Quais eram os critrios para escolha dos
temas das exposies? Sobre os caipiras, por exemplo.
O que se propunha era uma reflexo sobre a vida rural. Ns tnhamos de fazer essa
reflexo, mas no propnhamos mudar ningum da vida rural. O objetivo era que as
pessoas no quisessem modernizar o rural, e sim, trabalhar melhor o como que
se vive. Ela mostrava como essa simplicidade do viver era adequada. O moderno
levar o aquecimento solar, a gua encanada. E vemos que aquele povo tem
solues muito interessantes, que geralmente respeitam muito mais a natureza.
A exposio dos Mil brinquedos foi, para mim, a mais bonita do SESC. Uma grande
quantidade de gente visitou essa exposio, que depois viajou at para o exterior.
161
Muitos iam buscar parentes no interior, para ver essa exposio. Se algum ia
buscar a av no interior, porque a exposio era muito importante. E era muito
bem feita, embora sem nenhuma sofisticao. Essa foi uma das exposies mais
simples.
No Entreato, j existia essa reflexo voltada para as crianas, sobre a vontade de
querer matar os bichos, acabar com tudo. Hoje, j vemos naturalistas defendendo a
natureza, no se pode matar formiga, o que iria desequilibrar outra ponta, deve-se
apenas afast-la da casa. A viso do homem do campo mais abrangente que a do
homem moderno. A Lina insistia na necessidade de conhecer o que temos, a
diversidade. Temos de saber que existe o fogo de lenha, saber como ele funciona,
saber que faz coisas muito boas. Mas isso no significa que eu venha a ter um fogo
de lenha na minha casa.
Ela trouxe exposies da Itlia?
Ela trouxe o Pinocchio da Itlia, e a exposio ficou muito bonita. Essa foi uma das
primeiras exposies em que eu vi o uso de cheiro, temperatura, sensaes algo
que hoje comum. Especialmente para as crianas, era muito interessante. Uma
exposio para voc interagir, e no apenas olhar. E ela ajudou a organizar a idia
da Semana de 22: o Brasil tem cheiro, tem cor, diferente da Europa, e fomos
descobrindo isso. Ela queria o tempo todo que descobrssemos um Brasil muito
maior do que o pas que imaginvamos.
Ela expunha as idias, mas tambm ouvia. No era autoritria. Expunha de uma
maneira muito gostosa. Por exemplo, na exposio dos brinquedos ela nos
provocou: Como que voc brincava? Que brinquedo voc tinha quando era
criana? Ser que todos ns brincvamos do mesmo jeito?. Ela nos disse que s
tinha bonequinha de pano. Depois que comearam a aparecer a bonequinhas de
loua. E fizemos um debate. Todos tinham de falar sobre os brinquedos de sua
infncia. Meu av fazia brinquedos de madeira, e isso era comum, porque na minha
gerao no existiam muitas lojas de brinquedo. As mes faziam bonecas, os pais
faziam caminhezinhos. No havia muitos brinquedos, mas as crianas brincavam
intensamente. Depois veio a fbrica Estrela, e hoje voc tem por ano inmeros
162
lanamentos. E como que fica a cabea da criana? Agora, ela no pensa s na
bonequinha que a me fez.
Depois de toda essa reflexo, ns entrvamos de cabea no projeto. Vamos
plenamente que ela j trazia o projeto pronto. Ela sabia expor, mas todos
participavam com idias. E ela tambm entrava de cabea quando a equipe
apresentava uma proposta. o que aconteceu na festa de 24 horas no ar para
comemorar um ano do SESC Pompia.
Aconteceram outras festas interessantes. Era o final dos anos 70, incio dos 80, o
comeo da abertura poltica, um processo gradativo. O SESC era bem novinho,
ainda. E uma editora veio ao SESC Pompia pedindo para lanar o livro Anistia, do
Teotnio Vilela, e ele era extremamente de esquerda, comunista. Quando chegou a
carta, o presidente do SESC se espantou. A equipe achou que deveramos lanar,
era um livro importante, mas todos ficaram em dvida sobre o que iria representar
isso no governo. Fizemos uma reunio, e conclumos que era importantssimo, pois
apoivamos a abertura. Apresentamos nossa argumentao para o presidente do
SESC, lembrando o quanto seria importante para a nossa imagem, e ele aceitou. Foi
uma das noites mais memorveis que j tivemos no SESC, porque veio toda a
intelectualidade de esquerda do pas, toda a intelectualidade brasileira. At o
[Miguel] Arraes. Nesse dia lindo, o Henfil que foi o mestre de cerimnias. O Teotnio
Vilela estava to doente que o carro precisou entrar na rua interna. E o presidente
do SESC entendeu que isso era positivo para a imagem dele. Eu estava na
faculdade, em 1964, e foi muito bom ver essa abertura. Nesse dia, dentro do SESC
havia banquinha de todos os jornais que estavam na clandestinidade. Foi
impressionante, saiu na imprensa internacional.
Tambm tivemos o Encontro dos ndios, um projeto importante. Na concepo
brasileira o ndio era considerado incapaz, por isso no podia viajar. O [Mrio]
Juruna comeou nessa poca a se salientar politicamente no pas, e mais tarde ele
seria eleito deputado. Ele foi convidado para falar num congresso no exterior, mas
no teve permisso para sair do pas por no ter passaporte, e organizou-se um
movimento para acabar com essa histria de que o ndio incapaz. E a que entra
o projeto do SESC Pompia. Organizamos uma semana para discutir a questo do
163
ndio, que provavelmente coincidia com o Dia do ndio. O interessante que
pudemos fazer essa reflexo: trouxemos ndios do Norte, do Sul, e vimos que eles
no eram iguais. O ndio aqui de perto de So Paulo era o mais pobre. Tinha ndio
mendigo, aqui, em So Paulo. Em Braslia voc encontrava ndio estudando na
universidade. E foi uma reunio muito louca, com representantes de vrias tribos. E
tivemos de fazer tambm uma reflexo interna, porque ns mesmos vamos o ndio
como incapaz, algum que no pensa, s faltava lev-los ao banheiro. Tivemos de
pesquisar o que eles comiam, e o restaurante se modificou completamente naquela
semana. Isso me marcou muito. Tive de pensar: Ser que eles sabem sentar?
Como vo se comportar no teatro?. Sabiam muito mais que ns, e sabiam
participar. Eles tm um entendimento diferente sobre a vida.
E a questo das cadeiras do teatro?
Muitas pessoas criticaram essas cadeiras. Um dia desses, vi algum elogiando, na
televiso. A Lina dizia que naquela cadeira voc era obrigado a sentar direito. Ela
chamava da posio ltus, do ioga. Ela adorava intrigar as pessoas.
Eu morei num stio, quando era criana. Nos stios no existem muitos vasos, e as
mulheres fazem de qualquer latinha um vaso. Minha me tinha uma parede
inteirinha de plantas, em latas de leo abertas ao contrrio. A planta fica por cima, e
voc no v que uma lata de leo. E a Lina fez uma parede dessas no SESC, l
na entrada: uma parede com plantas em latas de leo, de massa de tomate. Junto
com o pessoal das obras, que tambm trazia as plantas. Isso afeto! dizer: Ah,
uma plantinha que voc trouxe! Eu gosto, quero aqui!.
Aquele lugar onde corre gua, a canaleta, com pedrinhas midas, foi ela que
inventou. Ela mostrou para os pees umas revistas japonesas, e eles acharam to
bonito que comearam a imitar. E ela resolveu fazer tudo assim, com os seixos. E eu
via nisso um afeto muito grande. Ela no fazia propaganda disso, ns ficvamos
sabendo pelos prprios pees. Ela no fazia como marketing. Mas sempre exigia,
em todos os projetos, uma reflexo. Nunca por estar na moda ou ser bonito.
164
Trabalhei com muita gente, mas ela foi uma das pessoas que mais me marcaram.
Naquela poca, havia no SESC muita gente que trabalhava pensando na moda, no
moderno, meio sem saber por qu. A moda, sem explicao, fica na aparncia. E
isso no me satisfazia. Naquele momento, principalmente depois de 74, nem sempre
pegava bem emitir opinies, parecia que voc era de esquerda. A chegada da Lina
foi muito boa, porque embora tenha sido trazida pelo diretor Regional, de cima para
baixo, no veio para impor seus pensamentos, veio para nos fazer pensar. E alguns
ficaram irritados, no queriam pensar.
Valter [marido de Cilene Canoas] Eu trabalhava no SESC, tambm. E havia uma
burocracia muito grande. Por exemplo, iam colocar um quadro imenso, com um
pan caindo, e existia um contrato para que aquele pan ficasse ali por quinze anos,
e ningum mais mexia. No entrava a modernidade. Havia uns arquitetos, que
criaram ginsios de esportes diferenciados, que fizeram os centros campestres do
SESC. Na obra da Pompia, no, a Lina trouxe uma equipe nova, o que j era uma
proposta revolucionria. Lembro-me que no me conformava com as janelas do
SESC, nas obras. Pensava que estivessem usando uma frma errada. Ate hoje eu
acho essas janelas uma coisa de louco. As cadeiras de cimento, da choperia,
tambm. Aquela coisa pesada. Quando o Tim Maia tocou l, lembro que a Cilene
subiu em cima da mesa. No tinha como quebrar uma cadeira, acontecer algum
problema.
Cilene Tambm, com Tim Maia e Sandra de S, liberou geral!
Valter Era impossvel quebrar as cadeiras, elas eram firmes.
Cilene E ela tinha um contrato que dizia que o prdio no poderia ser alterado.
Naquele rio [Rio So Francisco], todos diziam que iam cair crianas, que mes iam
lavar a bundinha do beb nessa gua. Isso nunca aconteceu. Tudo era muito
simples, e todos respeitavam.
Outro fato interessante e emocionante: havia uns ltimos mveis da fabrica velha, de
madeira, marrons, na rea dos escritrios. Quando abriram os mveis, encontraram
todas as plantas da Pompia. A Lina disse que s podiam ser alemes!
165
O SESC, nessa poca, foi um marco, mesmo. Aconteciam muitas exposies
pequenas, alm das pontuais, a dos brinquedos, a dos caipiras. Ningum passava
depressa pelas exposies da Lina. Todos se motivavam, se deliciavam, olhavam
cada detalhe.
A parte dos escritrios era toda de madeira escura, meio tenebrosa. E onde foi feita
a rea de estar existia um teatro de arena improvisado. O Oscar Felipe era o diretor.
Dentro desse teatro atuava essa companhia, e tnhamos shows de vanguarda. Um
dia tivemos um show de Punk. Quando olhamos para o porto, a policia de choque
estava entrando no SESC. Os vizinhos chamaram, com medo de os punks
invadirem suas casas. Foi terrvel. Conversamos com a policia e fizemos um cordo
de isolamento, para os punks irem embora. O Stan, eu, o Fbio Malavglia... Esse
cordo saa da porta do SESC e ia at a avenida. Saiu uma edio do Jornal da
Tarde inteirinha sobre isso, elogiando a atitude dos funcionrios. Os vizinhos se
assustaram fundamentalmente com as bandas, porque o barulho era infernal. Mas
tudo o que acontecia ali era inovador.
O Pompia provocou cime nas outras unidades, atraa ateno e por isso gerava
crticas: Na Pompia s tem bicho grilo, gente que puxa fumo.
Tambm no teatro tivemos muita coisa. O Perdidos na Noite [do Fausto Silva],
aquele programa da TV Cultura, [Fbrica do Som] os espetculos de dana o
professor de dana no Pompia, Ismael Ivo, hoje bailarino e coregrafo de fama
internacional e vive na Alemanha. E tivemos grandes shows, como o de Luiz
Melodia. Alguns artistas reclamavam por termos de abrir os dois lados da platia,
mas a idia da Lina era fazer um teatro popular, que fosse barato.
Na exposio dos caipiras, cada mastro uma homenagem a algum. Existe
um sentido nisso?
Realmente, cada mastro homenageava uma pessoa, pessoas muito diferentes, que
tinham um significado para ela. A Lina era capaz de dar o mesmo peso para um
operrio e para o presidente da Repblica. Com os mastros, ela mostrava que a
importncia das pessoas no vinha do cargo, mas do que haviam feito.
166
Dentro do SESC eu senti isso muito intensamente. Ele coordenado por um grupo
de operrios que nunca vem ver o que voc est fazendo, mas eu sempre trabalhei
procurando refletir com as pessoas. A Lina no era revolucionria, mas nos fazia
pensar. Mas lgico que o pensamento leva voc a se modificar. Eu me modifiquei
com ela. As poucas mulheres que trabalhavam, colocavam-se numa posio
subalterna. No momento em que ocupvamos a funo dos homens, algumas
moas no queriam trabalhar para ns. Ela no era panfletria, mas sem dvida nos
marcou, e sem fazer muita propaganda. Este o fundamental: o plano das idias. O
Darcy Ribeiro, por exemplo, adorava o SESC Pompia, e at escreveu isso num dos
nossos livros de visita.
Em compensao, um jornalista velhinho, que no gostava da Lina, falava mal das
cadeiras do teatro e dizia que l se estragavam todos os sapatos. E um dia eu recebi
a me do [Paulo] Maluf. Ela disse: Nossa, que horror!, s faltou pedir um carro para
lev-la. Quando chegamos porta da choperia, ela disse: Ah, que bom, vai ter
curso pra cozinheira? Vocs no sabem como faltam cozinheiras, hoje! Era isso que
vocs deviam fazer aqui!.
167
ENTREVISTA ANDR VAINER
25/06/2007
Voc j comentou que trabalhar com Lina Bo Bardi foi uma grande escola para
voc. Quais foram os maiores aprendizados, e o que voc carrega para sua
vida e obra?
Essa uma pergunta muito complexa. Vou tentar responder alguma parte dela.
Acho que tive um aprendizado no sentido de olhar para a arquitetura de forma no
estritamente formalista, como muitos arquitetos olham e como acontece cada vez
mais em certo rumo que a arquitetura toma, basicamente lidando com essa questo
formal.
A Lina sempre afirmou que arquitetura era uma atividade, no uma profisso, que
propiciava a criao do espao para o convvio seja o convvio para o trabalho, o
convvio para o lazer, o convvio familiar , e com isso ela privilegiava sempre o
ponto de vista do projeto. A sua arquitetura reala essa questo, esses objetivos,
que nunca vai para o lado estritamente formal, como em muitos lugares, em muitas
pocas e em muitos momentos a arquitetura tende a caminhar. E que se torna mais
um dos objetos de consumo, como uma cadeira, um design, um equipamento
eletrnico. Acho que isso, basicamente.
Uma outra coisa fundamental na nossa formao com Lina foi a questo tica,
profissional, no sentido do respeito pelos profissionais, do respeito pelos colegas, da
considerao por todos que trabalham com voc. A questo tica no sentido de que
a profisso no s uma fonte de renda mas tambm uma obrigao de devoluo
para a sociedade daquilo que voc tem como ser humano, como aprendiz.
168
No incio do projeto para o SESC Pompia voc chegou a fazer um
levantamento do stio com Lina? O que norteava esse levantamento? Houve,
como voc cita sobre o projeto do Camurupim, uma investigao sobre a
populao local e sobre quem ia usufruir do projeto?
Fizemos alguns levantamentos de carter arquitetnico, medidas... Aquele lugar j
era utilizado pelo SESC como um centro de carter provisrio. Quando chegamos l,
o prdio j estava sendo utilizado pelo SESC, ele costuma fazer isso. J fez em
duas ou trs outras situaes no Belm, e agora est fazendo na Paulista. Eles
compram um bem e, enquanto no tm o projeto, os objetivos, o programa para
aquele lugar, abrem para fazer um centro de lazer. E l aconteciam jogos, festas de
So Joo. Principalmente naquele galpo grande, que hoje chamado de
Convivncia e que ns chamvamos de Atividades Gerais.
A Lina estabeleceu o programa em conjunto com o SESC. J tinham um programa
fechado, mas estamos falando de praticamente 30 anos atrs, quando o SESC no
tinha a quantidade de unidades que tem hoje. Eles tinham cinco ou seis centros
uns trs em So Paulo e uns quatro no interior , por isso ainda no tinham certeza
das necessidades, no era um organismo que tivesse total conhecimento das
necessidades. Estavam abertos a novas experincias. E a Pompia foi uma dessas
novas experincias, de reunir os perfis, de ser ao mesmo tempo um centro de lazer
e de cultura. Lazer, segundo eles, era a parte esportiva e a cultural tambm, mas
dividindo os prdios em dois blocos distintos. No bloco cultural haveria a
recuperao dos pavilhes das fbricas, e o bloco esportivo seria o bloco novo.
A idia surgiu do grupo do SESC e de conversas com a Lina, eles montaram juntos.
Quando chegamos l, o programa estava desenvolvido, eles j sabiam que queriam
uma rea de convivncia, um teatro, restaurante e rea esportiva. Mas isso foi
evoluindo em conversas com a Lina, e essencialmente estes eram os grandes cinco
plos da Pompia: esporte, teatro, restaurante, atividades gerais e os atelis. Foram
os cinco blocos que definiram a ocupao de espao, tambm.
169
Foi o Renato Requixa quem concebeu essas novas diretrizes de lazer?
O Renato Requixa era uma pessoa muito interessante, um socilogo, e tinha se
dedicado a estudar a questo do lazer. Nesse sentido, o SESC era um programa
muito avanado no Brasil em termos de previdncia, no sentido de dar aos
trabalhadores outro tipo de ocupao, sem ser aquela ligada ao trabalho estrito,
propor uma abertura aos trabalhadores. Por exemplo, a indstria, com o SESI, no
tinha esse olhar to desenvolvido e vanguardista quanto o SESC, na poca do
Renato. Ele foi uma pessoa fundamental na elaborao do programa da Pompia.
E o projeto de recuperao da Fbrica, teve importncia para a histria do
bairro?
Eu e o Marcelo estvamos no quarto ano da FAU, em 77, e a Lina nos contou o que
era esse sistema que ela concluiu ser o sistema hennebique, utilizado no final do
sculo XIX. Trata-se de um sistema estrutural em que o travamento da estrutura no
se fazia atravs dos baldrames, mas atravs da superestrutura, da estrutura
propriamente dita as frmas de concreto e a unio de concreto e madeira. Ela
concluiu que aquele prdio era importante, por representar um sistema de
construo industrial que vingava desde o final do sculo XIX na Inglaterra e na
Blgica. Hennebique era francs.
Do ponto de vista da arquitetura da fbrica, era importante preservar aquele
exemplar, uma vez que So Paulo estava no auge da derrubada de tudo. Essa foi
tambm uma das atitudes bacanas do SESC, uma vez que eles tinham um projeto
pronto para aquela rea um projeto do Julio Neves, no qual eles demoliam aquela
fbrica e faziam um prdio novo, comum.
Em certo momento, o Renato Requixa, que era diretor regional, e a Glucia Amaral
uma das diretoras do SESC , fizeram uma viagem, tenho impresso de que foi
para So Francisco, e se deram conta de que comeava naquele momento, no
170
mundo, a tentativa de recuperao de prdios antigos e unidades industriais para
outras funes. Essa foi a razo pela qual desistiram do projeto do Julio Neves.
Qual a razo pela qual o SESC Pompia desistiu do projeto do arquiteto Julio
Neves? A equipe da Lina chegou a estudar esse projeto? Existem diferenas
em relao ao programa fornecido pelo SESC?
Confesso que tenho o projeto do Julio Neves, mas nunca o olhei com ateno. um
programa muito parecido com o da Lina, num certo sentido, mas com outro enfoque.
Ele concentrava tudo em um prdio. Havia umas piscinas ao ar livre, um pouco
dentro dos moldes do que estava sendo feito naquela poca no centro de Santos,
e logo em seguida no projeto do Centro Campestre. Logo antes da Pompia tinha
sido feito um centro grande, em Santos, e tambm estava sendo feito acho que
pelo Botti o Centro Campestre, que seguem outros moldes. Piscinas grandes,
reas externas grandes e construes novas para abrigar sobretudo as funes de
lazer e de apoio ao esporte. Acho que na Pompia, como a rea dos galpes
equivalente rea de esportes, o caminho para a utilizao da fbrica da parte
antiga como centro cultural foi muito exacerbado. Passou a ter uma importncia
muito maior do que nas outras unidades do SESC.
J ouvi dizer que a ligao da Lina com a Bahia foi um grande divisor de guas
na vida dela. Como voc v esta afirmao?
Eu acho que o contato da Lina com a Bahia foi o contato dela com a civilizao
brasileira. Ela veio da Itlia com um tipo de conhecimento, formada numa escola
politcnica, e depois teve uma formao com designers, com gente que tinha uma
formao europia de arquitetura e design, e no Brasil ela percebeu que existia uma
outra instncia regendo a cultura, e que poderia indicar a direo que a sociedade
tomaria ao fazer arquitetura, ao produzir desenho industrial. Essa era a civilizao
do Nordeste. Eu no saberia falar com destreza sobre esse assunto, mas isso
transformou a Lina na pessoa que ela passou a ser depois dos anos 50. Mudou o
olhar dela e o modo de pensar arquitetura. A Lina vinha com uma arquitetura muito
atrelada aos cnones da arquitetura moderna europia, tanto que a casa dela um
171
exemplar de extrema habilidade nesse sentido. A partir da, ela passou a incorporar
em sua arquitetura o que via no Brasil.
Na Casa de Vidro ela j incorporou elementos da cultura brasileira, mas
essencialmente no ponto de vista estrutural, na funcionalidade, ela extremamente
europia. um projeto muito prximo sua chegada, ela estava havia trs anos no
Brasil quando fez o projeto da casa. Toda a ligao intelectual dela e todo o acervo
arquitetnico estavam estritamente ligados Europa. Mas a Lina era uma
personalidade especial. Talvez por ser filha do Enrico Bo, que, como engenheiro,
tinha esse olhar para as coisas mais corriqueiras sempre ligado questo do
trabalho, eu acho que ela tinha uma abertura de olhar muito grande. Tanto que as
revistas que ela faz na Itlia, logo no ps-guerra, so revistas e artigos dedicados
para a populao em geral, no tm um carter elitista.
Acho que existe uma questo bsica na formao ideolgica da Lina, pelo fato de
ela ser socialista, porque isso bsico na conduta dela como arquiteto. Ela era uma
socialista, isso inegvel. Ela se dizia comunista, stalinista inclusive. Eu entendo
quando ela diz isso, pois na Europa, foi graas Unio Sovitica que se baniu o
nazismo, por isso ela tinha uma reverncia muito grande pelo Stalin, pela Unio
Sovitica nesse sentido. Mas ela, essencialmente, como uma socialista, tinha um
olhar muito abrangente sobre as questes da sociedade e sobre para quem deveria
dirigir seu conhecimento.
No SESC Pompia ela teve a oportunidade de concretizar um iderio
construdo ao longo de sua vida intelectual. Como ela passava isso para voc?
Quais os princpios norteadores empregados por ela?
Difcil dizer. A nossa relao era primeiramente de trabalho. Tnhamos muita coisa
para fazer na Pompia, ramos muito sobrecarregados, pois a equipe era mnima: a
Lina, o Marcelo e eu. Depois, existia uma equipe de engenharia e a equipe de
projeto, do Figueiredo Ferraz. Tnhamos muito trabalho para fazer. Muitos desenhos,
coisas para resolver. Tnhamos uma convivncia cotidiana com a Lina, e essas
coisas iam se discutindo. A Lina muitas vezes chegava de manh com os projetos j
prontos, e ns perguntvamos o que era isso, o que era aquilo, por que isso, por que
172
aquilo... Era quase como um aprendizado escolar. Sem mtodo, mas aprendendo na
necessidade de se trabalhar, de se produzir para o trabalho.
Lina falava sobre as pequenas alegrias em seus projetos. Qual a importncia
de trazer o rio So Francisco, a flor de mandacaru e outros elementos
simblicos para o espao? Qual o sentido desse diferencial na obra?
Temos a a questo de tentar colocar dentro de uma obra arquitetnica que tem
princpios de racionalidade, de funcionalidade, de resposta s necessidades de
quem a encomendou pontos que a relacionem com a realidade do povo, das
pessoas que estavam ali, at mesmo construindo o prdio A maioria dos operrios
era do Nordeste. Extremamente hbeis, muitos deles, mas essencialmente o povo
nordestino, pobres que vieram como migrantes para So Paulo. A incorporao
desses elementos do Brasil popular fundamental, pois criou uma relao entre a
obra arquitetnica feita para a burguesia e a obra arquitetnica que pudesse
representar os valores do povo.
Durante a obra isso foi importante, na concepo?
Foi relativamente importante. Tecnicamente, desenhar aquele rio So Francisco foi
difcil. No tnhamos computador, fizemos uma coisa toda quadriculada.
Contvamos com a colaborao, a boa vontade, o conhecimento dos operrios para
fazer as formas. Na Flor de mandacaru, todos os objetos tinham relao com
coisas que ela viu nessas viagens de conhecimento e reconhecimento do Brasil.
Imagine um estrangeiro com formao acadmica europia rgida, que passou por
um momento de extrema penria, que foi a guerra, e chega a um pas como o
nosso, livre da guerra, basicamente ligado cultura popular, e comea a ver coisas.
Vai para Ubatuba e v canoas, mtodos construtivos, coberturas de sap, pau-a-
pique. Vai para o Nordeste e v toda a cermica do Recncavo Baiano, comea a
ver como as pessoas produzem objetos para a manuteno da vida e do seu
cotidiano.
173
Ela teve um contato muito feroz no sentido de intenso com a cultura brasileira,
com os costumes do Brasil. Incorporar aquilo na obra arquitetnica foi uma coisa
muito natural. Num certo momento ela falou: Nesta rea de estar eu quero gua,
fogo e vento. Ento temos a lareira, o rio So Francisco, o laguinho e aqueles
elementos vazados que no temos como fechar. Se chove dentro, as pessoas tm
de se proteger de alguma forma. Mas esto cobertas, protegidas. Acho uma viso
muito particular do conforto, isso que a Lina propunha, uma viso que hoje em dia foi
jogada fora completamente. Hoje em dia, fazer o SESC seria impossvel.
Como era, na poca, a reao das pessoas ao depararem com as idias dela?
E a reao dos responsveis pelo SESC? Ela tinha apoio total no
desenvolvimento do projeto?
Ela teve apoio total para o desenvolvimento do projeto, para a ousadia de suas
idias. Ela teve de lutar muito por isso, porque o SESC sempre teve um corpo
tcnico de alto nvel, muito bem equipado intelectualmente. Mas o SESC, ao mesmo
tempo, tinha um um hbito de construir totalmente diferente, ligado aos projetos
feitos por grandes escritrios com um determinado procedimento, um nmero de
desenhos, de detalhes, um tipo de resoluo de detalhes caracterstico dos grandes
escritrios. E a Lina, de certa maneira, rompeu com essa tradio. Ela props outro
tipo de projeto, com uma simplicidade extrema no ponto de vista dos acabamentos,
e com uma sofisticao extrema do ponto de vista tcnico e estrutural. Tanto que o
prdio novo estruturalmente muito interessante: vos imensos, aquelas passarelas
que vencem vos imensos protendidos. Ela precisou trabalhar com engenheiros que
faziam pontes. Houve sempre uma discusso muito grande com o corpo de
engenheiros do SESC, mas apesar da briga, da dificuldade, sempre houve total
apoio.
O Renato Requixa montou uma equipe de jovens para trabalhar com ela?
Realmente. Quando a Lina dirigiu o SESC, nos primeiros anos a equipe dela era s
de jovens Rita, Fabio Malavoglia. O SESC foi um sucesso absoluto desde que foi
inaugurado, com a Fbrica do som [programa da TV Cultura].
174
Como eram as reunies no canteiro de obras? Voc se lembra de alguma idia
que o marcou?
As reunies no canteiro de obras s vezes pegavam fogo. Havia brigas imensas de
convencimento, de como caminhar para um lado e no para outro. As reunies de
que me lembro bem so as que discutiam o programa dos atelis. Existia uma
tendncia a formar um ateli de artistas, e a Lina sempre lutou para que fosse um
ateli ligado a artes plsticas, mas ligado s questes manuais: marcenaria,
tapearia... Tinha um ateli maravilhoso de artes grficas tambm, de fotografia e
gravura. Foram chamadas vrias pessoas, mas quem fez uma orientao geral,
discutiu bastante a questo dos atelis com ela, foi o Flavio Imprio, uma pessoa
fundamental no relacionamento com a Lina, no sentido de uma abertura maior para
aquele tipo de projeto, que no era o tipo de projeto habitualmente feito na cidade
naquela poca.
No final da dcada de 1970 Lina fez uma viagem ao Japo, e traz muitas
referncias do Oriente para sua vida. Voc acredita que ela incorporou de
alguma forma essas idias no SESC Pompia?
Acredito que o SESC todo tem uma viso oriental. Pelo fato de ser um lugar onde
existem muitos vazios, muita simplicidade de solues, o que uma coisa tpica do
Oriente, de paises que tm um olhar muito respeitoso para a sua histria. A
Finlndia tambm. Eu acho que sim. Acho que a Lina voltou muito impressionada,
muito espantada, do Japo. Ela Incorporou essa influncia no de maneira bvia,
mas justamente dando um sentido para a arquitetura, com simplicidade e limpeza.
Vazios...
Fale como era o desenvolvimento do projeto. Das referncias para o projeto,
de como ela as apresentava para vocs.
175
A Lina sempre usava referncias para projetar. No volume do prdio novo, ela
sempre nos mostrava uma situao industrial em que existia justamente essa
contraposio da construo horizontal composta de paredes de tijolo e telhados
de madeira com os volumes verticais, que eram ora silos, ora depsitos de
combustvel. Essa relao entre alto e baixo, ela sempre nos mostrou, e isso foi
fundamental para o projeto do prdio novo. Mas, curiosamente, ao mesmo tempo
em que ela olhava essas referncias, no abria muito o jogo para ns. Ela
simplesmente folheava: Eu estava pensando numa coisa assim.... E guardava,
punha debaixo da bolsa. Era uma questo particular, onde ela reunia referncias,
onde ela pensava, olhava, colocava uma inteno. Sobretudo no projeto do prdio
novo.
Lina sempre trabalhou com referncias muito bacanas. Por exemplo, a questo dos
pisos, do encontro de pisos e materiais. Pedrinhas, seixos rolados no crrego de
guas pluviais. No paraleleppedo. O piso cimentado de seixos. As referncias dela
so as mais ricas possveis. Ela tem em Roma os tipos de pisos e as resolues de
materiais de construes que so os mais interessantes. Contudo, as referncias
no eram muito explcitas para ns.
Lina desenhou para o teatro uma mscara, simbolizando uma carranca. Por
que isso no foi construdo?
Na realidade, essa mscara no uma carranca. aquela mscara tradicional do
teatro: uma pessoa rindo, outra chorando Essa mscara deveria fazer parte da
programao visual do teatro. Em diversos lugares havia uma programao visual
sempre ligada a desenhos caractersticos. O nico lugar em que isso vingou foi a
entrada do restaurante, com aquela pea em homenagem a Torres Garcia, uma
colagem de madeira, feita por um operrio sob comando e desenho da Lina. Essas
mscaras, que deveriam ficar na entrada do teatro, no foram feitas por algum
motivo que no lembro.
Na parte administrativa existe uma carranca, do rio So Francisco. Foi um objeto
que o Bardi deu para ela e pediu que ela usasse no Pompia. Ela usou com o
176
significado da carranca, que aquela coisa que abre o caminho para os barcos, est
sempre na frente. S que foi colocada na entrada do SESC Pompia.
Ao projetar a rea esportiva do SESC Lina faz uma aluso aos fortes
brasileiros. Qual o sentido desses fortes para ela, e o que ela queria
representar com isso? Ela trabalha outros elementos de arquitetura primitiva
ou popular nesse projeto?
A imagem dos fortes: quando pensou no Pompia, ela o tratou como uma cidadela.
Na verdade a cidadela uma cidade medieval, murada, onde diversas atividades
acontecem. Tem o carter de proteo, mas tem o carter de vida coletiva. Acho
que os fortes representam isso de certa maneira para ns, que no tivemos o
feudalismo, que no tivemos a era feudal. A cidadela um lugar de proteo, onde
as pessoas tm outros tipos de atividade, tm uma vida cotidiana. No ponto de vista
formal, se voc arquiteto acaba inevitavelmente atrado pelos fortes, que so
construes enormes com expresso plstica muito grande, e tambm objetos de
extrema simplicidade. No caso da Pompia, exatamente essa questo da
simplicidade e da presena do objeto arquitetnico muito grande.
Entendo que Lina utiliza as cores no projeto para comunicar, no para compor.
Como ela trabalha as cores no SESC Pompia?
A cor presente no SESC em alguns pontos, sobretudo na pintura das tubulaes
todas e na pintura dos pisos da parte esportiva. H outras cores e tambm alguns
elementos do restaurante, as tapearias originais que o Edemar de Almeida fez para
o restaurante. A Lina sempre incorporou coisas de outras pessoas nas obras, o que
muito interessante, significa que voc no est sozinho fazendo o projeto, est
aberto participao de outras pessoas. Na parte da fbrica, essencialmente, as
cores esto ligadas tubulao, e so cores ligadas funo dessas tubulaes
telefone, gua, eletricidade e som. Tnhamos cinco cores: laranja, amarelo, azul,
verde e vermelho. E usamos toda uma escala de azuis para fazer a parte eltrica.
Como era maior a quantidade de feixes, de dutos, ela usou uma gama de trs ou
177
quatro azuis para fazer isso. E no bloco novo a cor foi usada para a pintura dos
pisos com epxi, mas tambm para tentar criar um elemento que tornasse
reconhecvel a quadra, porque ali voc tinha trs andares. Dois andares tinham
quadras exatamente iguais, duas quadras por andar. O ltimo andar tinha uma
quadra em outro sentido, e no primeiro ficava a piscina. Assim, foi uma forma de
fazer com que as pessoas pudessem distinguir as quadras, j que elas tinham uma
semelhana muito grande, e tambm pudessem nomear as quadras: Vou para a
quadra Inverno, vou para quadra Vero, Outono....
A respeito da comunicao visual, ela trabalha de modo que parece muitas
vezes infantil, mas nunca por acaso. Como era a postura dela nessas
ocasies?
A postura dela era a mais clara em relao comunicao visual. A comunicao
visual estava ali para servir como informao, e no para ser mais um personagem
de toda a histria. Ali j tnhamos elementos suficientes para que as pessoas
reconhecessem as atividades do prdio. Era um prdio bvio, tinha uma rua central,
um galpo de um lado, um galpo de outro, galpes se sucedendo, no havia
grandes dificuldades. diferente quando voc entra num prdio e precisa de um
mapa para se orientar. Ali existe uma orientao natural, ento a comunicao visual
entrou com elementos at ldicos, de diverso, brincadeira, para que houvesse
informao, mas que no tivesse a sisudez normalmente associada comunicao
visual. Ela serve para orientar de forma precisa e objetiva, e l no havia essa
necessidade as coisas eram muito simples, a obra j se comunicava por si.
O processo construtivo de Lina era uma coisa peculiar: os acabamentos dos
blocos nos atelis, a grande vala coberta por seixos rolados na rua principal,
as janelas-buraco do bloco esportivo... Um projeto assim s poderia ser feito
com o acompanhamento in loco, cheio de experincias. Qual o sentido disso
na arquitetura? E para Lina? E para voc?
Acho que o sentido disso na arquitetura uma caracterstica do trabalho da pessoa,
daquilo que ela enxerga na vida. Na Pompia, os seixos rolados eram uma maneira
de conduzir as guas de forma que elas fizessem rudo, mas que fosse delicado,
178
uma caracterstica de muitos elementos que vm da formao dela. Lina um ser
humano que se formou em Roma, uma das cidades mais importantes do mundo,
que tem uma tradio de 3 mil anos. No ateli, ela quis fazer uma homenagem ao
Aldo van Eyck. Ela tinha em mente um projeto do Aldo, um playground formado por
labirintos de bloco, e ela achou que deveria usar uma coisa similar, de certa maneira
mostrar como aquilo era uma obra da verdade. O material estava o tempo todo
colocado no prprio sentido da restaurao, sem recuperar o tijolo de maneira
certinha e formalmente adaptada. O olhar de restaurao dela foi de materiais que
pudessem ir se sucedendo. Existem muitas paredes em que o tijolo est colocado
de um jeito, de outro ora surgia uma abertura, ento se fechava. E como a fbrica
era revestida, ela props a retirada desse revestimento. Foi uma coisa fundamental,
pois assim esses materiais vieram tona.
Nos atelis, os blocos de concreto que mostram aquela baba de cimento escorrida
vm da idia de mostrar como era o processo de trabalho. Quase como se voc
pusesse um bloco em cima do outro e deixasse como est, sem nenhum tipo de
cuidado.
Essa baba, por dentro, lisa.
que aquele seria um lugar de uso, a pessoa poderia se raspar. Tambm nos
mveis existia uma racionalidade do uso. Mas, por fora, basicamente uma
expresso do material.
E isso ela traz do Aldo van Eyck?
Acho que no. Isso ela traz do olhar dela, da relao dela com os materiais.
Originalmente, a fbrica era revestida? Ou isso vem de uma pureza do material
que ela tenta resgatar?
Era revestida. Mas essas obras, que eram revestidas, tinham paredes feitas de
maneira extremamente bonita, racional. Ento ela quis recuperar isso, o que de
179
certa maneira tem a ver com esse tipo da arquitetura industrial que usa o concreto
aparente, a madeira na cobertura e o tijolo aparente nas vedaes.
A respeito das exposies que Lina desenvolveu no SESC, o espao no galpo
de atividades gerais no impe caminhos, um espao onde existe liberdade,
dignidade de toda uma diversidade de pessoas. Como era a relao de Lina
com o espao, ao montar o espao expositivo?
Essencialmente, Lina montou exposies na rea destinada a exposies naquele
primeiro trecho do galpo de atividades gerais. As exposies de Lina so um outro
capitulo. A Lina tem uma idia, um sentido nessas exposies que muito amplo:
sempre um olhar antropolgico para as coisas. Todas as exposies a do design,
Mil brinquedos, Caipira, Pinquio, uma sobre o kitsch, O belo e o direito ao feio
tiveram um sentido antropolgico muito profundo, tanto que ela trabalhou com
outras pessoas. Para pensar na exposio do design, Lina trabalhou com o
[Alexandre] Wollner, com o pessoal da Fiesp, na poca.
Mas a Lina tinha uma noo muito boa de disposio das coisas no espao. Ela fez
exposies na Bahia, a exposio que inaugurou o Museu do Unho, a exposio
Bahia no Ibirapuera, na Fundao Bienal, aqui em So Paulo. Ela tinha feito a
exposio e ambientao daquele congresso de psicodrama, no museu, nos anos
70. Ela tinha uma destreza muito grande em produzir exposies, e tinha
essencialmente o olhar antropolgico para fazer as exposies.
A Lina tinha uma coisa maravilhosa, aquilo que eu mais procuro e no consigo ter na
minha vida: uma dedicao absoluta ao trabalho que est sendo feito naquele
momento, e no multiplicidade de trabalhos. Acho que hoje vivemos um momento
de multiplicidade na produo arquitetnica. Para voc sobreviver de arquitetura,
precisa ter muitos projetos ao mesmo tempo, e com isso o cuidado muito pequeno
voc delega para outras pessoas e perde o controle intelectual sobre a obra
arquitetnica. A Lina sempre deteve um controle intelectual muito grande sobre a
obra dela. Sobre todas as obras.
180
Ela tinha esta caracterstica: quando entrava numa rea, estudava a obra e
propunha, encontrava solues, brigava e se batia, mas tocava em frente o trabalho.
ENTREVISTA HANS GNTHER FLIEG
28/06/2007
Em que ocasio voc conheceu Lina Bo Bardi?
A ocasio no sei dizer, mas vou tentar responder. Sabe quando comeou a revista
Habitat, e se ela era mensal?
Comeou em 1950, e era trimestral.
No segundo nmero tem uma capa minha. So umas casas de operrios, uns
cubos. Esse um dado concreto. Tive contato com Lina para a Habitat, e acho que
esse foi o primeiro trabalho. Outro trabalho para a Habitat foi uma reportagem para a
A Exposio D. Jos [de Barros], o que curioso, porque no tem muito a ver
com a Habitat. Fotos para uma loja de confeces na rua D. Jos, esquina com a
Vinte e Quatro de Maio, era na frente da Mesbla. Uma loja bonita. Pela poca era
luxuosa, pode-se dizer at que era moderna. Vejo-me com a mquina montada,
quando aparece o Bruno Giorgi vendo a vitrine. Isso deve ter sido depois de 1950.
Eu conheci o Bruno na ocasio da primeira Bienal, em 51, e fotografei para ele em
51, 52. Isso fcil de conferir na Habitat. Nessa revista tem alguma coisa do Museu
de So Vicente?
Tem, sim.
A fotomontagem com o mar atrs minha, e a fotomontagem com a serra atrs do
Luiz Hossaka. Mas isso foi depois. Tem, ainda, um outro trabalho.
181
Eu tinha um estdio na rua Maria Antnia, emoldurado por um retrato de um pastor
de ovelhas do Pieter Brueghel, holands: Camponeses no casamento. E conhecia
essa turma muito bem. Participei de campanha dos caminhes da General Motors.
Um dia ele se casou com uma mulher mulata, e me pediu para tirar fotos do
casamento. E em uma das fotos eu vejo exatamente a cara daquele campons, do
ano mil quinhentos e qualquer coisa! Fiz uma cpia e dei para o Bardi. Ele fez um
artigo de uma pgina sobre isso.
As minhas lembranas se misturam, entre ele e Lina. Na rua Sete de Abril fiz um
trabalho para mim, para um calendrio, em 63: fotografei as tapearias, e uma foto
entrou no calendrio da Madame Bovary. Tudo em preto e branco. E em certo tempo
vieram solicitaes de fotos para museus brasileiros eles resolveram me chamar.
Um caso de que me lembro bem foi da amazona do Manet uma senhora a cavalo.
Fiz uma reproduo. Tinha uma reprter japonesa fotografando atrs, e na foto,
como continuidade da amazona a cavalo, ela apareceu embaixo, com um trip
fotogrfico. Essa foi a nica das minhas fotos mostrada numa exposio em frente
catedral de Notre Dame.
Voc chegou a ter contato com Lina no perodo em que ela viveu na Bahia, de
1958 a 1964?
No cheguei a ter contato com ela na Bahia, mas quando ela voltou, fiz reprodues
de fotos que ela havia tirado l ou que algum havia tirado l, no sei quem tirou.
Acho que so trs fotos de uma exposio no Solar do Unho. Trs ou quatro fotos.
No mnimo uma externa e trs ou quatro internas.
Quando ela vai para a Bahia j existe a maquete do Masp, e antes de ela partir me
chamaram, lembravam da fotomontagem de So Vicente. Voc chegou a falar com
algum que conhea a filial do Museu em So Vicente, o Edifcio Gudio? Gudio
significa divertimento, alegria. Eu fui at l quatro vezes, em 1951, 1952, em 1955
e em 1957. Esse edifcio ficava beira-mar, em frente a uma fonte de azulejos
azuis. Havia um bonde que ia para a cidade, ao lado.
182
E a Lina queria uma fotomontagem da maquete do Masp, e quando voltasse da
Bahia queria isso pronto. Eu estava muito ocupado na poca, e fiz as fotos do fundo
da maquete, que seria o parque Siqueira Campos [Trianon]. Vrios trechos do
parque tinham de ser feitos com uma objetiva, para no haver deformaes,
perspectivas. Quando ela voltou, perguntou se estava pronto e foi uma exploso, foi
a primeira vez que ouvi coisas que no queria ouvir, mas foi coisa rpida. Comecei a
fotografar o museu durante as obras. Depois, tirei fotos das plantas, das produes
das plantas.
S para mencionar, embora no seja com a Lina: certa vez eu dei ao Pietro trs
ampliaes, uma do Masp pronto, uma da demolio do Trianon, uma da cidade
tirada em janeiro de 1940, do Trianon. Essa srie foi comprada pelo Museu de Arte
Moderna, para a Bienal.
Depois, tirei fotos do auditrio do Masp, ainda sem bancos. Algum disse que o
danarino que est l o Z Celso, mas eu no sei. Nessa foto a Lina estava ao
meu lado direito. Depois, tenho fotos de mveis feitos l, nada artsticos, e tenho
fotos da pinacoteca do Masp, peas avulsas de l tambm, e depois fotografei a
[exposio] A Mo do Povo Brasileiro.
Em conversa anterior, voc disse que foi Odorico Tavares quem avisou Lina
para sair da Bahia em 1964. Voc poderia explicar melhor esse fato?
No me envolvi nessa parte militar. Meu negcio, nessa poca, era trabalhar. No
conheo o Odorico Tavares. Se eu sei isso sei de livros, no me recordo.
Voc fotografou a exposio A Mo do Povo Brasileiro, em 1969. Essa
exposio de arte popular e artesanato nordestinos queria mostrar as
possibilidades e a criatividade brasileira. Como ela foi aceita pelo pblico na
poca?
No eram s artesanatos nordestinos, tinha coisa do Brasil inteiro. Eu no me
lembro da reao, mas no acredito que tenha sido boa. Receio que no. Isso pode
183
ter interessado a um nmero pequeno de pessoas, ou de jovens, que achavam tudo
bonito e interessante. Mas no era o nvel de arte que a burguesia achava que
deveria visitar. Isso em muitas coisas bsico, o primitivo no sentido de
primeiro. Eu, pessoalmente, sou apaixonado por essas coisas. Isso no foi
fotografado da maneira que deveria. Mas dou graas a Deus, pois fiz de tal jeito que
as fotos ainda podem ser ampliadas.
Comente o sistema expositivo que a Lina utilizou.
A montagem no foi muito simples. No poderia ser simples. Emprestei trs peas
para a exposio, tenho cartas do Pietro agradecendo: uma colher de pau, uma
gaiola e uns abanos.
Em que ano voc tirou as fotos da antiga fbrica onde passou a funcionar o
Sesc Pompia? Em que situao foi feita a encomenda? Quem foi o
contratante?
Um dia, no Shopping News, eu li que a Lina estava trabalhando na construo da
fbrica da Ibesa. Devo ter isso guardado em algum lugar, tenho muito material aqui.
A, entrei em contato com a Lina e acho que mandei fazer uma srie de fotos para
ela. Essas fotos so de 1950, ou de 50 e 51. So fotos que tirei para uma agncia
de publicidade a Fidl , sigla composta por dois nomes, Fisher e Ddna, este um
pintor tcheco. Muito mais tarde vi um retrato de uma moa, feito por ele, e doei
Pinacoteca. Seu nome era Ianoslav Ddna. Era um bom pintor. A mulher do Peter
Fisher era irm da mulher do William Fluxer, um filsofo que viveu aqui muito tempo.
Voc viu a Revista 18? da Casa de Cultura de Israel. Uma revista muito bem
escrita, muito bem impressa...
Eu recomendei a essa agncia um de meus clientes, o Jos Zanine Caldas, com
quem trabalhei a partir de 1950. E uma srie de cpias passou para a Lina. E o
SESC Pompia usou essas fotos algum tempo atrs, em reprodues grandes. Essa
agncia de publicidade era contratada pela Ibesa. Os negativos 35 mm esto
comigo, mas no sei se esto em boas condies. Esse foi o segundo trabalho
184
industrial que eu fiz naquela poca, ainda em chapa de vidro. Tem uma nitidez
excepcional, e em 35 mm.
Ela foi construda pela [empresa alem] Mauser, e depois foi desapropriada pelo
governo, por causa do afundamento de navios de carga brasileiros por submarinos
alemes [durante a Segunda Guerra Mundial]. Firmas alems foram desapropriadas
O grupo que comprou a Ibesa foi um grupo austraco. Tinha vindo um grupo deles,
de l.
Um outro caso de desapropriao semelhante foi de uma fbrica de cristais da
Beaucoup, comprada pela Cristais Prado. Foi isso que desviou meu trabalho e me
deu gosto pelos cristais.
Voc chegou a acompanhar as obras do SESC Pompia?
No.
Voc fotografou o SESC Pompia durante as obras ou depois de pronta a
obra?
No. Tive um outro contato com a Lina, no MIS. Mas na poca ela j estava um
pouco doente. Ela havia engordado muito, no sei se por causa dos remdios, da
medicao.
O que voc leva no momento de embarque a satisfao de ter feito o que voc
fez. Essa satisfao do fazer, do amor que voc deu coisa. Seja como for, mais
que isso voc no leva. Nem isso voc leva mas isso seguro contra fogo, gua,
roubo.
Aproveite para fazer uma coisa eu fiz. Alguma coisa eu deixo. D o que voc pode
dar de si ao trabalho que voc faz. A satisfao sobre isso fortalece, d segurana,
auto-estima, e te d a fora para botar um preo. E tem que botar.
185
Da Lina, eu guardo o xerox de um livro de visita de uma exposio, o xerox de uma
pgina do livro de visitas, com o reconhecimento pelo meu trabalho.
ENTREVISTA MARCELO FERRAZ
03/07/2007
Voc j comentou que trabalhar com Lina Bo Bardi foi uma grande escola.
Quais foram os maiores aprendizados e o que voc carrega para sua vida e
obra?
Fazendo uma volta no tempo, eu no continuo descobrindo coisas que eu no
sabia, mas continuo construindo coisas a partir de reflexes sobre o trabalho com a
Lina. Com certeza. Nesse sentido, foi uma grande escola. O trabalho no SESC foi
uma longa experincia, de nove anos de trabalho. E era um trabalho em que
fazamos as coisas sem pensar muito, antes, o que vamos fazer?, quais os
conceitos que vamos abordar?, o que vai por trs disso?. Esse distanciamento
veio cada vez mais. Ao fazer o livro e as exposies, fomos obrigados a fazer essa
reflexo, esse balano das coisas. E isso continua, de certa maneira.
Hoje eu penso que essa experincia foi fundamental para o meu trabalho. E acabei
de escrever um artigo sobre o SESC, que vai fazer 25 anos. mais um momento
para refletir o que era aquilo, como aquilo acontecia at mesmo na forma de
trabalhar.
No uma escola formal de arquitetura repeti isso vrias vezes , muito pelo
contrrio. No uma escola de fazer arquitetura a partir de parmetros rgidos, mas
uma maneira aberta de fazer arquitetura, onde voc pondera todos os elementos.
quase como voc vive: fazendo escolhas. Voc faz escolhas hoje e tem
186
conseqncias amanh, sempre. Na arquitetura assim, tambm: voc faz
escolhas, voc decide agora seja na escolha dos materiais, na tcnica, seja no
caminho, e at nos aspectos simblicos.
Tudo tem conseqncias na arquitetura, imediatamente, mais do que em muitos
outros aspectos da vida. Pois quando aquilo est realizado, as conseqncias esto
l. preciso saber olhar para as conseqncias e a partir das conseqncias
projetar. Talvez esta tenha sido uma chave. Voc vai ao final, ao programa definitivo
ou melhor, no o definitivo, mas o ltimo , tenta ir ao mximo l na frente, e
tenta ver o que vai acontecer naquele lugar, naquilo que voc est fazendo, e a
partir de l vai voltando e chega novamente ao projeto. As decises surgem,
portanto, com muita reflexo. Talvez a palavra design carregue mais significados, se
pensada dessa maneira. ver l adiante, projetar l adiante para tomar decises
prticas agora, do ponto de vista tcnico, artstico, potico.
Vejo que ela repete muitos elementos na obra, e voc tem essa tendncia.
Elementos formais.
A nossa tendncia sempre repetir certas solues que deram certo. Talvez a Lina
tenha ensinado um pouco disso. Eu me lembro de certa vez em que estava
projetando na Bahia, em que eu tinha de desenhar de novo o banheiro, os materiais
do banheiro, na Fundao Gregrio de Mattos, e ela me disse: No fizemos aquele
projeto, daquela maneira, e no ficou bom?. Ficou. Ento repete! claro que,
em cada momento, a soluo acontece de maneira diferente, porque o espao
diferente, a poca mudou um pouquinho, o material disponvel um pouco diferente,
o cliente outro. Mas o exerccio da arquitetura um continuum de repeties de
coisas que vo formando um cabedal, um vocabulrio. E se voc olha para trs, isso
parece ser uma gramtica de construir.
No incio do projeto para o SESC Pompia voc chegou a fazer um
levantamento do stio com Lina? O que norteava esse levantamento? Houve,
como voc cita sobre o projeto do Camurupim, uma investigao sobre a
populao local e sobre quem ia usufruir do projeto?
187
Eu cheguei ao SESC em agosto de 77, sozinho, e a Lina estava l sozinha. Ela tinha
acabado de chegar ao escritrio que tinha sido montado pelo SESC, e eu cheguei, e
a Lina repetiu um ano depois: Gostei de voc que chegou muito corajoso, com o
cabelo no meio das costas, no meio de uma obra com trezentos homens. Chegar
cabeludo uma coisa arriscada.... Mas, enfim, ela estava desmontando de certa
maneira esse escritrio, tirando tudo que era frescura. Mandou arrancar o carpete,
mandou a secretria embora, disse que no precisvamos de secretria, que amos
atender o telefone... e ficamos l. Eu fiquei at outubro, quando ela perguntou se eu
tinha um colega e eu chamei o Andr. Ficamos ns trs durante toda a obra do
SESC. Raramente ns tnhamos um desenhista a mais para fazer alguma coisa
especifica, de madeira. E logo comeamos a medir os galpes, e levantar. Esse
levantamento fsico era necessrio porque no existia desenho. Tivemos de medir
todos os galpes, as tesouras, todos os ps-direitos. Andvamos com os operrios
o dia inteiro na obra, fazendo esse levantamento.
Mas existe um outro levantamento, ao qual eu me refiro quando falo do Camurupim,
que consiste em observar tudo o que acontecia por l, porque o SESC era usado
precariamente. J era utilizado. O SESC tem uma poltica que se repete em todas as
unidades.
Por exemplo, o SESC Belenzinho: antes de comear a reforma pra valer, utilizaram
aquele espao durante anos, com atividades. Ou seja: instalam equipamentos que
atendam s normas de segurana, para ningum cair num buraco, para no haver
incndio. E vo usando precariamente esse espao, com teatro e outras atividades.
E na Pompia existia uma churrasqueira grande, todo sbado tinha churrasco, festa,
criana, tinha um teatrinho funcionando, tinha futebol. No espao onde hoje o
laguinho havia quadras de futebol de salo, ento j existia vida, o espao j estava
habitado, animado. A alma dali estava viva. A Lina gostava daquele ambiente. Tinha
uma lanchonetezinha... Assim, comeamos o trabalho do levantamento
freqentando o local. Onde hoje a sada do restaurante funcionava um centro de
escoteiros mirins. A Lina no gostava muito dos escoteiros, mas eles estavam ali.
Observar tudo isso e ficar convivendo com eles foi, de certa maneira, alimento para
o projeto. A Lina conta isso em algum lugar. Ela conta que, ao ver tudo aquilo
188
funcionando, disse que precisvamos era manter aquilo e ampliar o que j existia, a
alegria das festas E lgico que isso pode parecer demaggico. O trabalho muito
maior do que isso, o trabalho foi muito mais que isso, e o programa implantado foi
muito maior. Mas no deixa de ser um respeito diante de uma preexistncia. Isso eu
acho interessante esse levantamento do local, do ponto de vista da preexistncia.
Pode-se at respeitar no para preservar, mas para dizer No isso que
queremos, mas devemos ter esse olhar. Eu acho importante salientar essa
preocupao. o que eu imagino.
Qual a razo pela qual o SESC Pompia desistiu do projeto do arquiteto Julio
Neves? A equipe da Lina chegou a estudar esse projeto? Existem diferenas
em relao ao programa fornecido pelo SESC?
O projeto do Julio Neves era um projeto de duas torres para abrigar quadras
esportivas, o centro cultural, e isso e aquilo. Eram duas torres. Ns tivemos acesso a
esse projeto, porque ele j estava aprovado na prefeitura, podia ser construdo. O
motivo foi que o diretor regional Renato Requixa e a Glucia Amaral, que era
assessora dele, foram a So Francisco e l conheceram o Ghirardelli Square, que
um centro que existe at hoje, uma espcie de shopping center pequeno. Na poca
no era pequeno, mas hoje, diante dos shopping centers que existem por a,
pequeno. Era uma antiga fabriqueta, quase que um trapiche na beira do mar, e
estava sendo usado como shopping center. Ou seja, era a reutilizao de uma
fbrica. Acho que eles pensaram: Puxa, aquele SESC que ns compramos e que
est para ser demolido, ser que no o caso de conservar?. Foram falar com o
professor Bardi, que os levou at a Lina, que j havia tido uma experincia dessas
no [Solar do] Unho, na Bahia.
A Lina foi at a Pompia, e teve olhos para ver que aquilo era importante. Isso
uma coisa importante nela, essa capacidade de ver ali uma coisa que ningum via.
A resolveram contrat-la, abandonar o projeto j feito, j pago. Contrataram a Lina
por um preo muito abaixo do que seria um projeto novo, porque j existia um
projeto. Ento eles foram de certa maneira pessoas corajosas, que abandonaram o
projeto pronto e ainda contrataram outro arquiteto. E o projeto do Julio estava
enquadrado dentro de uma coisa que acontecia nas outras unidades do SESC, em
189
geral, que era o centro cultural e desportivo. E a Lina disse: cultural? Fica meio
batido. Se cultural, vai ter de fazer cultura, porque a composio dessa palavra
est pesada e desgastada ao mesmo tempo. E desportivo o esporte competitivo.
Vamos pensar num esporte mais livre, de recreao.
Com isso ela prope Centro de lazer, e eles no aceitam de imediato. Isso demora
alguns anos, e ns ali, desenhando. Nos nossos primeiros desenhos constava
Centro cultural e desportivo. Num momento seguinte deixamos de chamar de
Centro cultural e desportivo nos nossos desenhos, mas a mudana ainda no
havia sido oficializada. Ento foi surgindo uma tenso, que cresceu at o momento
de inaugurar, em 82, quando no era mais um Centro cultural e desportivo. Ou
seja: de certa maneira, todo um iderio, um conceito, at mesmo uma ideologia da
Lina tinha se incorporado no que devia ser aquele centro, no projeto do SESC. Eu
acho que isso influenciou definitivamente todas as outras unidades do SESC, no
sentido de afastar-se um pouco da rea da competio esportiva e da cultura na
marra.
Ouvi dizer que havia um projeto de se passar uma linha de metr na rea do
SESC, por isso a fbrica no poderia ser destruda, no poderia haver
fundaes novas...
No, no tinha. Acho que no tinha projeto de metr passando por l. Ali um brejo.
verdade que metr passa em qualquer lugar, mas nesse caso ele passaria na
Francisco Matarazzo. Nunca ouvi falar disso.
J ouvi dizer que a ligao da Lina com a Bahia foi um grande divisor de guas
em sua vida. Como voc v essa afirmao?
Eu acho que sim. Ela mergulha mais profundamente no Brasil com a ida Bahia. Se
voc observar os projetos, o da casa dela ou mesmo do Masp, vai perceber que so
projetos muito ligados ao racionalismo, racionalidade arquitetnica europia. No
Masp, j existe alguma mudana entre os primeiros desenhos e o que foi construdo
depois. Mas ela est alinhada a uma racionalidade europia. A Bahia representa
uma outra experincia. Uma experincia de arquitetura nesse outro sentido, que se
190
liberta completamente de padres formais. Ela restaura o [Solar do] Unho, demole
uma coisa, faz uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, faz uma escada. No Unho
ela construiu uma casinha de pedra, mas ningum sabe. uma casinha que no
existia ali e ela fez, de pedra. Aquele piso todo foi projetado por ela, no existia. E
muitas outras solues. Ela fez aquela praa, com um piso que no momento foi
muito criticado, uma soluo muito italiana mas afinal novo, um projeto dela.
Isso traz uma nova dinmica para o pensamento da Lina, eu imagino. E ela volta,
depois de muitos anos dessa experincia, desse contato todo com uma cultura
popular muito forte, com a arte popular. Ela volta com outras idias, com outra
postura diante do mundo.
Certa vez voc falou sobre o forno que existe atrs da Casa de Vidro. Voc no
acha que ela j tinha um interesse voltado para isso, esse desejo de conhecer
a cultura?
Tinha, sim. verdade. Acho que ela sempre quis se aproximar da cultura, desde a
Itlia, at um pouquinho antes de sua vinda. Na Itlia, quando acaba a [Segunda]
Guerra [Mundial], ela faz uma viagem para ver quais teriam sido as grandes
solues das quais o povo italiano lanou mo para sobreviver com a carncia, com
a dificuldade da guerra. E ela contava para ns que no encontrou nada, que voltou
dessa viagem decepcionada. Encontrou os enlatados americanos, alimentos
enlatados. Tudo j estava revirado, tudo havia sido destrudo ou substitudo por
novidades do mundo ocidental americano, o mundo de consumo. A revista A fala
um pouco disso, desse mundo que ela queria encontrar por l e no encontrou. E
esse mundo, por sua vez, estava ligado infncia dela. Afinal, desde a infncia ela
teve esse olho para ver, para observar o av na zona rural, cuidando das vacas, e
as mulheres. Observava a av, observava o pai. Ela tinha essa capacidade de
observao muito grande.
Ela vem para o Brasil e para So Paulo. Aqui, imediatamente ela cai num mundo em
que observa o que a madeira, e comea a fazer os mveis com a madeira
brasileira e continua nessa mesma linha, que quer comer e transformar, quer
devolver projetos. Quando ela chega Bahia, ento, um campo vasto. Mas,
quando eu falo naquele forno, naquela churrasqueira do fundo, percebo uma
191
vontade, mas aquilo absolutamente postio. No meu ponto de vista, aquilo no
casa direito com o restante. Digamos que ela teve vontade de fazer aquele forno,
mas percebe-se que ele no deve ter funcionado quase nunca. Depois, as
interferncias dela na casa comeam a ser mais orgnicas. Mesmo que tenham uma
outra linguagem, elas casam melhor com o conjunto, como todos os caminhos do
jardim. verdade que tem o Gaud ali no meio, porque ela foi para Barcelona e
voltou. Mais recentemente, o professor Bardi, j velhinho, chegava e tinha de subir a
rampa a p. Ele gostava de subir a p. Descia do txi l embaixo, e tinha um
canalzinho no meio das duas pistas do carro, em que s vezes ele pisava,
escorregava, fazia lama... A, ela busca aqueles azulejos baianos que esto jogados
e faz aqueles pisos de azulejos no meio do canalzinho. Voc v que aquilo cai
perfeitamente bem na casa, no parece uma coisa postia. Parece que estava ali
havia muito tempo. Foi feito j no final da vida dela, ns que arrumamos o pedreiro
que fez aquilo. A, ela j consegue incorporar esses elementos muito mais
naturalmente do que na poca do forno, imagino. claro, tendo j passado pela
Bahia. E eu acho que o SESC, desse ponto de vista, o seu trabalho mais orgnico,
onde ela leva mais fundo suas idias de arquitetura e interferncia no mundo atravs
do projeto.
No SESC Pompia ela teve a oportunidade de concretizar um iderio
construdo ao longo de sua vida intelectual. Como ela passava isso para voc?
Quais os princpios norteadores empregados por ela?
No tenho a menor idia, porque trabalhvamos, fazamos projeto. muito difcil
pensar nisso no dia-a-dia do escritrio, enquanto estamos projetando, discutindo
Faz assim, faz assado. Nem sabemos que coisas so essas. Voc incorpora na
sua vida e na atividade plstica da arquitetura decises que voc toma, sozinho ou
conjuntamente, e isso vai aparecendo nos resultados do trabalho. No tnhamos um
sistema. A Lina era muito prxima, no era um arquiteto de separaes, um chefe.
No contei a histria da secretria que ela dispensou? Ela disse: Aqui, ns que
atendemos o telefone.
192
Lina falava sobre as pequenas alegrias em seus projetos. Qual a importncia
de trazer o rio So Francisco, a flor de mandacaru e outros elementos
simblicos para o espao? Qual o sentido desse diferencial na obra?
Eu acho que essas pequenas alegrias so figuras que vm enriquecer mais e mais o
projeto, que s vezes tem um aspecto muito frio. Numa casa ou numa sala, numa
quadra de esportes, ou num restaurante, esses pequenos elementos parecem
pequenos, mas tm um efeito muito importante, no s para quem projeta, mas para
quem usa depois. Para mim, o projeto uma descoberta, um insight importante, que
realimenta e faz voc acreditar. No meu trabalho, hoje, eu acredito que o tempo todo
o trabalho est povoado dessas pequenas coisas. Acho que isso no tem a ver com
o pacote de projeto que vai para a obra, acho que no tem nada a ver. Procuramos
ver o que d para ser feito sem esses pequenos detalhes, mas esses pequenos
detalhes so muito importantes.
como se voc habitasse o espao antes do habitante final, que vai chegar, que vai
usar. No SESC voc tem a flor de mandacaru. Vai ter um elemento para proteger
aquela coisa, ento por que no ser assim? Isso nunca foi respeitado, e de certa
maneira o que est l est desvirtuado, est com grades de proteo em volta. A
placa do restaurante uma homenagem a Torres Garcia, uma referncia, mas
uma referncia importante. Porque aquilo, aquele mundo do Torres Garcia, dos
objetos que pareciam estar quase vivos, animados, chama para o restaurante. Os
objetos chamam essa vida para o restaurante.
Quanto ao rio So Francisco, no galpo de atividades gerais a Lina resolveu colocar
gua gua e fogo. Ento colocamos uma lareira, para o frio Vai acender coisa,
assar alguma coisa, batata , e a gua. Ento fizemos uma gua sem ser com
desenho de espelho dgua. Nesse ponto de vista a Lina rompia com a idia do
desenho dos modernos. Na arquitetura moderna, tinha-se a maneira de fazer,
construir curvas, as concordncias. Eu me lembro de estar desenhando aquilo, e
ouvir a Lina dizendo: No, est desenhado demais, faz uma coisa mais livre. E
acabou saindo aquilo ali, a gente desenhou no cho. Depois que ela batizou de
rio So Francisco, como uma homenagem dela ao Nordeste. So elementos
simblicos que aparentemente no tm muita importncia, mas na realidade tm
193
toda a importncia. Voc fala do SESC Pompia e a imagem daquela gua vem
cabea de todo mundo.
Incomoda, s vezes. E esse incmodo intelectual importante. lgico que existem
incmodos que s vezes so discutveis, mas o incmodo intelectual eu acho que
leva a criar, a fazer as pessoas refletirem sobre as decises, sobre aquilo que elas
utilizam, e isso muito importante. As coisas no podem ser feitas de um modo pelo
qual voc se sinta levado, como se estivesse entrando um tnel de ressonncia
magntica. A arquitetura para voc dialogar com os materiais, com o espao, com
os incmodos, com o que voc concorda, com o que voc entende ou no entende.
Nesse sentido eu acho a arquitetura muito rica.
Como era, na poca, a reao das pessoas ao depararem com as idias dela?
E a reao dos responsveis pelo SESC? Ela tinha apoio total no
desenvolvimento do projeto?
Olhando para trs, posso dizer que ela teve apoio total. Se voc pensa bem, era
uma pessoa que estava encostada, no ostracismo. E o SESC trouxe a Lina para
esse ambiente central na arquitetura de So Paulo. Apesar de viver aqui, ela teve
mais contato com os arquitetos do status do IAB no princpio, antes de ir para a
Bahia. Ela no freqentava muito, era bastante desconhecida das geraes mais
novas, posso dizer por mim. Eu descobri no terceiro ano da FAU que existia uma tal
de Lina Bo Bardi. No quarto ano, por coincidncia, fui trabalhar com ela. Mas
ningum sabia quem era ela. como se o Masp tivesse sido alguma coisa estranha,
que algum fez. A Lina no fazia parte desse ambiente.
O apoio do SESC foi total, mas nunca sem muita discusso e sem muita briga.
Brigas por idias do projeto. E pela maneira de ser da Lina, pela sua maneira de
mudar de idia, ou de solues. Isso d uma baguna enorme, muita confuso com
os construtores. Hoje ela dizia uma coisa, amanh tudo j era diferente.
Ela no era contraditria, era paradoxal mais complicado, mais complexo. A Lina
tinha essa capacidade de mudar, e isso causava muitas brigas com o pessoal da
engenharia e da programao do SESC.
194
Como eram as reunies do canteiro de obras?
As reunies eram dirias, o engenheiro da obra ficava junto conosco e ns tnhamos
de estar junto com ele e todos os complementares tinham de estar ali.
Discutamos, discutamos tudo ali, todos os desenhos eram feitos ali. Os
construtores chegavam para tirar dvidas, a Lina ia para a obra toda manh.
Trabalhvamos das 8 da manh 1 da tarde, e ela chegava umas 9, 10 horas. Toda
manh no final isso diminuiu fazamos reunies muito agitadas, ela saa dizendo
Eu no volto mais aqui, se isso no mudar!, e era esse ritmo, mas era muito bom.
Como nas obras: se uma coisa est malfeita e voc manda quebrar, tem de encarar.
No final da dcada de 70 Lina fez uma viagem ao Japo, que traz muitas
referncias do Oriente para sua vida. Voc acredita que ela incorporou de
alguma forma essas idias no SESC Pompia?
Ela foi em 78, eu acho, quando estvamos desenhando o prdio das quadras, que
no tinha aqueles buracos redondos, aleatrios. E um dia ela chegou com aqueles
buracos e pediu para eu desenhar, colocar na escala. E eu desenhei, olhei aquilo,
falei Que estranho, est incrvel. E ela, Como assim?, e eu disse: Nunca vi um
prdio com buracos assim. Nunca viu? Nem eu! E vamos fazer assim.
Imagino que ela deva ter visto alguma dessas coisas no Japo, mas ela dizia que
no. Da boca para fora ela nunca tinha visto nada em lugar nenhum, mas estava
tudo explcito, l. Eu acho que essa viagem foi importante para ela. Foi a sua
segunda viagem ao Japo. Segunda e ltima. Ela voltou fascinada, muito
impressionada. Ela admirava a delicadeza japonesa, os materiais, a pedra, o bambu,
a gua: A gua sempre para correr abertamente.
Como era o desenvolvimento do projeto? Fale das referncias para o projeto,
de como ela as apresentava para vocs.
Ela sempre chegava com uma novidade, s vezes tirada de uma revista, e mostrava
rapidamente. amos muito casa dela, ela chamava e separava uns livros para
195
vermos. Mas era muito rapidamente. Quando comevamos a nos deter mais, ela
falava: No, no, j viu muito. No pode ver muito, seno vai ficar muito
influenciado, muito impressionado. E fechava. De certa maneira, ela queria passar
uma idia para ns, uma referncia, mas no queria que fizssemos uma cpia,
queria que uma idia rapidamente absorvida gerasse novas idias.
Fale das torres da cidade-satlite do Barragn.
Ela apareceu com o [Luis] Barragn pela primeira vez, ningum sabia quem era o
Barragn. Na FAU, ningum sabia quem era o Barragn. E ela aparece com um
catlogo preto, da exposio do Barragn em Nova York, no Moma, feita pelo Emilio
Ambasz, um arquiteto argentino que est l at hoje. Foi a primeira exposio do
Barragn, e ela ganhou esse catlogo. No sei se ela conhecia ou no, mas no
importa. Sei que ela ficou impressionada com aquilo, nos mostrou e fez at uma
comparao do reboco do Barragn com o reboco que ela tinha usado no [Solar do]
Unho, na Bahia, aquele reboco grosso. E na hora de fazer a caixa-dgua ela disse:
Vamos fazer uma coisa la Barragn, no quero concreto liso, mas j tnhamos
visto aquilo. Chegamos a comprar um daqueles livros, veio um livro daqueles, de
Nova York foi o Andr quem comprou. E comeamos a estudar como fazer aquele
babado. Foram muitas experincias: uma hora quebrava um pedao, outra hora
quebrava outro. At chegar quela forma cnica, com o saco de estopa, que
ningum queria fazer. Havia uma resistncia enorme da engenharia, que dizia que ia
encarecer muito, ia ser complicado. A, piorou o desafio, porque tnhamos de fazer
funcionar, tnhamos de fazer dar certo aquilo que queramos como resultado formal,
visual, mas dentro de um custo j feito e fechado pela construtora. E conseguimos.
A caixa-dgua foi feita com dois jogos de frma. At em cima, de madeira, em vez
de ao. Para o deque de madeira, ela chega com a revista mostrando um deque de
Atlantic City, ou de Nova York.
Tem tambm uma fbrica de energia.
196
Isso. Essa fbrica importante. Ela usava essa fbrica como argumento para
convencer as outras unidades do SESC. Tinha um galpozinho, uma coisa grande
ao lado. Acho que foi isso.
Lina desenhou para o teatro uma mscara simbolizando uma carranca. Por que
isso no foi construdo?
Fazia parte da programao visual. A mscara no teatro, uns operrios trabalhando
nas partes das oficinas, voc v esses estudos dela la Torres Garcia, algo que d
para se repetir em diversos lugares. E o pedreiro que fez a parte das madeiras iria
fazer os bonequinhos. O do ateli, ele chegou a fazer. Ficava no nosso escritrio, no
ltimo escritrio, em cima da mesa. O problema que ns samos to
repentinamente, quando foi desmontado, que isso no foi completado, no foi feito.
Ficou s no restaurante, mas um projeto que valeria a pena refazer, uma hora, se
algum topasse. Acho que tem at foto do escritrio, em que aparecem esses
bonequinhos em cima da mesa. E a mscara [do teatro] seria colocada naquele
rebaixo da parede, ao lado da rua Baro do Bananal existe um rebaixo onde ela
seria encaixada.
Ao projetar a rea esportiva do SESC, Lina faz uma aluso aos fortes
brasileiros. Qual o sentido desses fortes para ela, e o que ela queria
representar com isso? Ela trabalha outros elementos de arquitetura primitiva
ou popular nesse projeto?
Quanto idia dos fortes, primeiro que uma arquitetura pioneira no Brasil, talvez
seja a primeira arquitetura pra valer, do ponto de vista de ser pesada, duradoura.
Lgico que antes disso tnhamos palhoas, casinhas de palha, de terra. Chega um
momento em que comeam os fortes na arquitetura. E a referncia do forte vem
justamente porque ela fala da mudana de escala da fbrica delicada de tijolinho,
que contrasta com um monstro de concreto, uma construo pesada, como uma
fortaleza, um continer.
Ela usava a imagem daquela fbrica, de que voc falou, do xerox, e usava a imagem
dos fortes. Os fortes saem da escala da casa domstica, pulam para outra escala.
197
Isso uma grande arquitetura, ela admirava. Na realidade, so fortes portugueses
no Brasil, no so brasileiros. So abrasileirados porque esto adaptados
paisagem, geografia e aos materiais daqui, muitas vezes. Mas ela se referia a eles
nesse sentido. bruteza. Ela no gostava da palavra brutalismo, e dizia
bruteza.
Entendo que Lina utiliza as cores no projeto para comunicar, no para compor.
Como ela trabalha as cores no SESC Pompia?
Inveno nossa, na verdade, conjuntamente. No tinha muito critrio, muita norma.
No adotamos a norma tcnica, por exemplo, nas tubulaes. A norma que diz que
gua fria verde, incndio vermelho etc. Resolvemos mudar, mas partindo sempre
das cores primrias. Essa , talvez, uma herana mais puritana: azul, vermelho,
amarelo, verde. O Centro Georges Pompidou [o Beaubourg] ia ser inaugurado, por
isso j existia essa novidade. Era um projeto muito discutido na poca. Uns
amavam, outros odiavam. Hoje em dia, todo mundo gosta. Essas coisas, essa
questo rolava no ambiente.
A respeito da comunicao visual, ela trabalha de modo que parece muitas
vezes infantil, mas nunca por acaso. Como era a postura dela nessas
ocasies?
O mnimo possvel. A comunicao visual praticamente no tinha que existir. Ao
passar num lugar, voc deveria saber que aquilo era um restaurante, um banheiro; e
ter o mnimo de informao alm do que a arquitetura podia te dar.
Sempre usvamos um smbolo engraado. Voc v que mesmo os escritos fogem
completamente s normas usuais poca, de utilizar a letra helvtica, aquela coisa
sua. Os smbolos eram em vermelho e branco. Era muito chamativo.
O processo construtivo de Lina era peculiar: os acabamentos dos blocos nos
atelis, a grande vala coberta por seixos rolados na rua principal, as janelas-
buraco do bloco esportivo... Um projeto assim s poderia ser feito com o
198
acompanhamento in loco, cheio de experincias. Qual o sentido disso na
arquitetura? E para Lina? E para voc?
Para ns aquilo no passava de um canteiro de obras. Para ela, tambm. S que
um canteiro de obras com a presena dos arquitetos todos os dias. Hoje, passei
numa obra de manh e j mudei algumas coisinhas por l. difcil, hoje,
acompanhar a obra todo dia. Olhando, dizemos: Puxa, se fizesse um pouco mais
alto ia ficar melhor. O projeto frio, no se relaciona com todas as dimenses,
mesmo que voc faa o desenho, voc pode mudar. Mas eu no passo na obra todo
dia.
impossvel existir um cliente que pague ao arquiteto para ficar todo o dia na obra
esta a maneira de se tocar arquitetura hoje em dia. No h quem pague, quem
consiga sobreviver disso. Uma pena. E a Lina conseguiu isso. Ela abre mo de
muita coisa na vida, fica estudando, ganha pouco. Tudo bem, ela no precisava de
dinheiro, mas ela se dedicava pra valer nesse dia-a-dia. No SESC ramos quase
samurais, como capangas dela na obra, Faz isso, faz aquilo. E mesmo assim eu
consigo mostrar para voc um monte de problemas do SESC, de coisas que no
ficaram boas. Imagine uma obra daquele tipo tocada distncia, o que aconteceria.
E o legal que eles cuidam bem do SESC. Eu e o Andr fizemos intervenes l,
continuamente j fizemos muitas. As pessoas no notam que houve mudanas,
porque est dentro do esprito da obra. Tem o restaurante, que foi grande, tem
aquelas entradas vermelhas na piscina, as pontes nos galpes foram mudadas...
Uma vez colocaram corrimo l nas quadras, e ns brigamos para tirar, foi uma
guerra. E tem aquela praa l na frente, em que mudamos o piso. legal, porque
eles vo chamando.
A respeito das exposies que Lina desenvolveu no SESC, o espao no galpo
de atividades gerais no impe caminhos, um espao onde existe liberdade,
dignidade de toda uma diversidade de pessoas. Como era a relao de Lina
com o espao, ao montar o espao expositivo?
Utilizamos o maior p-direito nesse espao. Tem um metro e meio de diferena de
p-direito, em relao ao restante do galpo. Foi deixado preferencialmente para
199
exposies. Muitas vezes eles utilizam aquele espao para estar, e muito ruim
tanto que batizaram o espao de rodoviria. Aqueles sofs ali, sem a gua, sem
o fogo, ficam parecendo mesmo uma rodoviria. horroroso. Mas um espao
muito livre, com piso de pedra, fechada em alvenaria; e cada exposio era uma
novidade, pensada a partir do zero. Podia-se usar iluminao natural, se precisasse
de black-out fazia-se uma caixa, mas era um espao bastante livre, como os
espaos expositivos da Lina no Masp. E eram exposies temporrias, dava para
mudar bastante, inventar, criar.
Eu me incomodo quando eles agarram as lajes da biblioteca e mudam para todos os
lados. Acho que a fica ruim, e ela acharia ruim tambm.
200
ENTREVISTA TADEU JUNGLE
12/07/2007
O programa de TV A Fbrica do Som, a comear do ttulo, foi um dos
eventos artsticos que melhor utilizaram o espao do teatro do SESC Pompia,
projetado por Lina Bo Bardi. Qual foi sua participao, e como foi a concepo
e produo do programa?
O programa foi idealizado inicialmente pela prpria TV Cultura. Havia o diretor do
programa, Luiz Antnio Simes de Carvalho, que bolou o programa com o objetivo
de utilizar principalmente msicos universitrios, a nova msica universitria; e eu
entrei nesse processo, e durante o processo de realizao do programa ele foi se
modificando. No era para ter tanta participao do pblico, era mais um programa
musical, estritamente musical, mas o pblico foi entrando, participando aos poucos,
e ele se transformou num programa de auditrio, revelando novos talentos da
msica brasileira.
Essa mudana foi natural?
Sim. O programa foi indo, acontecendo, crescendo. A participao do pblico
tambm no era prevista. Nem eu imaginava que isso fosse acontecer. Para voc
ter uma idia, as msicas eram apresentadas ao vivo, ou seja, entre uma banda e
outra era necessria uma pausa de 10 a 15 minutos para poder trocar o palco.
Nesse intervalo tinha-se de entreter o pblico, para ele no ficar esperando de
201
bobeira a colocao do novo equipamento. A eu comecei a criar uns concursos
as pessoas subiam ao palco, cantavam uma msica. Para entreter as pessoas,
mesmo. Isso foi ficando muito legal e acabou sendo incorporado para dentro do
programa.
E o espao ajudou nessa integrao?
Sim. Como se trata de um espao de arena, tinha pblico nos 360 graus, nas duas
platias, e tambm na parte de cima. Os programas faziam muito sucesso, a platia
ficava muito cheia, ento eram programas lotados e ficava esse espao de arena:
onde quer que voc botasse a cmera, sempre tinha gente atrs do msico. O
pblico, alm de participar no palco, efetivamente participava como cenrio, estava
sempre muito presente. Sem dvida, o espao ajudou muito para isso acontecer.
Durante qual perodo o programa foi transmitido? Como comeou? Como
acabou?
Comeou em 1984 e foi at 85.
Eu imaginei que tivesse durado mais tempo.
Todo mundo imagina, porque ele foi muito potente, deixou muita memria. Tanto
que estamos falando dele aqui, agora, vinte anos depois.
Voc conheceu a arquiteta Lina Bo Bardi? Em que ocasio? A arquiteta e sua
obra foram de alguma forma inspiradoras do programa?
No conheci, mas admiro muito o trabalho, no s por causa do SESC, mas
principalmente pelo trabalho que ela desenvolveu no Teatro Oficina, do Z Celso
Martinez Corra. Eu at gravei, agora, vrias peas de teatro l dentro do Oficina,
que tambm no um teatro convencional. No sei se voc conhece, fantstico. O
espao toma diversas caractersticas, os atores trabalham em vrios lugares do
prprio teatro. No existe um s espao dentro do Oficina que o Z Celso no tenha
utilizado cenicamente. Acho que ele utilizou o espao do teto ao poro, usou tudo.
202
Li que duas das fontes de inspirao para o programa Fbrica do Som foram
o Chacrinha e o Glauber Rocha. Voc pode explicar?
Pelo Glauber Rocha eu j tinha uma grande admirao, no s como cineasta, mas
como performer. Ele era performtico, usava a pessoa fsica dele, e no s a
pessoa, porque era um ator muito forte. Isso se mostrou muito claramente em um
programa que ele fez bem antes disso, na TV Tupi, chamado Abertura. E esse
programa era um microfone livre, para vrias pessoas fazerem o que quisessem. Era
uma poca de abertura do regime poltico brasileiro, e o Glauber tinha esse
programa chamado Abertura, onde ele revolucionou a maneira de fazer entrevista
pela liberdade. Ele tirou um pouco do rano de uma TV certinha, com edio
perfeita, com uma luz correta. Era muito mais um contedo vigoroso em primeiro
plano, do que um formato j conhecido. Esses programas so muito bons, e cada
vez que voc assiste a um programa dele voc fica extremamente motivado a fazer
coisas.
O outro lado era o Chacrinha nunca mais aconteceu um programa de auditrio
como o dele. E tinha muita participao do pblico. Eu assistia sempre um pouco
deles dois [Glauber e Chacrinha], antes de entrar em cena, para me motivar. Para os
santos deles me ajudarem a fazer o programa.
Segundo contam as pessoas que assistiram ao Fbrica do Som, a boa
utilizao do espao teatral, em especial as duas platias, era um dos pontos
altos do programa. Como voc entende essa viso dos telespectadores?
Acho que os telespectadores se sentiam literalmente dentro do programa, pelo
espao cnico e pela proposta de eles tambm participarem. Como eles estavam
dentro da cena, propriamente dita, no havia aquela diviso de palco italiano, em
que a platia fica muito distante do palco em si. Eles estavam dentro da cena: a
cena contava com eles, mesmo que eles estivessem na platia como cenrio,
aparecendo ao fundo.
203
E, potencialmente, eles podiam estar em cena a qualquer momento. As cmeras
apontavam muito para eles quando subiam ao palco, ou mesmo que no
subissem. E eles se aproveitavam disso. Sabendo que estavam quase sempre em
cena, muitos j vinham fantasiados, fazendo gracinhas, sabendo que se estivessem
vestidos de maneira diferente a cmera iria focalizar. E o espao cnico contribuiu
bastante para isso.
Como era pensada pela produo a interao com a platia? Qual o papel
destinado ao pblico?
No comeo no havia participao, depois eles foram participando. E eram
presenas importantes muitas vezes as pessoas gostavam mais das participaes
do pblico, ou dessas interaes com o pblico, do que eventualmente de uma ou
outra banda. Isso porque as bandas no eram de grande calibre.
No programa de uma hora de durao voc tinha duas ou trs bandas iniciantes e
uma banda um pouco mais famosa, ou que estava em lanamento. Os Tits tocaram
pela primeira vez l, o Baro Vermelho, o Ultraje a Rigor. Essas bandas fechavam o
programa. As outras eram bandas universitrias, que no tinham muita projeo,
ento musicalmente sua apresentao poderia no ser to interessante, mas o
pblico era sempre muito interessante.
Muitos artistas e bandas musicais tiveram na Fbrica do Som uma grande
alavanca para suas carreiras. Voc poderia comentar um pouco isso, citando
quem foi fabricado no programa?
Os Tits, com certeza. A primeira apario que os Tits fizeram na TV foi na
Fbrica do Som. Eles tocaram algumas vezes l. Todos esses conjuntos. Por
exemplo, o Sossega Leo, que depois veio a ser muito famoso nos anos 80, o
prprio Ultraje a Rigor, com a msica A gente somos intil. Essa msica quase
virou um hino do programa. E outras bandas, como Camisa de Vnus, que j tinham
certa histria e apareceram l. O programa era sempre um espao de msica ao
204
vivo, no havia playback. Os msicos iam realmente para tocar ao vivo. Era real.
Fazamos questo de frisar isso: dar espao para o msico tocar e mostrar a
importncia da msica ao vivo, uma vez que naquela poca muitos programas eram
feitos s com playback, s para pegar o sucesso e colocar o cara na televiso. A
idia no era essa, ali.
A gerao nova de rock-and-roll, que estava surgindo naquela poca, passou toda
por l. Realmente, era uma grande vitrine para toda a molecada que estava
nascendo ali. O Prem [Premeditando o Breque] tocou vrias vezes l. A presena
deles era fundamental, porque j eram famosos aqui em So Paulo e eram msicos
chamados alternativos, no eram msicos grandes, que tocassem na TV Globo. O
programa tambm tinha esse lado de usar excelentes msicos que no tinham uma
carreira de blockbuster, de grande sucesso. O Premeditando o Breque exatamente
isso.
Voc cita que a msica apresentada na Fbrica do Som era uma msica de
gnero popular. Voc pode explicar?
Era msica popular brasileira. Eram msicas brasileiras, no veio nenhum cantor
gringo tocar no programa. Tinha muita msica instrumental, tambm. Eu acho que
estvamos falando de musica pop, de MPB. Esse era o pblico, essa era a msica
que tocvamos ali.
Fizemos algumas coisas muito especiais. Por exemplo, fizemos um programa
dedicado a Augusto de Campos. A foram tocadas msicas do Pricles Cavalcanti,
tocou o Arrigo Barnab, pessoas at mais conceituais. Realmente, eram msicas
que no eram tanto do popular, eram msicas mais experimentais. Leituras
musicadas. O poema Dias dias dias, por exemplo, do Augusto de Campos, e que
foi musicado pelo Caetano Veloso, ns tocamos l. Tinha tambm um flerte com
uma msica mais intelectualizada, mas o grosso do programa o que se pode
chamar de MPB pop, hoje em dia.
Tocamos punk, tambm. O Clemente esteve l, com os Inocentes. Era a poca em
que o punk se espalhou no mundo, ele comeou na metade dos anos 70, no final
205
dos 70. O punk paulista j tinha certa proeminncia, principalmente com os
Inocentes. Era o grupo mais conhecido.
Parece que o SESC funcionava nas dcadas de 1970 e 1980 como um espao
aberto a novas experincias, de vanguarda. O programa A Fbrica do Som
se beneficiou dessa situao? Como funcionava isso na poca?
No, acho que a coisa foi toda uma iniciativa da TV Cultura, mesmo.
Voc v alguma relao entre o seu programa e a produo cultural da poca?
Cinema, literatura, arquitetura?
Era uma poca de renascimento. A dcada de 1980 era uma poca em que se
vinha de uma ditadura muito grande, nos anos 70, por isso a dcada de 80 tinha
essa espcie de renascimento. Mas a msica, eu acredito que tenha surgido
primeiro. Os novos valores acabaram surgindo primeiro dentro da msica, talvez
mais que na literatura. No vejo grandes expoentes da literatura surgindo no comeo
dos anos 80. Marcelo Rubens Paiva estava surgindo nessa poca, ou um pouquinho
mais adiante.
Como voc v a iniciativa do SESC com a TV Cultura para esse espao?
Foi excelente, porque a TV Cultura tinha um auditrio ainda tem, alis, l perto da
Praa da Luz [Teatro Franco Zampari]. Mas, se usasse esse auditrio, seria talvez
um programa mais padro. Acho que foi uma sacada muito grande, muito sbia.
Acho que o SESC Pompia s aconteceu e se tornou uma coisa pop por causa do
programa, que deu uma visibilidade incrvel a ele. Durante toda a semana, e no s
durante o programa, tnhamos chamadas. O programa era gravado numa tera.
Ento havia chamadas para a gravao e chamadas para o programa, e sempre
aparecendo a imagem do SESC, sempre a imagem da obra da Lina aparecendo.
O SESC Pompia teve seu nascimento, e teve alguma coisa no signo mais pop, por
causa da Fbrica do Som.
206
Desenhos Sesc Pompia (1977-1986)
Fonte: Arquivo Instituto Lina Bo e P. Bardi
207
208
209
210
211
Você também pode gostar
- A Narrao Do Fato Notas para Uma Teoria Do AcontecimentoDocumento10 páginasA Narrao Do Fato Notas para Uma Teoria Do AcontecimentoElton AntunesAinda não há avaliações
- A Lição de KahnweilerDocumento23 páginasA Lição de KahnweilerWilliam Funes100% (1)
- Arteveiculo AnamariamaiaDocumento340 páginasArteveiculo AnamariamaiaAna Maria MaiaAinda não há avaliações
- NEOVANGUARDASDocumento161 páginasNEOVANGUARDASLidiane FernandesAinda não há avaliações
- Dissertação Paulo Magalhães Revisada5Documento196 páginasDissertação Paulo Magalhães Revisada5Paulo Mutaokê MagalhãesAinda não há avaliações
- Rede Urbana - Roberto Lobato CorreaDocumento10 páginasRede Urbana - Roberto Lobato CorreaEtevaldo LimaAinda não há avaliações
- Discursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoNo EverandDiscursos críticos através da poética visual de Márcia X.: 2ª ediçãoAinda não há avaliações
- Catálogo Casa Carioca 1Documento75 páginasCatálogo Casa Carioca 1Gabriella VillaçaAinda não há avaliações
- Diniz SheylaCastro D PDFDocumento224 páginasDiniz SheylaCastro D PDFThomas CostelloAinda não há avaliações
- Catalogo IOLE DE FREITASDocumento32 páginasCatalogo IOLE DE FREITASMarina CâmaraAinda não há avaliações
- AUT5836Documento5 páginasAUT5836TucaVieiraAinda não há avaliações
- Os Novos Museus, Como Subterfúgio Da Imagem Da Cidade e o TurismoDocumento15 páginasOs Novos Museus, Como Subterfúgio Da Imagem Da Cidade e o TurismoEspaço ExperiênciaAinda não há avaliações
- ArteônicaDocumento37 páginasArteônicaAlessandra BochioAinda não há avaliações
- Wilma Faria Gois - Afetos Da Obra de LeonilsonDocumento137 páginasWilma Faria Gois - Afetos Da Obra de LeonilsonGiammattey0% (1)
- Arte-Ciência-Tecnologia: o Sistema Da Arte em PerspectivaDocumento325 páginasArte-Ciência-Tecnologia: o Sistema Da Arte em PerspectivaDébora Aita GasparettoAinda não há avaliações
- KUSCHNIR Karina Desenhando Cidades 2012 PDFDocumento21 páginasKUSCHNIR Karina Desenhando Cidades 2012 PDFAna Claudia BritoAinda não há avaliações
- Krauss - Escultura No Campo Ampliado PDFDocumento10 páginasKrauss - Escultura No Campo Ampliado PDFAna Holanda CantaliceAinda não há avaliações
- Transtemporalidade (Conclusão e Conferência)Documento5 páginasTranstemporalidade (Conclusão e Conferência)Vinícius SchuchterAinda não há avaliações
- Juanpablorev PDFDocumento217 páginasJuanpablorev PDFLuiz SantosAinda não há avaliações
- DURAND, José Carlos. Mercado de Arte e Mecenato - Brasil, Europa, Estados UnidosDocumento14 páginasDURAND, José Carlos. Mercado de Arte e Mecenato - Brasil, Europa, Estados UnidosThamara VenâncioAinda não há avaliações
- A Palavra Perplexa - Anos 70 e Experiência Histórica PDFDocumento390 páginasA Palavra Perplexa - Anos 70 e Experiência Histórica PDFJucely RegisAinda não há avaliações
- Fotografia PerformaticaDocumento154 páginasFotografia PerformaticaBruno BeckerAinda não há avaliações
- Escultura Formalista, Richard Serra, Richard Long e Algo MaisDocumento7 páginasEscultura Formalista, Richard Serra, Richard Long e Algo MaisCremilde Maria Lopes BispoAinda não há avaliações
- Catálogo Abelardo Da Hora RecifeDocumento40 páginasCatálogo Abelardo Da Hora RecifeAle RochaAinda não há avaliações
- Rafael Rodrigues Da SilvaDocumento346 páginasRafael Rodrigues Da SilvaMarcusAinda não há avaliações
- O Vísível, o Invisível e o OfuscadoDocumento3 páginasO Vísível, o Invisível e o OfuscadoAntonio Herci Ferreira JuniorAinda não há avaliações
- Anuario Mnba - 2009 PDFDocumento161 páginasAnuario Mnba - 2009 PDFadriana_mcm100% (1)
- Uma Poetica Ambiental - Cildo Meireles Algo Sobre Historiografia Da ArteDocumento156 páginasUma Poetica Ambiental - Cildo Meireles Algo Sobre Historiografia Da ArteGabriela DarbonAinda não há avaliações
- Catiti Catiti, Na Terra Dos Brasis Lygia PapeDocumento104 páginasCatiti Catiti, Na Terra Dos Brasis Lygia PapePablo MeijueiroAinda não há avaliações
- Catalogo Paulo RobertoDocumento39 páginasCatalogo Paulo RobertoAlice Gontijo100% (3)
- Lina Bo Bardi e A Cultura Material PopularDocumento16 páginasLina Bo Bardi e A Cultura Material PopularM'Boitatá Arte & AntiguidadeAinda não há avaliações
- Entre Processos e Perceptos - Ariadne - PPGAU-FAUFBADocumento222 páginasEntre Processos e Perceptos - Ariadne - PPGAU-FAUFBAGiovana AbelhaAinda não há avaliações
- Adriana v. Serrão - Sentimento Da Natureza e Imagem Do Homem, Kant-Feuerbach-SimmelDocumento22 páginasAdriana v. Serrão - Sentimento Da Natureza e Imagem Do Homem, Kant-Feuerbach-SimmelRaoul MarianAinda não há avaliações
- Arte Digital No Brasil e As (Re) Configurações No Sistema Da ArteDocumento288 páginasArte Digital No Brasil e As (Re) Configurações No Sistema Da ArteDébora Aita GasparettoAinda não há avaliações
- Geografias PortateisDocumento51 páginasGeografias PortateisPamela ZechlinskiAinda não há avaliações
- Vdocuments - MX Vida e Obra Carla JuacabaDocumento11 páginasVdocuments - MX Vida e Obra Carla JuacabaJosefina MilesAinda não há avaliações
- Catalogo Exposicao-RosangelaRennoDocumento90 páginasCatalogo Exposicao-RosangelaRennoIgnez CapovillaAinda não há avaliações
- Design: o Falso Problema Das Origens - Arturo Carlo QuitavalleDocumento6 páginasDesign: o Falso Problema Das Origens - Arturo Carlo QuitavalleMarcos BeccariAinda não há avaliações
- Manual Autor Edufba DigitalDocumento47 páginasManual Autor Edufba DigitalThiago GuimarãesAinda não há avaliações
- Da Exposição A Nova Objetividade Ao Evento Do Corpo À TerraDocumento13 páginasDa Exposição A Nova Objetividade Ao Evento Do Corpo À TerraArthur Lauriano Do CarmoAinda não há avaliações
- Catálogo Athos BulcãoDocumento105 páginasCatálogo Athos BulcãoNastácia FilipovnaAinda não há avaliações
- 16 Bienal - Catálogo GeralDocumento248 páginas16 Bienal - Catálogo Geral.Vítor.Ainda não há avaliações
- História Das Exposições2022-1Documento5 páginasHistória Das Exposições2022-1Gabriel DolanAinda não há avaliações
- As Influencias Da Arte Africana GilsonDocumento8 páginasAs Influencias Da Arte Africana GilsonAmanda Grasiele RamosAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Direção de Arte em Amor, Plástico e BarulhoDocumento9 páginasArtigo Sobre Direção de Arte em Amor, Plástico e BarulhoThais Helena MoreiraAinda não há avaliações
- Disserta o Karine Outubro 2017 PDFDocumento249 páginasDisserta o Karine Outubro 2017 PDFJorgeFigueirdoAinda não há avaliações
- Waltercio Caldas PDFDocumento22 páginasWaltercio Caldas PDFgabriela100% (2)
- Caminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Documento208 páginasCaminhante, Não Há Caminho. Só Rastros. Ana Cristina Colla.Bruna Sabrina100% (1)
- Notas Sobre o Espaço Da GaleriaDocumento3 páginasNotas Sobre o Espaço Da GaleriaKarol RodriguesAinda não há avaliações
- Manfredo TafuriDocumento1 páginaManfredo TafuriFernando NevesAinda não há avaliações
- Anita19,+9 +Intervenção+Urbana+corrigidoDocumento11 páginasAnita19,+9 +Intervenção+Urbana+corrigidoLucineide LopesAinda não há avaliações
- Lina NeDocumento282 páginasLina NeDigo MendesAinda não há avaliações
- ACR027 - História, Teoria e Filosofia Da Arte e Da Arquitetura - Plano de Ensino 2012sem02Documento5 páginasACR027 - História, Teoria e Filosofia Da Arte e Da Arquitetura - Plano de Ensino 2012sem02Diogo Campos da SilvaAinda não há avaliações
- Meneses, Ulpiano - Rumo História VisualDocumento9 páginasMeneses, Ulpiano - Rumo História VisualGrausuarioAinda não há avaliações
- Catalogo 8 Bienal MercosulDocumento291 páginasCatalogo 8 Bienal MercosulDanielle Carvalho100% (1)
- O Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Contextos e NarrativasNo EverandO Museu de Arte Contemporânea de Niterói: Contextos e NarrativasAinda não há avaliações
- A caminho do lar: A narrativa dos anúncios de eletrodomésticosNo EverandA caminho do lar: A narrativa dos anúncios de eletrodomésticosAinda não há avaliações
- México-Brasil: Paisagem e Jardim como Patrimônio CulturaNo EverandMéxico-Brasil: Paisagem e Jardim como Patrimônio CulturaAinda não há avaliações
- Red - Ulacav - Eje4 - Liana OliveiraDocumento10 páginasRed - Ulacav - Eje4 - Liana OliveiraLiana Perez de OliveiraAinda não há avaliações
- 13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoDocumento18 páginas13 - A - TAFURI, M. - Projecto e Utopia - As Aventuras Da RazãoLiana Perez de Oliveira100% (1)
- Aula 05 - Revestimento Cerâmico e PorcelanatoDocumento27 páginasAula 05 - Revestimento Cerâmico e PorcelanatoLiana Perez de OliveiraAinda não há avaliações
- Aula 02 EstruturaDocumento17 páginasAula 02 EstruturaLiana Perez de OliveiraAinda não há avaliações
- Aula Perret e Garnier - Historia Da ArquiteturaDocumento22 páginasAula Perret e Garnier - Historia Da ArquiteturaLiana Perez de OliveiraAinda não há avaliações
- GehryDocumento29 páginasGehryLiana Perez de OliveiraAinda não há avaliações
- Cameras de VigilanciaDocumento14 páginasCameras de VigilanciaMax BarretoAinda não há avaliações
- Interculturalidades Da MulticulturalidadeDocumento20 páginasInterculturalidades Da MulticulturalidadePQLP Timor LesteAinda não há avaliações
- Edital Virtual PCERJ PapiloDocumento7 páginasEdital Virtual PCERJ PapilolmncAinda não há avaliações
- Antropologia Fundamentos 2016 - Versao FinalDocumento4 páginasAntropologia Fundamentos 2016 - Versao FinalMauricio silvaAinda não há avaliações
- Cartilha Diversidade Sexual Ea Cidadania LGBTDocumento45 páginasCartilha Diversidade Sexual Ea Cidadania LGBTraftz292121Ainda não há avaliações
- Treinamento Acolhimento e HumanizacaoDocumento42 páginasTreinamento Acolhimento e HumanizacaoErivaldo Rosendo100% (1)
- Regimento Interno TubaDocumento11 páginasRegimento Interno TubaNathalia PamelaAinda não há avaliações
- Os Dizeres Da Boca em CuritibaDocumento200 páginasOs Dizeres Da Boca em Curitibaapi-25940372Ainda não há avaliações
- O Discurso Competente - Marilena Chauí ScribdDocumento2 páginasO Discurso Competente - Marilena Chauí ScribdElias CruzAinda não há avaliações
- A Imagem Fotográfica Como Objeto Da Sociologia Da ArteDocumento3 páginasA Imagem Fotográfica Como Objeto Da Sociologia Da ArteLaila MelchiorAinda não há avaliações
- A Estrutura Perversa - Apresentação SlideDocumento157 páginasA Estrutura Perversa - Apresentação SlideFatima Melo100% (2)
- Resenha Do Artigo Information As Thing - de BUCKLANDDocumento5 páginasResenha Do Artigo Information As Thing - de BUCKLANDmarcialyraAinda não há avaliações
- Beatriz Kuhl - Notas Sobre A Carta de VenezaDocumento35 páginasBeatriz Kuhl - Notas Sobre A Carta de VenezaMakewishesAinda não há avaliações
- Deficiência Na Prisão Frente Um Olhar CriminológicoDocumento19 páginasDeficiência Na Prisão Frente Um Olhar CriminológicoDenisson Gonçalves ChavesAinda não há avaliações
- Justiça, Solidariedade e ReciprocidadeDocumento11 páginasJustiça, Solidariedade e ReciprocidadeRafael RochaAinda não há avaliações
- Apostila A&o - 2015Documento55 páginasApostila A&o - 2015Sandro ToninAinda não há avaliações
- Boletim Contexto 2005 - Saudade de Carolina - Deisy Das Graças de Souza PDFDocumento6 páginasBoletim Contexto 2005 - Saudade de Carolina - Deisy Das Graças de Souza PDFAndréRoublesdeCastilhoAinda não há avaliações
- Apostila FAIBRADocumento88 páginasApostila FAIBRABruno MarquesAinda não há avaliações
- Teoria Social ClássicaDocumento5 páginasTeoria Social ClássicaAnderson SilvaAinda não há avaliações
- Teoria Da Escolha RacionalDocumento32 páginasTeoria Da Escolha RacionalCarlos Carphegiany Lima CardosoAinda não há avaliações
- Analise Do Livro Educação Nos Terreiros, Da Autora Stela Guedes Caputo, Pela Ideia Werberiana de Metodologia Das Ciências SociaisDocumento12 páginasAnalise Do Livro Educação Nos Terreiros, Da Autora Stela Guedes Caputo, Pela Ideia Werberiana de Metodologia Das Ciências SociaisAthos Felipe MartinsAinda não há avaliações
- O Processo Evolutivo Das BibliotecasDocumento15 páginasO Processo Evolutivo Das BibliotecasGiuliano LenaAinda não há avaliações
- Corpo e GestoDocumento42 páginasCorpo e Gestoluisamaiamatos100% (2)
- Artigo Do TCU - Controle Social e TransparenciaDocumento34 páginasArtigo Do TCU - Controle Social e TransparencianetolonliveAinda não há avaliações
- OposiçãoDocumento8 páginasOposiçãoFábio Gonçalves JúniorAinda não há avaliações
- Quadrinhos e o Incentivo À LeituraDocumento143 páginasQuadrinhos e o Incentivo À LeituraLuana AguiarAinda não há avaliações
- Apostila - Lideranca RenovadoraDocumento13 páginasApostila - Lideranca RenovadoraCOSTAWASHINGTON100% (1)