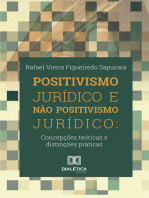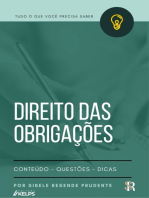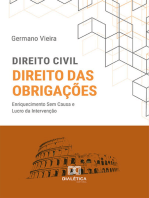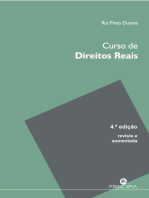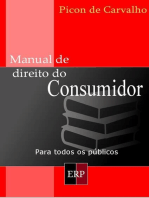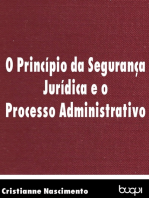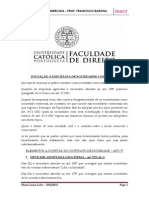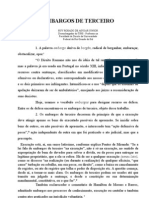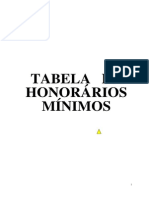Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia Do Direito - Apontamentos
Enviado por
Maria Luísa LoboDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filosofia Do Direito - Apontamentos
Enviado por
Maria Luísa LoboDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
I - INTRODUO 1. QUESTES FUNDAMENTAIS DA FILOSOFIA DO DIREITO A actividade profissional do jurista consiste na resoluo de casos e de questes jurdicas. Perante a narrativa de um caso, o jurista deve ser capaz de identificar as questes de direito que se levantam e resolve-las. Face narrao de um conjunto mais ou menos complexo de factos, o jurista deve saber responder s questes quid iuris como? Jurista ter ao seu dispor uma srie de textos ou diplomas normativas Jurista poder ainda recorrer doutrina e jurisprudncia Mas.. nada disto s por si suficiente para que surjam as solues jurdicas (mais justas e adequadas) Cada caso susceptvel de colocar diversas questes jurdicas, sendo que tais questes podem ter uma complexidade muito diversificada: EASY CASES: Podem ser resolvidos de forma quase automtiva por meio de uma ou mais regras precisas predefinidas HARD CASES: No podem ser (adequadamente) resolvidos por uma ou mais regras precisas predefinidas. So casos de grande dificuldade, que exigem complexas operaes de raciocnio, requerendo a conjugao de mltiplos parmetros e critrios da mais diversa indole. Do ponto de vista quantitativo no so os mais frequentes, mas do ponto de vista qualitativo so os mais importantes na actividade dos tribunais nos casos difceis que se revela toda a importncia do Direito.
A Filosofia do Direito coloca as questes fundamentais do Direito. Que sentido tem tudo isto? (Nagel). Contudo, os juristas no precisam de alargar o horizonte das nossas interrogaes a esse nvel. Porqu? Porque o saber jurdico um saber especfico que, mesmo quando estabelece ligaes a outros saberes, mantm a sua autonomia normativa que resulta da especfica fora vinculativa dos textos aprovados como fontes de direito e das exigncias da justia, que lhes so sentido e determinam o seu alcance. Embora se possa dizer, at certo ponto, que a cultura jurdica diferente da cultura jurdica, a verdade que um bom jurista dever possuir, alm de um bom conhecimento das fontes de direito, bons conhecimentos culturais que lhe permitam compreender as questes que tem para resolver. A questo filosfica de saber o que o Direito, o que o Direito como um todo, no indiferente para a resoluo dos problemas prticos. A filosofia jurdica e a filosofia poltico social no irrelevante para a resoluo dos casos e problemas com que o jurista se depara.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 1
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Esser e Kriele: todos temos pr compreenses, e juzos prvios, capazes de influir, ainda que a um nvel apenas subconsciente, sobre as solues prticas que defendemos para os problemas de direito. As pr compreenses so ideias intuitivas anteriores sua prpria reflexo ou problematizao. A Filosofia do Direito transforma reflexivamente a intuio ou sentimento em conjuntos articulados de ideias e princpios explcitos. PROBLEMAS BSICOS DA FILOSOFIA DO DIREITO 1. O que o Direito? O que o Direito segundo a sua ideia? O que o Direito ao nvel da idealiadade? Quais so os princpios nucleares constitutivos do Direito? 2. Como se conhece ou realiza o Direito? Problema do mtodo jurdico, ou seja quais os meios atravs dos quais descobrimos as solues de direito? Relao de contuinidade entre as duas questes: Irrelevncia da primeira pergunta face segunda? No: todo o mtodo supe uma opo filosfica de fundo Instumentalidade da segunda primeira face primeira? No s isso: o Direito prtico segundo a sua prrpria ideia.
O Direito uma ideia prtica, pelo que ele exista para se realizar. O Direito implica, conceptualmente, a sua prrpria realizao (Hegel). 2. VALOR FORMATIVO DA FILOSOFIA DO DIREITO Qual o valor formativo das questes que se colocam na Filosofia do Direito e a sua reflexo? A Filosofia proporciona uma viso global do Direito: viso do conjunto ou do sistema que permite fazer ligaes e conexes de sentido que no esto ao alcance de quem apenas pena as coisas isoladamente ao nvel das normas ou regras que mais directamente se aplicam aos problemas a resolver. Sendo o Direito uma realidade cultural, a Filosofia do Direito refora a cultura jurdica do jurista. A Filosofia desenvolve o esprito crtico do jurista: a filosofia sempre expresso de uma atitude crtica, sendo que esta define o Homem naquilo que ele tem de mais essencial. Quais as atitudes filosficas fundamentais (distinguem-se desde a Lgica de Kant)?
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 2
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
CPTICO: As respostas equivalem-se todas partida de tal modo que s na dinmica dos jogos de linguagem sem solues ou teorias condicionantes prvias possvel chegas a respostas, e sempre de forma provisria, sem a certeza de que as respostas encontradas sejam as respostas certas. DOGMTICO: H solues e teorias ou doutrinas que no se podem questionar; h respostas que esto definitivamente dadas e nada mais haver a discutir sobre elas. ATITUDE CRTICA: No rejeita a legitimidade da dvida nem a possvel validade conjuntural dos jogos de linguagem e no exclui que possa haver dogmas e teorias que, depois de tudo ponderado, se mantenham absolutamente iguais. Mas o esprito crtico no se abtm de questionar o sentido ltimo das coisas, rejeitando quer a possibilidade de tudo se equivaler partida, quer a impossibilidade de questionar o valor e o sentido das solues e teorias dominantes.
PARALELISMO ENTRE AS ATITUDES BSICAS E OS TIPOS DE VISES GLOBAIS DO DTO CEPTICISMO POSITIVISMO Identifica-se o Direito como a mera prtica social, judiciria ou legislativa. Nada h para alm do que os operadores jurdicos faam. Tudo provisrio. Esta atitude conduz a uma espcie de fatalismo factual: o direito situa-se na ordem do ser e no tambm do dever ser. DOGMATISMO CIENTISMO CRISTALIZADO E JUSNATURALISMO AHISTRICO Tende-se a exacerbar o caracter predefinido do Direito em regras especficas, vendoo enquanto realidade existente em si e por si, sem qualquer relaes com as fontes de direito positivo e com os contextos histricos concretos do seu surgimento e da sua aplicao; apela-se para realidades ideias (natureza das coisas; natureza humana, etc.) tratando-se de uma forma meramente geral e abstracta. No deixa espao para os contextos existenciais e para a margem da autonomia ou de liberdade que os criadores e aplicadores do Direito tm na definio dos pressupostos e efeitos da regulao jurdica. ATITUDE CRTICA ATITUDE JURDICO-FILOSFICA Admite-se que todo o Direito , em ltima anlise, positivo, mas abre-se a realizao desse Direito possibilidade de uma constante considerao ou ponderao de parmetros e critrios no estritamente jurdico positivos, que funcionam como elementos critcos e integradores do Direito no seu todo. O Direito no apenas um dado a interpretar e aplicar, mas tambm um processo em que o aplicador tem um constitutivo papel crtico ou integrador.
A Filosofia possibilida um melhor domnio das ideias e princpios jurdicos: reconhece que o pensamento humano lida com ideias amplas, com princpios sendo que apesar da sua amplitude so estes que vem a revelar-se verdadeiramente decisivos na resoluo dos problemas jurdicos. O Direito exige uma faculdade das ideias, uma capacidade de pensar a partir dos princpios.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 3
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
No sculo XIX, a generalidade dos autores acreditava na ideia de um Direito Natural, mas a prtica no correspondia a tal crena. Tendia a pensar-se que todo o pensamento jurdico deveria ser cientfico e que s se poderia lidar com dados positivos, exactos e mensurveis. A lei seria a fonte primordial, o mtodo deveria ser tendencialmente lgico gramatical, o direito internacional no era verdadeiro direito, os catlogos de direito originrios ou naturais eram letra morta e as clusulas gerais eram objecto de um uso cometido ou nulo. Ou seja, a construo jurdica era escassa. Hoje existe a internacionalizao do Direito,a constitucionalizao crescente dos ordenamentos e a necessidade de enfrentar adequadamente questes novas e complexas que no tm resposta j pronta. Ou seja, hoje, existe a necessidade do jurista pensar segundo ideias amplas e parmetros abertos. A Filosofia aumenta a prpria competncia profissional ou tcnico jurdica do jurista: com a crise das democracias liberais novencentistas e com a posterior queda dos regimes autoritrios da Europa o Direito sofreu uma viragem, transformando-se a jurisprudncia na jurisprudncia dos princpios: Na Constituio, os sistemas de regras e princpios fundamentais adquirem a fora normativa que no tinham; Juristas passam a ter de lidar com expresses como dignidade da pessoa humana; Estado de Direito Democrtico; igualdade, etc. Tribunal de Justia das Comunidades Europeias procura na tradio dos Estados Membros das Comunidades os princpios de justia no escritos e os direitos fundamentais de que precisa para realizar o Direito.
Em suma: o jurista tem de ter uma viso ampla e aberta sobre a sua actividade e sobre o Direito se quiser dar resposta justa e adequada s questes jurdicas que o presente lhe coloca. Ao olhar para o que global e fundamental fica-se mais competente para resolver o que meramente casustico. 3. ORIGENS DA DISCIPLINA DE FILOSOFIA DO DIREITO Apesar de a primeira universidade ter surgido no sculo XII, em Bolonha, s no sculo XIX houve uma disciplina, pela primeira vez, designada como Filosofia do Direito. A designao Filosofia do Direito difundiu-se com Hegel, sendo que para este o objecto de tal a ideia de Direito, ou seja a sua noo e realizao. A Filosofia do Direito permite a ligao entre o racional e o real, entre o universal e o histrico ou o concreto, pelo que no se pode falar em tal onde apenas se pensa na imanncia de um dado ordenamento positivo, sem uma perspectiva crtica acerca do mesmo, nem se pode falar de Filosofia do Direito, em sentido prrpio, onde apenas se reflecte em abstracto sobre os valores mais universais do direito sem qualquer ligao com a realidade histrica e concreta dos sistemas de direito positivo em vigor.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 4
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
No ensinamento do Direito Comum (Direito Romano e Direito Cannico) no existia nenhuma disciplina dedicada aos temas da Filosofia do Direito. No incio das instituies e do Digesto continham-se fragmentos de obras dos grandes jurisconsultos romanos que se referiam relao do direito com a justia e equidade e interpretao da lei e mesmo o incio do Decreto de Graciano continha cannes dedicados quer relao entre a lei e o direito quer ao contedo do direito natural. Contudo, tratavam-se apenas de abordagens suscintas e introdutrias. Nos sculos XVII e XVIII surgem as primeiras disciplinas de Direito Natural e de Direito Natural e das Gentes (antecedente prximo da Filosofia do Direito) que procuravam as leis universais do Direito e as regras da sua aplicao. A diferena entre Filosofia do Direito e o Direito Natural e das Gentes assenta em que a primeira se relacional explicitamente s questes levantadas pelos direitos positivos historicamente vigentes, no aceitando o dualismo metodolgico da contraposio entre Direito Natural e das Gentes e Direito Positivo: para a filosofia s existe o Direito Positivo. A Filosofia do Direito em Portugal: embora a disciplina Direito Natural e das Gentes tenha nascido em 1772 com os chamados Novos Estatutos da Universidade de Coimbra, s na segunda metade do sculo XIX, com Vicente Ferrer, que se adoptou a actual designao de Filosofia do Direito. Ao reflectir sobre os primeiros princpios da justia, a Filosofia do Direito permite avaliar a justia das leis e consequentemente interpret-las, alm de resolver os casos omissos. II OS POSITISMOS JURDICOS E A TEORIA DAS FONTES DE DIREITO 1. CONDIES DE EMERGNCIA DO POSITIVISMO JURDICO Com o despotismo esclarecido surgem as afirmaes mais categricas da identidade entre a lei do soberano e o direito, embora, seja certo, que o iluminismo jurdico polifacetado e no se resume a tal reduo: Iluminismo de Verney: alia a razo e tradio Ilumunismo de Kant: funda-se numa razo prtica transcendental, estando presente a ideia de universalidade ou a ideia de reino dos fins
Contudo, a prtica tendeu, em muitos estados da Europa para uma afirmao da identidade entre lei e direito: era a consumao do reforo do poder do Estado transposta para o direito. Exemplifica claramente tal o facto de Lus XIV proibir a interpretao dos textos da lei. Quando se passa para o liberalismo democrtico (sculo XIX), o poder legislativo dos monarcas absolutos passa para os parlamentos. A democracia limitada atravs de uma srie de condies variveis para que os cidados maiores de idade ou emancipados pudessem votar e ser eleitos, mas a vontade da maioria dos cidados faz lei. A lei a vontade da maioria expressa nas assembleias legislativas, e nada h acima da lei. Mantm-se a afirmao de um direito natural ou de leis naturais, mas, na prtica, tendia a prevalecer o esprito do cientismo positivista transposto para o direito. A existncia do direito dependia da criao da lei, sendo que as normas legais deviam ser interpretadas segundo a sua letra, a sua teleologia prxima e a sua
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 5
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
insero sistemtica do contexto delimitado da legislao em que se inserem. Contudo, a lei nem sempre era vista na sua essncia como produto da vontade do Estado soberano: exemplo de tal a concepo que Portalis (membro mais destacado da comisso de reviso do Code Civil) tem da lei, uma vez que para ele as leis seriam actos de sabedoria, de justia e de razo. 2. O POSITIVISMO LEGALISTA Com o despotismo esclarecido e com o liberalismo democrtico, o direito tendeu a identificar-se com a lei: o legislador faria a lei em total liberdade conformadora e o aplicador deveria limitar-se produo de prova dos factos previamente delimitados pela previso da norma legal e aplicao da sano a prevista. Segundo Montesquieu os juizes da nao so (...) apenas a boca que pronuncia as palavras da lei, sendo que Beccaria afirmava que Nem mesmo a autoridade de interpretar as leis penais pode caber aos juizes criminais, pela prpria razo de no serem eles legisladores. Em cada delito, o juiz deve formular um silogismo perfeito: a premissa maior deve ser a lei geral, a menor a aco em conformidade ou no com a lei: a consequncia, a liberdade ou a pena. Quando o juiz for coagido, ou quiser formular mesmo s dois silogismos, estar aberta a porta incerteza.. Ou seja, o jurista deve actuar segundo a mais elementar operao lgica, isto , o silogismo segundo o modus barbara, subsumindo os factos na previso das normas legais e concluindo com a aplicao da consequncia estatuda na lei em face dos factos nela previstos. SILOGISMO & ACTUALIDADE: certo que por vezes o juzo jurdico se baseia num silogismo, mas o jurista nunca poder deixar de considerar a existncia de elementos de interpretao e a possibilidade de casos omissos luz de princpios que devam em concreto prevalecer. O jurista no pode ignorar a questo dos limites de realizao do direito atravs da lei. Actualmente, ao silogismo puro e simples unem-se os elementos de interpretao, no se excluindo a possibilidade de recurso analogia. Porque que o mtodo silogistico insuficiente? Existem 4 razes para Alexy: i. ii. iii. iv. Indeterminao da linguagem jurdica Conflitos de normas Existem casos que necessitam de uma regulamentao jurdica, sendo que para tal regulamentao no existe nenhuma norma vigente H casos que devero ser decididos inclusivamente contra o teor literal de uma norma
EVOLUO DO PAPEL DA LEI No Estado Liberal, a lei estava essencialmente ao servio da liberdade, da igualdade e da segurana No Estado Social, a lei passou a ter um papel politicamente mais intervencionista: deixou de estar ao servio da liberdade e da igualdade dos cidados para ser tambm um instrumento de realizao de finalidades polticas e sociais lei no domnio de actuao do poder.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 6
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
PROBLEMA: No tendo a lei qualquer parmetro superior de validade jurdica que pudesse ser aplicado por instncias judiciais independentes criaram-se as condies para que ela pudesse ser aprovada com qualquer contedo.
Com as Leis de Nuremberga retiraram-se os direitos de cidadania aos judeus e estabeleceram-se regras de pureza da raza ariana o que conduziu a uma situao de misria jurdica
3. O CONSTITUCIONALISMO Desenvolvido na Europa por Kelsen, o constitucionalismo significa simultaneamente que a Constituio parametro de validade jurdica das leis e que tal validade judicialmente sindicvel. Trata-se de um normativismo escalonado de forma piramidal, ou seja, todas as normas situam-se no quadro de uma determinada hierarquia devendo as normas inferiores conter-se aos limites semnticos das normas superiores. Contudo, o contedo das normas podia conter amplas margens de indeterminao e seria de considerar a possibilidade da existncias de normas habilitantes que permitissem aos criadores ou aplicadores do direito a construo de novas normas fora dos quadros semnticos das normas de escalo superior (exemplo: art. 1 do Cdigo Civil Suio permitia que na falta de disposio legal aplicvel o juiz julgasse segundo a norma que ele estabeleceria se tivesse fazer de legislador). Este constitucionalismo afirma-se contra uma ideia de justia que ponha em causa as exigncias da democracia e da segurana: as normas democraticamente aprovadas devem dar segurana e a injustia no , s por si, pretexto para recusar a aplicao de uma norma. Note-se que Kelsen no era alheio ideia de justia, mas a justia que ele defende a que tem apoio na cincia e que se pode sustentar na verdade e na correco da cincia; a justia da liberdade, da paz, da democracia e da tolerncia. Com Kelsen ocorre uma substituio da ideia filosfica de justia pela ideia de liberdade, paz, democracia, tolerncia e cientificidade: tais ideias seriam a base material do constitucionalismo jurdico puro. Assim se justifica que ele rejeite a ideia de uma moral nica ou absoluta e a possibilidade de imposio constitucional de concepes filosficas, morais ou religiosas. Embora a ideia do constitucionalismo tenha inspirao prxima na judicial review existentes nos EUA, para Kelsen, nos pases de tradio legalista (generalidade dos pases europeus) no seria suficiente afirmar a Constituio como parmetro de validade jurdica das leis: era necessria uma instncia do poder que tivesse a especfica e exclusiva funo de apreciar essa validade. Deste modo, surge o Tribunal Constitucional como guardio da Constituio. Os Supremos Tribunais devem obedincia lei - parmetro de valorao -, pelo que se apreciassem a constitucionalidade das leis, esse juzo estaria sempre condicionado pelo dever de obedincia a tal. Pelo contrrio, admitindo a ideia de um tribunal que v a lei como mero objecto de valorao e que apenas deve obedincia Constituio, criam-se as condies para que a primazia devida s normas
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 7
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
constitucionais seja eficaz. A autonomia normativa das Constituies ganha plena efectividade com a autonomizao institucional dos Tribunais Constitucionais. Crticas ao Constitucionalismo de Kelsen: Desvaloriza princpios bsicos de justia, como a igualdade ou a proporcionalidade que devem valer juridicamente independentemente de qualquer consagrao normativa expressa No oferece quaisquer critrios para preencher as indeterminaes e para construir as normas normas que o sistema permita.
Segundo Zagrebelsky as leis, e entre elas a Constituio, podem muito, mas no podem tudo. Elas formam uma espcie de enorme construo, mas no mais slida do que um castelo de cartas, na medida em que o seu fundamento se encontre nelas, ou seja ao ler a Constituio, os tribunais e os restantes aplicadores do direito devero ter uma atitude crtica procurando o Direito constitucional para alm do texto constitucional: o Direito para alm do Direito. 4. O POSITIVISMO JUDICIRIO Formas de Positivismo Judicirio: Tradio dos sistemas de common law: tende a identificar o direito como corpo de precedentes dos tribunais, ou seja tende a identificar o direito com a regra do precedente. As formas mais extremas deste positivismo encontram-se no sistema ingls de precendente at 1996 e no sistema portugus dos chamados assentes at 1997, onde a regra do precedente no podia ser alterada nas decises futuras. Embora no tenhamos hoje nenhum sistema em que o precedente seja absolutamente vinculativo deve-se ter em considerao que ele tem na legislao e na prtica jurdica uma enorme importncia, sendo que hoje nos encontramos prximos do esprito tradicional da Common Law onde vigora a regra do precedente, O precedente tem implicaes processuais: a prvia existncia de um precedente relativo a determinado tipo de caso implica a possibilidade de uma deciso sumria ou liminar em conformidade com o precedente e fundamentada essencialmente com base numa remisso para tal precedente e pode ainda, a prvia existncia de um precedente abrir novas vias de recurso que de outro modo estariam vedadas. Na prtica judiciria vigora uma regra de inrcia: poder espear-se uma tendncia natural a manter aquilo que foi antes decidido.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 8
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
CRTICA: o precedente no vale por si e em si, mas sim pela presuno de justeza, ou seja de acerto ou correco. Assim, ele dever ser afastado quando se entenda que h razes justificativas suficientes para o fazer. Objectos do Precedente: De Distino (distinguishing): demonstrar que os factos so diversos, sob um ponto de vista essencial e que, portanto, a soluo jurdica do precedente no se justifica De Revogao (overruling): consiste em decidir de forma diversa o que foi decidido no precedente por se considerar que a soluo de direito do precedente no foi a mais acertada luz de uma correcta interpretao e aplicao das normas e princpios aplicveis.
Nos Hard Cases em regra no existe qualquer precedente sobre a matria. Normalmente as questes jurdicas que chegam aos tribunais superiores tm geralmente algum grau de complexidade e novidade.
Identifica o direito como a deciso hipottica dos tribunais Verso mais elaborada do positivismo judicirio a que define o direito como profecia. As profecias sobre o que os tribunais iro fazer, e nada de mais pretencioso, so o que eu entendo por Direito (Oliver Wendekk Holmes). O Direito surge como uma actividade profissional que tem o seu epicentro nos tribunais ( Quando estudamos direito, no estamos estudar um mistrio, mas sim uma profisso bem conhecida. Estamos a estudar aquilo que pensamos que ir convencer os juzes ou o modo como devemos aconselhar as pessoas de forma a mant-las longe dos tribunais) Definio Judicialista de Direito: a deciso dos tribunais ser a mais paradigmtica forma de resoluo de problemas jurdicos concretos; o Direito indissocivel da sua garantia intitucional ltima e os tribunais ao definirem o direito, no se limitam a reproduzir o que previamente se encontra na lei Crticas: i. Reduz a questo de direito (o que de direito) a uma mera questo de facto (o que iro os tribunais fazer). O direito tem uma dimenso de dever ser e no apenas de ser. Reduz o direito ao que os tribunais iro fazer, havendo certamente direito para alm dos tribunais.
ii.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 9
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
iii. No considera devidamente o problema do erro judicirio e a possibilidade de o tribunal no tomar a melhor deciso. Deixa para segundo plano aquilo que permite fundamentar a deciso, ou seja, as normas, as regras do precedente, os princpios de justia e as concepes tericas ou doutrinais que devero ser tidas em considerao no juzo judicial.
iv.
III A CONVOCAO DA RAZO PRTICA NO DOMNIO JURDICO 1. A JUSTIA E A EQUIDADE COMO IDEIAS DA FILOSOFIA GREGO-LATINA A filosofia de Aristteles tem origem no pensamento platnico, embora posteriormente se tenha autonomizado. Aristteles, tal como Plato, v nas ideias e nas virtudes ticas um limite aos mecanismos retricos prprios da democracia. Para Aristteles as Constituies seriam um conjunto de leis destinadas a regular a organizao poltica e deveriam sempre existir sempre trs poderes: o poder deliberativo, o executivo e o judicirio. Os tribunais deveriam decidir com justia, sendo esta o fim do gnero judicirio. A finalidade do Estado a felicidade geral que resulta do bem viver em conjunto, sendo o melhor regime aquele em que cada um encontra as condies para bem viver de acordo com o bem supremo da tica que a felicidade: a justia um fim especfico em relao ao bem supremo que a felicidade. Para Aristteles, a justia igualdade. igualdade segundo um termo de comparao: mrito, necessidade, antiguidade, etc. A igualdade poder operar de acordo uma razo aritmtica (justia cumutativa) ou geomtrica (justia distributiva). As leis poderiam ser particulares (a lei escrita pela qual se rege uma cidade) ou comuns (a lei no escrita sobre a qual deve haver um acordo unnime de todos). A lei, sendo geral e abstracta, poderia ser corrigida, no caso, em vista da justia do caso. A equidade seria a justia do caso concreto. Para Aristteles a equidade, apesar de ser direito, no um direito legal, mas sia a sua correco (...) uma forma superior de direito, o direito justo. Quando a lei se pronuncia de forma geral e, seguidamente, surge um caso particular a que essa regra geral no se adequa, justo, visto que o legislador, pronunciando-se de forma geral, no teve em vista este caso e o ignorou, suprir tal omisso, tal como o prprio legislador teria feito se tivesse o caso diante de si. Ou seja, a equidade permitiria corrigir a lei, suprindo as omisses do legislador. prprio da equidade olhar para a inteno do legislador; a lei no deve ser aplicada literalmente, mas segundo a justa proporo das coisas: se a lei fala em instrumento de ferro e uma pessoa no tem mais do que um anel no dedo, ela segundo a lei escrita culpada e comete um delito, mas segundo a verdade no o comete e isso a equidade. O Homem equitativo seria aquele que no exige intransigentemente os seus direitos, mas antes se satisfaz em receber uma parcela maior, apesar d eter a lei do seu lado.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 10
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Em suma: a equidade, para Aristteles, estava essencialmente dirigidade no aplicao da lei em situaes em que tal se justificasse (casos em que o cumprimento da lei traria mais maleficios do que vantagens e casos em que a inteno abstracta do legislador no devesse abranger, por determinadas razes, a situao concreta). Ccero afirmou pela primeira vez a importncia autnoma de Direito em relao s fontes de direito escrito (No no edicto do pretor, nem na lei das XII Tbuas mas a partir da intma filosofia que se descobre o direito). 2. AS BASES DA TEORIA DA LEI E DA JUSTIA NA FILOSOFIA CRIST MEDIEVAL Para Agostinho h trs tipos de leis: (i) a lei eterna; (ii) a lei natural; (iii) a lei temporal. necessrio proceder a dois parmetros de anlise: por um lado a lei temporal, e por outro lado, a lei eterna e natural, sendo que estas leis so parametros de justia e de legitimidade da lei temporal e encontram-se entre si numa relao que assenta em a lei eterna ser exterior e mais abrangente face lei natural. LEI ETERNA: Corresponde ao respeito pela ordem da criao, a ordem natural. Possui duas dimenses: Respeito pela criao em si mesma Respeito pela estrutura escalonada da criao (desde a Terra ao Cu; desde os diversos seres inanimados, passando pelos animais at ao homem e mulher que, dotados de alma, razo e vontade, seriam criados na sua essncia espiritual imagem de Deus).
Todos os seres da crio, que se articulam uma ordem esclaonada, possuem uma legalidade especfica, sendo o ncleo desta assenta na transcrio da lei eterna na alma humana, no corao e na conscincia humana. Para Agostinho, o ncleo da legalidade prpria do ser humano encontra-se na chamada regra de ouro, ou seja no PRINCPIO DO AMOR: faz ao prximo aquilo que gostarias que te fizessem a ti (no faas aos outros o que no gostarias que te fizessem a ti PRINCPIO DO RESPEITO). O mandamento do amor ao prximo estaria naturalmente inscrito no corao e na conscincia humana, de tal modo que s cumprindo-o, o homem e a mulher estariam em congruncia com a identidade do seu humano. Dimenses da Lei Natural: primeira vista, parece apenas contrafactual, pois a um nvel meramente emprico, para a cumprir, cada um ter frequentemente de fazer um esforo de negao de si mesmo, ou seja, dos seus desejos e vontades imediatos; Numa anlise mais profunda, ela revela-se ontologicamente necessria, visto que o cumprimento dessa relao com o outro corresponde plena realizao da antropologia profunda que radica no mais intimo da alma, da razo e da vontade humana.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 11
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
LEI TEMPORAL: Poder no ser aplicada se no for justa, sendo que para Agostinho a justia abrange um conjunto de princpios ticos elementares que se pudessem considerar como universais. Para ele, uma lei injusta no uma verdadeira lei, no tendo sequer fora de lei. Compreenso da Teoria da Lei de Agostinho de acordo com a Repblica Ideal: sendo que a Repblica Ideal surge em contraposio ao Imprio Romano que, na sua decadncia, no estaria ordenado segundo uma verdadeira justia, ela surge como um ideal por cumprir. A sua metfora seria o oitavo dia, ou seja o domingo, enquanto primeiro e ltimo dia da semana; esse dia o dia da ressureio de Cristo, o dia em que se sela a nova aliana. A Repblica Ideal (Civitas dei) o lugar de cumprimento da nova aliana, sendo o seu fim ltimo a paz. Para Agostinho o nosso corao est inquieto enquanto no repousa em ti, s em ti o nosso corao encontra a paz. No plano poltico,a paz uma paz exterior que se traduz na paz eterna que resultaria do pleno cumprimento da lei eterna e da lei natural, sendo simultaneamente, uma paz interior e exterior. A LEI ETERNA E A LEI NATURAL surgem a propsito do respeito pela ordem da criao e o amor solidrio para com o prximo. Tais princpios funcionariam como fonte de legitimao da lei temporal. A ideia de que o mandamento do amor permitiria superar por acrscimo a lei mosaica poderia significar que o direito no se poder bastar apenas com o poder das proibies e sanes, sendo que tambem se dever basear no poder das convices e da justia social. A paz apenas poder existir no plano poltico enquanto objectivo mundial, e no plano interior ter um alcance juridicamente delimitado que se traduz na promoo e respeito que poder ser considerada como a liberdade das liberdades, a liberdade religiosa no seio da conscincia. Para Toms de Aquino, o direito aparece como aquilo que justo e o julgador deveria lidar conjugadamente com as leis humanas e com a justia. Ele utiliza duas distines quanto lei: Fala por um lado, de lei eterna, natural e civil E por outro lado, da lei antiga e da nova A lei teria um significado simultaneamente ontolgico, moral e jurdico; a justia seria de entre as virtudes morais aquela que mais directamente se dirigia ao direito. O Princpio Supremo para Toms de Aquino assentava em fazer o bem e evitar o mal. Toms de Aquino v a justia como igualdade mas estabelece uma convergncia de contedo entre a justia e a lei natural e entre a justia e o bem comum. A igualdade poderia ser aritmtica (justia comutativa nas relaes entre iguais) ou geomtrica (justia distributiva). Introduz no conceito de justia o bem comum: a justia exigiria o bem comum, ou seja, que se fizessem o bem ao prximo, evitando o que lhe nocivo e que se buscasse o bem da comunidade.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 12
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Em S. Toms a justia aparece pela primeira vez como parmetro de validade da lei: a norma legal pode ser invlida por violao de uma norma ou princpio superior. A lei poderia ser injusta nos seguintes casos: i. ii. iii. Quando impusesse encargos que no eram necessrios para o bem comum Quando o legislador ultrapassasse os limites da sua autoridade Quando, apesar de servir o bem comum, repartisse os encargos de modo no proporcional.
As leis humanas s teriam fora na medida da justia, existindo sempre a ressalva quanto ao bem comum: as leis injustas poderiam ser seguidas apesar da sua injustia se tal fosse necessrio para evitar um mal maior 3. O DIREITO NATURAL MNIMO Para Hobbes existiam 20leis da natureza que seriam indisponveis ao poder. A hierarquia que existiam entre tais leis resultava da distino que Hobbes fazia entre as primeiras leis de todas as restantes: trata-se das leis de liberdade, justia e paz. O cerne est na garantia da liberdade. PRIMEIRA LEI DA NATUREZA: A paz deve ser preservada com o mximo esforo, sempre que tal seja possvel. Tal paz condio de possibilidade da liberdade, embora as liberdades especficas a que se refere (direito ao silncio ou o direito de resistncia) sejam liberdades mnimas e vocacionadas para a autodefesa. SEGUNDA LEI DA NATUREZA: Que cada um concorde, quando os outros tambm o faam, e na medida em que o considere necessrio para a paz e para a defesa de si prprio, em renunciar ao seu direito a todas as coisas, contendtando-se em relao aos outros com a mesma liberdade que aos outros permite em relao a si mesmo. Ou seja, obriga-se, at certo pessoas, as pessoas a abstrairem-se da sua situao e a colocarem-se no nvel de abstraco que as diversas liberdades conceptualmente possuem, reconhecendo aos outros o conjunto de liberdades de que no abdicam para si prrprias. Estas duas leis actuam sob condio de reciprocidade, sob o pressuposto de uma justia comutativa.
Para Hobbes, a paz, a liberdade e a justia so trs faces da mesma realidade e so os valores fundamentais do seu sistema. As restantes leis so mais especficas (cumprimento dos pactos, garantias processuais, direito de resistncia, etc.) Todas as leis da natureza reconduzem-se ao PRINCPIO DO AMOR. O esprito de todas as leis da natureza a equidade, e todas as leis civis devero ser interpretadas de acordo com aquela. O juiz poderia mesmo aplicar a lei natural em substituio da lei civil quando esta, mesmo depois de devidamente interpretada, no conduzisse a uma sentena razovel: nem mesmo os soberanos estariam isentos da obedincia s leis da natureza, uma vez que estas so leis divinas e no podem ser abolidas por nenhum Homem ou Comunidade.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 13
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
4. O HUMANISMO UNIVERSALISTA DE KANT Kant transforma a Filosofia do Direito numa Filosofia de Liberdade. Para ele, a autonomia da vontade conduz sua noo de Direito, ou seja c onjunto das condies sobre as quais o arbitro de uns pode coexistir com o arbtrio de todos os outros segundo leis universais de liberdade. Apesar de este conceito de Direito poder parecer apenas subjectivista ele possui uma dimenso objectiva quando se refere ao conjunto das condies e a leis universais de liberdade, ou seja evidente que o conjunto de condies inclui condies objectivas como a existncia de leis, do Estado ou dos Tribunais, dos quais depende a existncia efectiva do Direito; as leis universais no sero apenas decretos do poder, mas sim leis objectivas e racionalmente vlidas para todos; a liberdade no apenas a liberdade de agir segundo a vontade mas tambm a de agir segundo a lei moral. Note-se que Kant no admitia a validade das leis contrrias ao conceito de direito, entendido como a coexistncia de arbitros segundo leis universais de liberdade incluindo a primeira frmula do imperativo categrico, ou seja o imperativo da universalizao (Age de tal modo que a mxima da tua aco possa sempre ao mesmo tempo valer como lei universal) e a segunda frmula, ou seja a frmula do respeito pela humanidade (Age de tal modo que trates a humanidade, quer na tua pessoa quer na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca apenas como um meio). Kant idealizava uma Constituio que correspondesse a uma sociedade poltica de cidados independentes, livres e iguais, ou seja uma Constituio dominada pelo respeito dos Direitos do Homem. No seu Projecto para uma Paz Perptua Kant procurou as condies para uma paz mundial que seria a condio de realizao da liberdade. 5. A FILOSOFIA DOS VALORES DE RADBRUCH Para Radbrusch o homem no vive apenas no reino da natureza, absorvendo passivamente o mundo da experincia depurado de quaisquer valoraes: ele vive um mundo envolto em valores. So possveis duas atitudes bsicas do esprito: A no valorativa: prpria das cincias da natureza A valorativa: filosofia dos valores (moral e esttica). Atitudes intermdias entre as duas anteriores: A atitude que se refere a realidades e valores (metodologicamente prpria das cincias culturais (cincia jurdica) A atitude que supera os valores (atitude religiosa)
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 14
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
O Direito ( cincias naturais, tica, religio) implicariauma atitude de referncia a valores. Deste modo, no se poderia identificar com a atitude valorativamente neutra das cincias naturais (limita a decresver os dados da experincia sem os valorar), nem com a atitude puramente valorativa da moral e da esttica (tudo valora e encerra numa escala e valores) nem com a atitude religiosa de superao dos valores ( a religio a afirmao suprema do ser no seu todo; um risonho positvismo que afirma o seu sim e o seu amen em relao a todas as coisas, o amor sem referncia ao valor ou desvalor daquilo que amado, s espiritualidade para alm da felicidade ou infelicidade, graa para alm da culpa ou inocncia, paz acima de toda a razo e dos seus problemas). O Direito seria a realidade que serviria acima de tudo o valor da justia ( constante e perptua vontade de dar a cada um o que seu) , ou seja a justia significaria essencialmente a igualdade onde se inseria a ideia de (i) igualdade absoluta (justia comutativa); (ii) igualdade relativa (justia distributiva); (iii) equidade (justia no caso). Alm de servir a justia, o Direito ainda iria servir certos fins que se integram em trs categorias valorativas: INDIVIDUALISTA: daria prevalncia liberdade individual na vida em sociedade COLECTIVISTA: daria prevalncia aco colectiva e realizao dos fins do Estado CULTURAL: daria prevalncia aos valores comunitrios reunidos segundo uma mentalidade comum a todos os membros da sociedade. S as duas primeiras concepes seriam reais, uma vez que a terceira seria pensvel para o Estado Corporativo, mas s ilusoriamente, uma vez que um tal modelo de Estado consubstancia sempre uma forma de encobrir um sistema colectivista que empola os poderes estaduais, segundo a ideia de um Estado Forte. As duas primeiras concepes apenas tm expresso nos partidos polticos, formando os polos fundamentais dentro dos quais se moveria o espectro poltico em democracia pluripartidria. A opo por uma das concepes referidas corresponderia a opes poltivas expressas na legislao: momento de relativismo de Redbruch O momento de relativismo no seio da ideia de justia compensado por um terceiro elemento da ideia de direito: a segurana e a paz mundial. No se pode discutir tudo a todo o tempo; o direito estabiliza-se nas leis e outros fontes de direito. Anlise da Filosofia de Redbruch e Crtica: o autor na sua filosofia deixou de fora certos temas fundamentais (justia intergeracional e os direitos humanos e fundamentais), mas com ele recuperou-se a concepo clssica que liga a ideia de justia ao direito.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 15
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
6. O PENSAMENTO TPICO RETRICO Aps a Segunda Guerra Mundial ocorre o retorno do pensamento tpico retrico, que dominara o Direito de tradio romanstica outrora. A tpica parte da ideia de uma anterioridade dos casos ou problemas jurdicos sobre as normas ou o sistema de normas que os visam solucionar; as solues deveriam no apenas inserir-se no sistema vigente mas tambm ser tico socialmente aceitveis para as partes envolvidas e para o pblico esclarecido. O esquema de pensamento do jurista e o modo de fundamentao das solues de direito no seria silogistico, mas dialctico; no seguiria o modelo da lgica dedutiva, mas sim um modelo dialctico de argumentao. O jurista no faria silogismos mas resolveria problemas. Em primeiro lugar, o jurista deveria identificar a questo a resolver depois teria de ponderar todos os argumentos a favor e o argumentos contra cada uma das solues possveis por fim, escolheria a soluo que, aps a discusso, tivesse a seu favor maior nmero de argumentos. O jurista no se limitaria a plicar dedutivamente leis, mas recorreria a uma srie potencialmente ilimitada de argumento tpicos ou lugares comuns (tpicos). A aplicao do direito seria mais do que uma operao lgico formal porqu? O jurista recorria a diversos argumentos de ordem quase lgica que suporiam sempre uma discusso em torno da sua viabilidade uma vez que no se baseariam em premissas necessrias O jurista recorria a valores (justia, igualdade, segurana, equidade), invocaria fins ou interesses sob formas ou com intenes muito diversos e convocaria adgios tradicionais mesmo que no tivessem traduo legal.
Os valores e a nova retrica: h uma distino entre o discurso sobre o real, que aspira verdade, e o discurso sobre os valores que no tem garantida uma verdade prvia, assentando numa ideia de pluralismo de valores. O Pluralismo de Valores implica a impossibilidade de estabelecer uma hierarquia previamente definida entre eles e a necessidade de argumentar em torno desses valores, e da sua realizao, de forma a persuadir da existncia ou prevalncia de um determinado valor num dado contexto. Em matria de valores, s a educao e a persuaso permitem a sua plena realizao (transmisso criana, atravs dos pais e professores, dos sentimentos de respeito, de amor e de admirao que permite que os valores se realizem por si, sem a exclusividade dos meios volteis do pau e da cenoura, do medo e da recompensa). A argumentao deve consistir numa teia interligada de diferentes argumentos que mutuamente se reforam, dando uma consistncia ao discurso que seja capaz de ultrapassar as barreiras dos argumentos contrapostos.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 16
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
IV RECONSTRUO METODOLGICA DO DIREITO 1. A CRISE DO PENSAMENTO JURDICO DE RAIZ LEGISLATIVA O pensamento jurdico de raiz legislativa caracteriza-se por centrar a descoberta do direito numa interpretao cannica das normas oficialmente aprovadas. Caso existissem outros mtodos, o jurista deveria, em nome da certeza e da segurana jurdica, evitar recorrer a eles: os parmetros da sua actuao seriam as normas em sentido tcnico, dotadas de previso e estatutio. A primordial e tendencialmente exclusiva fonte de direito seria a lei do Estado soberano ou um outro tipo de texto normativo de cariz anologo, oficialmente aprovado por uma entidade competente. Embora pudessem ser interpretados e conter omisses ou lacunas seriam potencialmente completos. O texto devidamente interpretado, directa ou indirectamente, daria resposta a todas as questes de direito. Embora se admisse o costume enquanto fonte de direito, a sua aplicao acarretava inmeras dificuldades ao definir aquela convico de obrigatoriedade jurdica que lhe d vigncia. No se exclui directamente a possibilidade de a jurisprudncia ser considerada fonte de direito, mas a s-lo seria uma fonte mediata. O texto poderia ser interpretado segundo quatro elementos de interpretao, mas sempre subordinado ao seu teor literal: (1) literal; (2) sistemtico; (3) histrico; ($) teleolgico. Se no fosse possvel resolver o caso por interpretao, teria se de recorrer integrao de lacunas. Contudo, nem sempre facil distinguir interpretao de integrao: No caso das clusulas gerais a sua concretizao no em rigor uma mera interpretao da norma, havendo quem entenda que se trata de integrao Casos em que a aplicao de um princpio (boa f, igualdade, etc.) se apresenta de forma to evidente que permite afastar uma soluo legal expressa: no h interpretao de uma norma nem uma lacuna mas sim a prevalncia de um princpio.
Vendo as lacunas como um acontecimento excepcional na vida do direito, a doutrina no se preocupou em encontrar os decisivos princpios e critrios de integrao das mesmas, limitando-se a renrer para o plano da lei ou para uma norma hipottica formulada dentro do esprito do sistema. Se remetesse directamente para os princpios normativos o problema das lacunas ter-se-ia dissolvido como um falso problema, uma vez que s seria possvel encontrar lacunas se estivessem j disponveis as referencias translegais que permitissem determinar a relevncia dos factos no considerados pela lei. O legalismo distinguia entre o Direito e a justia e a moralidade: a lei do Estado soberano deveria ser, em qualquer circunstncia obedecida; a injustia ou a imoralidade eram irrelevantes. A mais infame lei teria fora de Direito desde que fosse aprovada pelos rgos competentes e segundo os processos constitucionalmente admitidos.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 17
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Se a lei regularmente editada pelo poder poltico fosse clara nem os tribunais poderiam discutir a sua justia ou moralidade. Isto era errado: mesmo onde a lei clara possvel recusar a sua aplicao com fundamento na justia ou imoralidade, nomeadamente nos casos em que ocorre a invocaao de lacunas ocultas quer ainda por estar instituido um sistema de fiscalizao da constitucionalidade. A Administrao Pblica apenas obedecia lei, pelo que todos os vcios do acto administrativo reconduziam-se ilegalidade: a injustia,a desproporcionalidade ou arbitrariedade dos actos administrativos no seriam mais do que ilegalidades. O Direito da Unio Europeia e o Direito Internacional adquirem uma importncia crescente: a jurisprudncia dos tribunais comunitrios e dos tribunais internacionais no se restringe hermenutica dos textos dos trados, decidindo segundo princpios gerais de direito. Quanto aos Direitos Fundamentais, estes so os direitos que prevalecem sobre a lei e no a lei sobre os direitos: so os direitos que, no mbito da sua fora e alcance definem a validade da lei. No possvel interpretar e aplicar as proposies que consagram direitos fundamentais apenas segundo os tradicionais elementos de interpretao que foram pensados para as normas legais: O elemento literal de pouco serve face a direitos consagrados como princpios abertos com uma enorme amplitude semntica O elemento teleolgico pouco ajuda no caso destes direitos que no tm uma teleologia definida, pois so eles prprios tendencialmente fins em si mesmo O elemento sistemtico no resolve todos os problemas e , ele proprio, fonte de problemas, pois surgem conflitos de normas os princpios sem que o texto fornea regras de prevalncia que nos permitam dizer a priori a sua soluo O elemento histrico pode dar alguma ajuda, mas no muita, pois os textos sobre direitos fundamentais tm um caracter marcadamente normativo e portanto prospectivo: so orientado para o futuro e a histria s limitadamente nos diz o que o futuro deve ser.
2. A DIFERENA ENTRE A LEI E O DIREITO O legalismo entrou em crise com os movimentos sociais do sculo XIX, mas foi com os regimes totalitrios da segunda parte do sculo XX, que ele pedeu definitivamente a sua inocncia. Tornou-se insustentvel a ideia de que o Direito lei. A falncia do legalismo consumou-se na Alemanha quando o mundo assistiu impotente aprovao das leis de Nuremberga. No final da Segunda Grande Guerra, Redbruch afirmava H, portanto, princpios do Direito que so mais fortes do que qualquer regulamentao escrita, de tal modo que uma lei que os contrarie no tem validade. Os princpios adquiriram o estatuto de fontes autnomas de validade do Direito (art. 38 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justia).
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 18
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Os Tribunais Constitucionais e Administrativos mais activistas comearam a desenvolver uma nova ideia de Estado de Direito, reconhecendo que estariam a implicitos princpios jurdicos fundamentais com um alcance independente da letra da Constituio. A partir de final dos anos 60, foi-se consolidando a ideia de que o Tribunal de Justia das Comunidades no decide apenas segundo quadro normativo traado pelos Tratados, mas tambm segundo princpios gerais de direito que decorrem da tradio jurdica comum dos Estados Membros, incluindo-se aqui a tradio formada em torno da ideia de Estado de Direito e os direitos fundamentais. Segundo Bobbio Enquanto o reconhecimento dos princpios gerais, como fonte de direito internacional, contribuiu fortemente para pr em crise a concepo positivista do direito, que parecia ter-se tornado, no incio do sculo, predominante, o reconhecimento dos princpios gerais em sectores como o da justia constitucional e o da justia administrativa (...) conseguiu pr em particular relevo uma funo prtica dos princpios gerais que parecia at ento marginal e excepcional, e que tinha sido em grande parte negligenciada pela doutrina civilistica. O desafio no momento ser procurar saber qual o papel que os princpios mais universais do direito e os princpios normativos que luz dele se vo formando devero, enquanto parmetro de validade axiolgica-normativa ou tico jurdica, cumprir na descoberta das novas solues que o Direito ir exigir. DIREITO vs LEI: a lei situa-se num plano emprico; o Direito num plano transcendental. Mas a funao do Direito assenta em abrir a lei enquanto realidade emprica s dimenses da razo prtica, conciliar a realidade do Ser expresso na linguagem da lei com as exigncias do dever que consubstanciam o Direito. Deve-se manter a dialctica do Ser e do Dever. Enquanto que a palavra lei se refere a uma realidade emprica, a palavra Direito exprime uma abertura ao dever. Se entendermos como leis todas as disposies genricas provindas dos rgos estaduais competentes e o Direito como ideia (conjunto de princpios fundamentais de justia), nesse caso o Direito e a lei sero realidades distintas. Falar no Direito enquanto ideia significa discutir os direitos humanos ou fundamentais e os princpios gerais ou fundamentais do direito. Discute-se o fundamental. Perguntar pelo Direito enquanto ideia colocar as questes da justia, da correco prtica do direito. 3. A COMPLEXIDADE DO PROCESSO DE REALIZAO DO DIREITO Quando se fala na complexidade do processo de realizao do direito deve atenderse ao art. 8, 9 e 10 CC. Art. 8/2 CC O dever de obedincia lei no pode ser afastado sob pretexto de ser injusto ou imoral o contedo do preceito legislativo Exclui a possibilidade de no aplicar a lei com base em concepes morais abrangentes no sentido de Rawls, mas no poder excluir uma dimenso tica do direito e a justia (elemento transcendetal do direito).
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 19
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
No pode excluir trs possibilidades de deciso contra legem, mas secundum ius, tendo em vista a justia quais so essas situaes? Situaes de Abuso de Direito: no se aplica uma norma que consagra um direito/liberdade pelo facto do exerccio de tal conduzir em concreto a uma situao de injustia Situao de No Aplicao por Inconstitucionalidade das leis, sendo a Constituio composta por normas e por princpios de justia Situao de Lacuna Oculta: a integrar atravs da formulao de uma excepo normativa de acordo com o critrio do juiz legislador nos termos previstos para a integrao de lacunas, ou seja segundo o esprito do sistema, ou seja da justia que transcendetalmente constitui o direito.
Art. 9/1 CC A interpretao no deve cingir-se letra da lei, mas reconstituir a partir dos textos o pensamento legislativo, tendo sobretudo em conta a unidade do sistema jurdico, as circunstncias em que a lei foi elaborada e as condies especficas do tempo em que aplicada A consagrao dos quatro clssicos elementos de interpretao tm de ser compreendidos com oobjectivismo interpretativo: onde surge tal objectivismo interpretativo? pensamento legislativo: sendo verbalmente pensamento da lei na autonomia normativa pode em certa medida contraporse a pensamento do legislador condies especficas do tempo: em que a lei aplicada (em comparao com aquelas em que a lei surgiu) e que devem ser tidas em considerao segundo as matrizes do actualismo interpretativo
Ideia de unidade do sistema jurdico: remisso para os princpios jurdicos fundamentais Art. 9/3 CC Na fixao do sentido e alcance da lei, o interprete presumir que o legislador consagrou as solues mais acertadas (presuno1) e soube exprimir o seu pensamento em termos adequados (presuno2): existem duas presunes inilidiveis, sendo que a primeira mais importante do que a segunda A primeira presuno esbate as fronteiras entre as solues de iure condendo e de iure condito: ele dever escolher as solues mais acertadas em termos de justia.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 20
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
A segunda presuno no tem praticamente relevo visto que caso no seja possvel obter a soluo mais acertada em termos de justia por concretizao do preceito legislativo, o interprete recorrer analogia e ao critrio do juiz legislador no quadro do esprito do sistema.
Art. 10/1 CC Os casos que a lei no preveja so reguladas segundo a norma aplicvel aos casos anlogos
Importncia da aplicao analgica das normas legais: exprime metodologicamente uma exigncia bsica de racionalidade que a coerncia e um elementar princpio de justia (Princpio da Igualdade). exagerado defender, tal como Baptista Machado, que ela a espinha dorsal do discorrer jurdico pois isso conduziria a transpor para o plano metodolgico uma posio semelhante Dworkin, que v na igualdade a virtude soberana do Direito como integridade. H diversos outros princpios que fazem parte da ideia de direito (dignidade humana, direitos fundamentais, proporcionalidade, etc.) os quais no podem ser reconduziveis igualdade e que no entanto devero ser vistos como parte da ideia de Direito como integridade. O critrio hipottico do interprete legislador (art. 1 do CC Suio) aproxima-se da Teoria da Norma do Caso: este critrio dever valer sempre que por concretizao ou analogia no seja possvel chegar a uma soluo justa luz dos princpios jurdicos aplicveis. Art. 10/3 CC Na falta de caso anlogo, a situao resolvida segun do a norma que o prprio interprete criaria, se houvesse de legislar dentro do esprito do sistema
Para Manuel de Andrade O juiz no encontra a soluo aprontada no sistema, mas h-de obt-la dentro dele. Pe a norma que julgue melhor, mas sempre no pressuposto de serem boas as que esto na lei. Completa o sistema legal onde se mostra que o legislador o deixou por acabar. Isto implica a ideia de que tem de manter-se o estilo do sistema, a sua traa geral, a sua fisionomia tpica. como se no vosso maravilhoso prottipo da Glria faltasse uma figura que o excelso lavrante tivesse deixado por esculpir. Se houvesse que completar a obra, teria de seguir-se o estilo das restantes figuras, tal como o faria Mestre Mateo. Numa palavra e aplicando el cuento, h que integrar a lei como provavelmente o teria feito o prprio legislador. Esta posio criticada por Jos Hermano Saraiva em vez da imagem do prtipo podemos pensar na necessidade trazida pelos novos tempos, de uma instalao electrica no interior da catedral, domus Dei e como tal presena perene. Com o passar do tempo, o Direito tornou-se, na sua realizao, mais concreto e casustico mas tambm mais universal e ideal. Mais Casustico e Concreto: cada vez mais os ordenamentos jurdicos so vistos como sistemas ou conjuntos de normas do caso em que a analogia e os precedentes judiciais adquirem uma importncia acrescida
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 21
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Mais Universal e Ideal: verifica-se uma crescente constitucionalizao e internacionalizao do Direito; valores e princpios que transcendem o plano da positividade legal remetem-nos para o dominio da transpositividade jurdica e dos prprios princpios nucleares do Direito
No processo de realizao do direito existe um continuum metodolgico: vai desde a interpretao, passando pela aplicao analgica e pelo desenvolvimento judicial do direito at apreciao da validade dos actos e normas jurdicas. Estas operaes no tm barreiras estanques entre si, pois a letra da lei apenas indcio das solues jurdicas e s limite onde vigore um princpio garantstico de legalidade. H uma legalidade continua no processo de descoberta do Direito. O mais relevante contudo a viragem para um modelo de princpios em preterio de um modelo de regras. Modelo de Princpios: No se trata apenas do reconhecimento de que existem princpios no sistema jurdico que devem ser considerados, trata-se antes do reconhecimento de que h prncipios no escritos ou que tm uma dimenso no escrita. Afirma-se que os princpios possuem um especial peso e uma fora irradiante que lhes permite colocar a uma nova luz o sistema vigente seja infundindo nas normas por interpretao a fora da ideia que os constitui, seja prevalecendo sobre essas normas a ponto de determinarem a sua no aplicao. 4. NORMAS, PRINCPIOS E DECISES PRINCPIOS JURDICOS: ideias ou proposies que se caracterizam por no tipificarem os pressupostos da sua prpria aplicao e por possuirem uma pretenso tica ou axiolgica de justia ou correco, que tm devido a tal uma fora irradiante ou expansiva que permite obter novas solues de direito. Podem ter uma consagrao mais ou menos ampla, no direito escrito, sendo possvel falar em princpios escritos ou no. Mas na verdade todos os princpios so, pelo menos em parte, no escritos: mesmo quando um determinado princpio tem apoio expresso num texto legal ou constitucional, esse texto no esgota o alcance do princpio. Relao dos Princpios com as Fontes de Direito formalmente vinculantes: PRINCPIOS NUCLEARES DO DIREITO: valem independentemente de qualquer consagrao positiva por corresponderem directamente s exigncias da justia num dado tempo PRINCPIOS JURDICOS TRANSPOSITIVOS: resultam dum processo de deduo a partir dos princpios da ideia de direito e de induo a partir de preceitos constantes das fontes de direito positivo PRINCPIOS JURDICOS POSITIVOS: esto de forma mais ou menos imediata expressamente consagrados nas fontes de direito
NORMAS: tipificam os pressupostos e efeitos da sua aplicao e no exprimem de forma imediata uma ideia fundamental de justia. NORMAS CONSTANTES DAS FONTES DE DIREITO: correspondem ao texto legal ou de qualquer outra fonte de direito
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 22
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
NORMAS DO CASO (normas que o intrprete criaria se houvesse de legislar dentro do esprito do sistema):obtm-se por concretizao, analogia ou abduo, em vista da multiplicidade de circunstncias tpicas que se verificam no caso, e tendo em considerao as diferentes normas contidas nas fontes de direito conjugadas com os elementos de interpretao e integrao de tais fontes.
JUZO JURDICO CONCRETO: o resultado obtido por aplicao das normas ou princpios a determinado objecto jurdico. SENTIDO AMPLO: corresponde a qualquer acto ou deciso tomados no mbito de um processo ou procedimento decisrio SENTIDO RESTRITO: ser apenas a deciso final que resulta de um determinado procedimento ou processo jurdico
5. ANLISE DE ALGUMAS DAS OPERAES MEDOTOLGICAS DE BASE Operaes de realizao do Direito i. ii. iii. iv. Concretizao Analogia A no aplicao Construo
A INTERPRETAO E CONCRETIZAO DAS NORMAS JURDICAS: As normas so meios/instrumentos para a resoluo de casos. A interpretao da norma visa (i) definir o sentido da proposio legal; (ii) tendo por fim a resoluo de um caso. Normalmente a estatuio da norma mais certa no seu contedo comparando com a previso, pelo que as dificuldades normalmente ocorrem quanto a esta. Ou seja, a interpretao de uma norma um processo metdico ou argumentativo que visa determinar se essa norma se aplica a um especfico caso ou tipo de caso, ou se, verificada a previso, a norma produz ou no uma certa consequncia jurdica. A INTERPRETAO SEGUNDO OS QUATRO CLSSICOS CANNES DE INTERPRETAO (Origem Savigny). Note-se que hoje considera-se que estes elementos so insuficientes (nem sempre convergem no mesmo resultado; impossibilidade de entre eles se estabelecer uma relao de hierarquia). O esquema clssico destes elementos mantm validade e cada um dos elementos interpretativos utilizado (isoladamente ou de forma articulada) pelos tribunais como se interpretam as normas jurdicas? De acordo com a sua letra (elemento literal) De acordo com os seus fins (elemento teleolgico) De acordo com as circunstncias em que foram elaboradas e aquelas em que se aplicam (elemento histrico) De acordo com a sua insero sistemtica em conjunto de normas e princpios mais ou menos amplos (elemento sistemtico)
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 23
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
A INTERPRETAO CONFORME AOS PRINCPIOS: consiste no alargamento ou na reduo do mbito de um conceito da norma em vista de determinados princpios constitucionais ou no.
A APLICAO ANALGICA DE NORMAS JURDICAS: A analogia consiste em decidir casos semelhantes com a mesma regulamentao. O CRCULO DE SEMELHANA JURDICA: A analogia exige a determinao de semelhanas, semelhanas prticas e normativas. Trata-se de saber se os factos so semelhantes em vista dos interesses jurdicos a proteger. A PONDERAO DE BENS OU INTERESSES: Como vimos as situaes nunca so absolutamente semelhantes do ponto de vista fsico, naturalistico ou formal. Por vezes pode ocorrer, no obstante a semelhana global da situao, uma diferena que se poderia considerar significativa do ponto de vista formal. Em tais casos pode ser decisiva uma ponderao de interesses para a aplicao analgica da norma. APLICAO ANALGICA CONFORME AOS PRINCPIOS: Ser possvel que em nome da fora normativa do princpio da imparcialidade, uma norma que estabelece incompatibilidade para rgos da Administrao possa aplicar-se tambm aos agentes? A analogia justifica-se por fora do princpio (da imparcialidade). O princpio o termo decisivo de equiparao entre os dois casos que so, na sua configurao tpica, diferentes: o do rgo da Administrao e o do agente administrativo
NO APLICAO DE NORMAS JURDICAS REDUO TELEOLGICA EM FUNO DO FIM DA PRPRIA NORMA: O exemplo clssico o negcio consigo mesmo o 181 do BGB considera invlido este tipo de negcios. O fim da norma a proteco do representante em vista duma possvel coliso de interesses. Ora, no caso de um negcio no trazer, por sua natureza, desvantagem para esse mesmo representado (doao a seu favor por exemplo) deixa de fazer sentido a invalidade do negcio. Ela no dever aplicar-se s hipoteses de doao a favor do representado NO APLICAO DE UMA NORMA POR FORA DA PREVALNCIA DE UM PRINCPIO GERAL DE DIREITO: Por exemplo, a igualdade entre os scios pode constituir um obstculo ao normal exerccio do direito legal de reinvindicao de um prdio includo no patrimnio de uma sociedade por quotas. O direito dos inquilinos que est expressamente previsto na lei, a pedir obras de conservao do prdio arrendado poder ser impedido pelo princpio do equilibrio contratual nos casos em que o valor anual das rendas seja legalmente fixado e seja tambm desproporcionalmente baixo em relao ao valor total da obra a realizar. Devendo haver uma relao sinalagmtica entre as prestaes, e no sendo o seu contedo verdadeiro produto da autonomia privada, seria desproporcional, injusto, exigir o cumprimento de um dever que no tem qualquer contrapartida economicamente equivalente na contraprestao.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 24
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
NO APLICAO DE UMA NORMA POR FORA DA PREVALNCIA DE UM PRINCPIO CONSTITUCIONAL: As disposies constitucionais sobre os direitos e a justia so princpios em relao s normas da legislao ordinria. Contudo, h princpios que, total ou parcialmente, no o so. Exemplo: princpio da proporcionalidade (o texto constitucional apenas alude a tal parcialmente; princpio da proteco da confiana e do contraditrio que a CRP nem sequer refere).
A CONSTRUO DOUTRINAL DE NOVOS PRINCPIOS E FIGURAS JURDICAS: Para uma melhor aplicao do direito, a doutrina e a jurisprudncia constroem figuras que possibilitam uma melhor aplicao da lei ou da Constituio: TEORIA DAS TRS ESFERAS: meio auxiliar de aplicao do direito reserva da vida privada CONSTRUO DO CONFLITO DE DEVERES, DO ESTADO DE NECESSIDADE SUPRALEGAL OU DA PROSSECUO DE INTERESSES LEGTIMOS ENQUANTO CAUSAS DE JUSTIFICAO EM DIREITO PENAL CRIAO DO VCIO DE DESVIO DE PODER CRIAO DA FIGURA DO ABUSO DE DIREITO V A IDEIA DE DIREITO E OS PRINCPIOS MAIS UNIVERSAIS DO DIREITO Kant e Hegel desenvolveram o idealismo jurdico, que coloca no centro da reflexo filosfica a ideia de direito possuindo esta trs dimenses: A Justia Formal (e a noo ampla de igualdade como equilbrio) A Adequao Prtica (e a adequao axiolgica ou tico-social do direito) A Segurana ou Paz Jurdica
A Ideia de Direito converge com a justia enquanto expresso da axiologia suprema das sociedades polticas. A primeira exigncia da justia assenta em dar a cada um o que seu e o Princpio da Dignidade da Pessoa Humana exige que se d a cada um o que seu por fora da sua dignidade. A Justia exige que seja dado a cada um e sociedade em geral um espao de segurana onde seja possvel a liberdade. PRINCPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: este princpio, que consta das Constituies e das Declaraes de Direito, exige que se reconhea o especial valor das pessoas enquanto pessoas, o seu caracter de bem ltimo e decisivo. Mais do que um valor, a pessoa o sujeito e o polo de referncia de todos os valores. KANT: Age de tal modo que trates a hum anidade, quer na tua pessoa quer na pessoa de qualquer outro, sempre simultaneamente como um fim e nunca apenas como um meio FOUCALT: pede que se abdique de tentar definir o Homem uma vez que o vazio dessa definio no constitui uma falta; no prescreve uma lacuna a preencher. Ele no nem mais, nem menos, do que a desocupao de um espao onde seja de novo possvel voltar a pensar.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 25
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
DWORKIN: exige uma actuao do poder poltico pautada pela preocupao e pelo respeito, o poder poltico tem que tratar aqueles que governa com preocupao, isto , como seres humanos susceptiveis de sofrimento e frustrao, e com respeito, isto , como seres humanos que so capazes de idealizar e agir na base de concepes inteligentes sobre o modo como as suas vidas deveriam ser vividas. KRIELE: remontando o princpio da dignidade ao Cristianismo afirma No h afirmao mais enftica da ideia de dignidade humana do que a das doutrinas: 1. Deus criou o Homem sua imagem e semelhana. 2. Ele o Pai que espera, com amor, o retorno dos seus Filhos. 3. O seu Filho unignico, nascido antes de todos os tempos incarnou como Homem.
PRINCPIO DO CONTROLO CRITICO DO PODER: Todo o poder sobre as pessoas tem de ser limitado; o poder tem de estar limitado pelo poder; o poder deve estar, na medida do possvel e do necessrio, racionalmente limitado de forma institucional e processual. A separao de poderes, a participao poltica e o equilbrio institucional so elementos fundamentais do Direito. As normas e decises devero resultar de processos participados e equitativos que potenciem a sua justia e correco. O processo no garante em absoluto a validade dos resultados, mas dever dar garantias razoveis desse resultado. Exige-se uma tica do discurso ao nvel da prpria comunidade poltica. A tica material no pode abdicar da tica do discurso e de uma atitude racionalmente crtica. Deste modo, a razo jurdica at certo ponto uma razo procedimental e crtica e a tica jurdica em certa medida uma tica de discurso. Segundo Harbermas impossvel excluir que novas informaes ou melhores razes se produzam. Se assim for o contedo do Direito dever poder ser revisto na dinmica dos seus processos. O Direito no retira o seu sentido normativa apenas por fora da sua forma, nem por fora de um contedo moral dado a priori, mas atravs de um processo de criao do direito, que gera a legitimidade. De facto, embora possa ser uma afirmao redutora, a verdade que o poder tem de ser fundar na comunicao e nos direitos e liberdades de participao da comunidade pblica. No se pode negligenciar a dimenso processual do Direito: o procesos no garante a justia e correco dos resultados, mas promove-a ou potencia-a. Ele condio de justia e correco das solues substantivas, pelo que todo o poder estar fundado na comuniao e por ela ser limitado. Segundo Rawls em geral admitimos que uma discusso conduzida idealmente entre um grupo de pessoas tem maiores probabilidade de atingir uma concluso correcta (se necessrio atraves de votao) do que as anlises isoladas de cada um dos participantes (...) No quotidiano, a troca de opinies com outros controla a nossa parcialidade e alarga as nossas perspectivas, somos obrigados a ver a realidade atravs do ponto de vista dos outros (...) Mas no processo ideal, a presena do vu da ignorncia significa que os legisladores so partida imparciais. Os benefcios da discusso residem no facto de que mesmo os legisladores representativos tm conhecimentos e capacidades de racicionio limitados. (...) A discusso uma forma de combinar informao e de alargar o alcance dos conhecimentos. A conquista dos contedos das norma e decises deve fazer-se atravs de um mtodo racional e crtico.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 26
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
Segundo Karl Popper, que se baseia na ideia de que impossvel antever, por antecipao, todos os pormenores do futuro, Em todas as matrias, apenas podemos aprender por tentativas e erros, ou seja, cometendo erros e fazendo aperfeioamentos (...) antes de esperar que, devido falta de experincia, sejam cometidos muitos erros, ultrapassveis apenas atravs de um longo e laborioso processo de pequenos ajustamentos. Em suma, no poder deve estar fundado na comunicao. Nos processos jurdicos, no se trata apenas de procurar verdades eternas, mas antes de encontrar as melhores solues para determinados problemas prticos. Tais solues devem ser submetidas discusso: elas devem poder ser criticadas, testadas e postas prova por meio da participao efectiva na discusso de todos aqueles a quem as decises dizem respeito. PRINCPIO DA IGUALDADE: O que igual debe ser tratado de forma igual e o que diferente deve ser tratado de forma diferente na medida da diferena. Este princpio nada sem a referncia a bens e situaes concretas que justificam a sua aplicao. Trata-se de uma igualdade complexa que tem em considerao os diferentes bens sociais e as diferentes esferas em que opera a justia. Os princpios igualitrios apesar de serem dominantes em relao aos outros tambm so secundrios: o seu papel seria fundamentalmente o de apoiar e controlar a aplicao de outros princpios, segundo WALZER. O Princpio da Igualdade tem de ser entendido como igualdade perante o direito e no apenas perante a lei. A Igualdade implica a proibio das discriminaes arbitrrias. Quando directamente relacionado com o Princpio da Dignidade Humana, este princpio uma afirmao categrica e abrangente do igual valor de todas as pessoas enquanto seres em relao e implica uma proibio de no discriminao das pessoas em vista de determinadas caracteristicas (raa, sexo, condio econmico social, etc.) as diferenciaes fundadas apenas num destes motivos devero ser consideradas arbitrrias. Alm de exigir que as pessoas sejam tratadas sem discriminaes, a igualdade exige ainda que o sistema no faa diferenciaes arbitrrias ou desproporcionadas entre situaes semelhantes. Exige que o sistema seja congruente e que as diferenciaes sejam materialmente justificadas: quem defenda, num determinado contexto, um determinado efeito jurdico para uma determinada situao deve estar disposto a aplicar o mesmo efeito a todas as situaes semelhantes sob todos os aspectos relevantes que surjam num contexto anlogo. A igualdade tambem uma igualdade de oportunidades e igualdade de acesso a bens essenciais: o direito deve ter em conta que algumas pessoas tm mais fcil acesso a determinados bens do que outras. O princpio funciona assim como princpio de no privao de direitos, como princpio de no excluso. A igualdade prescreve o igual direito de acesso ou aproveitamento de bens bsicos essenciais. Esta igualdade de acesso a bens essenciais pode implicar uma srie de medidas de diferenciao (de justia distributiva) e pode em certas situaes determinar uma discriminao positiva, em especial, quando se trate de defender as pessoas com mais dificuldades de livre acesso ou aproveitamento de bens primrios (deficientes, pessoas de idade, criana, etc.). Obviamente esta igualdade dever ter em conta a escassez de recursos e a possibilidade de os cidados poderem ter preferncias pessoais e escolherem entre formas diversas de acesso a esses bens essenciais. Uma sociedade s trata verdadeiramente de forma igual os seus cidados se para alm de ser solidria no que respeita possibilidade de acesso a bens essenciais, respeitar e promover a autonomia e a liberdade pessoal e institucional dos cidados e da sociedade.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 27
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
PRINCPIO DA PROPORCIONALIDADE: O justo portanto o proporcionado e o injusto aquilo que no respeita a proporo . Um acto do poder desproporcional quando os prejuzos que cause sejam desnecessrios ou excessivos face aos benefcios a auferir. Este princpio remete para uma ideia de ponderao de bens que se poder fazer inclusivamente na imanncia de uma nica norma jurdica. As consequncias jurdicas devem ser proporcionadas aos pressupostos, ou seja, exige-se uma ponderao de bens. O exerccio dos poderes pblicos e o exerccio de direitos no dever ser desproporcional: isso inadequado, desnecessrio ou excessivamente lesivo. Este princpio implica uma ideia geral de justa medida que se desdobra numa proibio do que , em concreto, desnecessrio ou excessivo. Segundo Engisch para os juristas a distino entre valor e bem importante, pois a ponderao de bens que lhes to frequentemente exigida nunca um simples confronto de valores abstractos. A tica dos valores propunha-se superar o formalismo Kantiano, introduzindo uma dimenso material do raciocinio tico. Essa tica no adequada: (1) na medida em que se abdique da dimenso transcendental da filosofia kantiana, ela deixa de parte uma dimenso importante do pensamento tico; (2) ela no verdadeiramente material. A filosofia dos valores s material npor referncia ao formalismo kantiano. Na verdade, a filosofia dos valores apresenta os valores como seres ideiais semelhana das ideias platnicas. Os valores seriam qualidades das coisas ou estados de coisas mas teriam uma realidade independente do suporte material e dos estados de coisas em quessas qualidades se manifestariam. A experincia humana uma experincia dos fenmenos e no apenas uma experincia da idealidade do ser. Ou seja, o que se pondera so bens jurdicos colocados num determinado contexto social e pessoal. Esses bens jurdicos tm pois de ser ponderados em concreto tendo em conta toda a heterognea fenomenologia dos factos, toda a complexidade relacional da realidade humana. A dificuldade que muitas vezes ocorre no juizo de ponderao assenta na competncia ou na legitimidade jurdica para o fazer. PRINCPIO DA COMPENSAO DE DANOS: a ideia de que o dano de bens na titularidade das pessoas deve ser evitado foi sempre, em toda a tradio juridica ocidental apontado, como um dos primeiros preceitos do direito. A ideia de que os danos devem ser compensados, independentemente da previso normativa expressa, sempre que algum que no o titular dos bens lesados se possa considerar responsvel por fora de um qualquer ttulo de imputao tem origem no jusracionalismo. PRINCPIO DA EXCLUSO DE BENEFCIOS OU DESVANTAGENS INJUSTIFICADAS: o direito deve evitar desvantagens e benefcios injustificados mesmo que no esteja a em causa um dano em sentido prprio. Os proprios canones da aplicao racional das normas jurdicas devem ser vistos como critrios que procuram a excluso de situaes de desvantagem ou de benefcio sem justificao. Este princpio exige que os beneficios de um bem sejam auferidos por quem titular desse bem e que os custos sejam suportados por quem titular do bem. Relaciona-se com o princpio de que no legitimo que algum tire proveito do seu proprio facto ilicito.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 28
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
SEGURANA EM FACE DA CONTIGNCIA: a segurana um valor de especial relevncia, correspondendo a uma necessidade antropolgica fundamental. Sendo que todo o Direito se constitui em vista do Homem, a segurana um valor imanente ideia de Direito. O Direito tem de cumprir uma funo social de reduo da complexidade e da contingncia e desse modo dar segurana. O Direito deve pois dar segurana, reduzindo a complexidade e estabilizando expectativas. Tradicionalmente a Filosofia do Direito reconhece duas dimenses ao Princpio da Segurana Jurdica: Segurana do Direito (certeza jurdica) Segurana atravs do Direito (segurana efectiva)
Deste modo, possvel distinguir trs tipos de segurana: Segurana atraves das normas Segurana atraves da congruncia da actuao dos sujeitos jurdicos Segurana efectiva dos bens e interesses das pessoas e comunidades A funo de estabilizao das expectativas exige normatividade e, deste modo, uma certa indiferena em face das contingncias do futuro. O Direito deve definir com o possvel rigor a moldura dos comportamentos de forma a gerar confiana e reduzir os custos inerentes incerteza, incluindo os custos para a liberdade. Para isso dever definir normas claras que tornem previsvel a aplicao do direito. A segurana consegue-se atrves da consagrao de normas rgidas que consubstanciam expectativas de comportamento contrafactmente estabilizadas: no basta estabilizar expectativas face aos fins atravs da mera definio de valores directivos, necessrio definir ou tipificar, com alguma preciso, os comportamentos, de modo a estbilizar expectativas. A segurana consegue-se por meios congruentes com a ideia de que o direito no pode apenas ser constitudo por normas fixas, mas tambm por decises de contedo indeterminado. A certeza jurdica sempre flexvel: exige-se principios amplos de proteco da confiana e de estabilizao de expectativas. A segurana realiza-se atraves de expectativas de congruncia da actuao prtica dos poderes pblicos e dos sujeitos juridicos. A segurana implica a proteco efectiva de bens jurdicos. Sendo o Direito uma ordem de paz e proteco, ele deve dar tutela efectiva aos bens pessoais, patrimoniais ou pblicos que pretende garantir e s pessoas que visa servir: o Direito contm um imperativo de justia protectiva, ou seja de proteco efectiva dos direitos das pessoas e dos direitos humanos e fundamentais. CARACTER INSTRUMENTAL DA SEGURANA JURDICA: A segurana sempre segurana de algo, ou seja as regras e os princpios que visam dar segurana no se justificam absolutamente por si mesmas: elas valem em vista dos bens e liberdades que esto concretamente em causa e das exigncias de justia que se exprimem. A segurana no um fim em si mesmo: est subordinada a todos os princpios de justia, de controlo crtico do poder e de dignidade das pessoas.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 29
FILOSOFIA DO DIREITO - APONTAMENTOS FDUCP
EXCURSO BREVSSIMA NOTA SOBRE O PAPEL DOS ACTUAIS JURISTAS NO EXERCCIO DA SUA PROFISSO O jurista tem a misso de realizar o Direito, sendo que este no um dado, mas o resultado de processos de realizao. Qualquer jurista tem por profisso dizer o direito, e este est sempre em parte por dizer. Embora seja pertinente a ideia de que o Direito se refere a valores, a verdade que estes no comportam em si nem as circunstncias em que se realizam nem a regulamentao juridicamente adequada sua proteco. As normas no so mais do que meios ao servio da justa e adequada realizao concreta do direito no caso concreto. O jurista dever assumir-se como cultor de um direito segundo princpios, ou seja dever convocar: i. Os princpios mais universais do direito, que constituem o cerne ou o ncleo da ideia de Direito Os princpios normativos de justia que doutrinal e jurisprudencialmente se formam, seja por inspirao do sistema de normas, da tradio jurdica, da realidade tpica dos factos ou do direito internacional e comparados Os princpios de proteco de bens objectivos, que esto subjacentes aos direitos e liberdades fundamentais
ii.
iii.
O jurista dever faz-lo na interpretao das normas e na sua aplicao analgica, tal como na resoluo de conflitos de normas. O jurista no dever esquecer que esses princpios juridicos podem legitimar a no aplicao da norma expressa. Para ser operante esta convocao forte das ideias e princpios primariamente constituintes do Direito tal dever ser integrada por uma srie de mediaes: Em primeiro lugar, os princpios actuam em conjugao com a dogmtica jurdica: a dogmtica d consistncia aos princpios na sua aplicao prtica fornecendo critrios e requisitos necessrios a essa sua aplicao. Em segundo lugar, necessria uma cultura do precedente e do direito judicial, ao modo dos sistemas de common law, que permita ir reduzindo a complexidade na aplicao dos princpios, de caso para caso, e que faa de cada deciso como que uma pea de um grande edifcio em constante aperfeioamento.
Maria Lusa Lobo 2012/2013
Page 30
Você também pode gostar
- Positivismo jurídico e não positivismo jurídico: concepções teóricas e distinções práticasNo EverandPositivismo jurídico e não positivismo jurídico: concepções teóricas e distinções práticasAinda não há avaliações
- Princípios Fundamentais de Direito Civil: uso inadequado da terminologiaNo EverandPrincípios Fundamentais de Direito Civil: uso inadequado da terminologiaAinda não há avaliações
- As Decisões Contrárias às Leis na Teoria Robert AlexyNo EverandAs Decisões Contrárias às Leis na Teoria Robert AlexyAinda não há avaliações
- DIREITO DAS OBRIGAÇÕES: Tudo o que você precisa saberNo EverandDIREITO DAS OBRIGAÇÕES: Tudo o que você precisa saberAinda não há avaliações
- Direito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoNo EverandDireito Civil. Direito das Obrigações: enriquecimento Sem Causa e Lucro da IntervençãoAinda não há avaliações
- Exame Obrigações & Correcção (Dia)Documento3 páginasExame Obrigações & Correcção (Dia)losrios100% (6)
- Sebenta de Filosofia de Direito e Metodologia JuridicaDocumento104 páginasSebenta de Filosofia de Direito e Metodologia JuridicaMário100% (4)
- Direitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.No EverandDireitos Fundamentais: Introdução Geral - 2ª ed.Ainda não há avaliações
- Casos Praticos Direito Das ObrigacoesDocumento16 páginasCasos Praticos Direito Das ObrigacoesTatiana RodriguesAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Direito Civil - Caso1Documento4 páginasTeoria Geral Do Direito Civil - Caso1ricardomtj100% (2)
- Casos Práticos TGDCDocumento22 páginasCasos Práticos TGDCmatos1984100% (6)
- Direitos FundamentaisDocumento8 páginasDireitos FundamentaisCláudiaAraújo100% (1)
- Aulas de Direitos Reais Corrigidas Pela DR Mónica JardimDocumento71 páginasAulas de Direitos Reais Corrigidas Pela DR Mónica Jardimrmcsousa100% (1)
- TDC Teste 2Documento10 páginasTDC Teste 2ricardomtjAinda não há avaliações
- Resumos Livro Jorge MirandaDocumento58 páginasResumos Livro Jorge MirandaManuel Goncalves100% (3)
- Casos Praticos Resolvidos Direito Das ObrigacoesDocumento14 páginasCasos Praticos Resolvidos Direito Das ObrigacoesNelson Fernando100% (1)
- Casos Práticos Resolvidos de Direito Das ObrigaçõesDocumento15 páginasCasos Práticos Resolvidos de Direito Das ObrigaçõesBernardo Costa Jr.100% (1)
- Casos Práticos de Teoria Geral Do Direito Civil Ii - PL - Diogo BártoloDocumento4 páginasCasos Práticos de Teoria Geral Do Direito Civil Ii - PL - Diogo BártoloEsdras J. Reis67% (3)
- Direito Das Obrigações IIDocumento174 páginasDireito Das Obrigações IILara Geraldes83% (6)
- Introdução Ao Direito - 2º Semestre - ResumoDocumento14 páginasIntrodução Ao Direito - 2º Semestre - Resumoapi-3840713100% (10)
- Resolução Casos TGDCDocumento2 páginasResolução Casos TGDCElias TancredoAinda não há avaliações
- Casos Práticos Obrigações - Parte 2Documento7 páginasCasos Práticos Obrigações - Parte 2ALEA_JACTA_ESTAinda não há avaliações
- Exame Obrigações & Correcção (Noite)Documento4 páginasExame Obrigações & Correcção (Noite)losrios80% (5)
- Direito Penal I - Maria Fernanda Palma e Figueiredo DiasDocumento92 páginasDireito Penal I - Maria Fernanda Palma e Figueiredo Dias大象城堡100% (16)
- Processo Civil IDocumento41 páginasProcesso Civil ILara Geraldes90% (21)
- Dto Proc Civil III Casos Praticos ResolvidosDocumento47 páginasDto Proc Civil III Casos Praticos Resolvidoscarolina100% (1)
- Casos PráticosDocumento13 páginasCasos PráticosapatlimAinda não há avaliações
- Esquemado DireitodassucessäesDocumento7 páginasEsquemado Direitodassucessäesdimfdl100% (2)
- Apontamentos TGDC IIDocumento27 páginasApontamentos TGDC IIkattviAinda não há avaliações
- Casos Práticos de TGDC Ii Sobre Vícios e Cláusulas Do Negócio Jurídico - 2021Documento10 páginasCasos Práticos de TGDC Ii Sobre Vícios e Cláusulas Do Negócio Jurídico - 2021Tiago Oliveira de CarvalhoAinda não há avaliações
- Direito Das ObrigaçõesDocumento131 páginasDireito Das ObrigaçõesMónica BorgesAinda não há avaliações
- Sucessoes Casos Praticos Resolvidos !!!Documento33 páginasSucessoes Casos Praticos Resolvidos !!!blooberry100% (8)
- Casos Práticos de Teoria Geral Do Direito CivilDocumento2 páginasCasos Práticos de Teoria Geral Do Direito CivilThomas_22100% (2)
- Caso Pratico No 25 ResolvidoDocumento6 páginasCaso Pratico No 25 ResolvidoPatricia Segurado100% (2)
- Casos Penal PDFDocumento153 páginasCasos Penal PDFFilipe RochaAinda não há avaliações
- Processual Penal TesteDocumento10 páginasProcessual Penal TesteNeves LeiteAinda não há avaliações
- Direito Da FamíliaDocumento47 páginasDireito Da Famíliaapi-3840713100% (2)
- Casos Práticos Direito Das Obrigações - Parte IDocumento2 páginasCasos Práticos Direito Das Obrigações - Parte IALEA_JACTA_EST100% (2)
- Estudos a Propósito da Responsabilidade ObjetivaNo EverandEstudos a Propósito da Responsabilidade ObjetivaAinda não há avaliações
- Sebenta Teoria Geral Do Direito Civil IIDocumento40 páginasSebenta Teoria Geral Do Direito Civil IISamuel Marques100% (3)
- Casos Práticos TGDC Ii (01-10)Documento7 páginasCasos Práticos TGDC Ii (01-10)Joana Baranita0% (1)
- Restrições de Direitos FundamentaisDocumento22 páginasRestrições de Direitos FundamentaisPaloma MatiasAinda não há avaliações
- Casos Praticos Fundamentos Direito Publico Armando RochaDocumento13 páginasCasos Praticos Fundamentos Direito Publico Armando RochaRebecca AlexandraAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito PenalDocumento96 páginasApontamentos de Direito PenalFilipa Neves Silva100% (2)
- Direitos Reais - Aulas TeóricasDocumento56 páginasDireitos Reais - Aulas TeóricasMaria Luísa Lobo100% (3)
- Casos+PráDocumento8 páginasCasos+Prákarllaedudu6713Ainda não há avaliações
- Autodeterminação Sucessória - Por Testamento ou Contrato?No EverandAutodeterminação Sucessória - Por Testamento ou Contrato?Ainda não há avaliações
- Teoria Geral Direito CivilDocumento55 páginasTeoria Geral Direito CivilJoana Moreira100% (1)
- Direito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão Legítima e LegitimáriaDocumento38 páginasDireito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão Legítima e LegitimáriaMaria Luísa Lobo100% (9)
- Apontamentos de Introdução Ao Estudo Do DireitoDocumento47 páginasApontamentos de Introdução Ao Estudo Do DireitoULHT88% (17)
- Casos Praticos Resolvidos Direito Das ObrigacoesDocumento13 páginasCasos Praticos Resolvidos Direito Das ObrigacoesLylian RosaAinda não há avaliações
- Direitos humanos e direitos fundamentais: debates contemporâneosNo EverandDireitos humanos e direitos fundamentais: debates contemporâneosAinda não há avaliações
- O princípio da segurança jurídica e o processo administrativoNo EverandO princípio da segurança jurídica e o processo administrativoAinda não há avaliações
- Responsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeNo EverandResponsabilidade Civil Extracontratual: Nos Perspetivas em matéria de Nexo de CausalidadeAinda não há avaliações
- Mestrado Forense Processo Penal - Casos PráticosDocumento18 páginasMestrado Forense Processo Penal - Casos PráticosMaria Luísa LoboAinda não há avaliações
- Contratos Civis Mestrado Forense PDFDocumento200 páginasContratos Civis Mestrado Forense PDFMaria Luísa Lobo100% (4)
- Contratos Civis Mestrado Forense PDFDocumento200 páginasContratos Civis Mestrado Forense PDFMaria Luísa Lobo100% (4)
- Apontamentos de DIPxDocumento96 páginasApontamentos de DIPxMaria Luísa Lobo100% (6)
- Processo TributárioxDocumento126 páginasProcesso TributárioxMaria Luísa Lobo100% (1)
- Mestrado Forense Processo Penal - TeóricasDocumento25 páginasMestrado Forense Processo Penal - TeóricasMaria Luísa Lobo100% (1)
- Processo Penal - Casos PráticosDocumento87 páginasProcesso Penal - Casos PráticosMaria Luísa Lobo93% (41)
- Processo Civil - Aulas TeóricasDocumento103 páginasProcesso Civil - Aulas TeóricasMaria Luísa Lobo100% (1)
- Processo Penal - Aulas TeóricasDocumento67 páginasProcesso Penal - Aulas TeóricasMaria Luísa Lobo60% (5)
- Sociedades Comerciais - Casos PráticosDocumento81 páginasSociedades Comerciais - Casos PráticosMaria Luísa Lobo92% (25)
- Direito Internacional Privado - Aulas Teórico PráticasDocumento106 páginasDireito Internacional Privado - Aulas Teórico PráticasMaria Luísa Lobo91% (11)
- Direito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão Legítima e LegitimáriaDocumento38 páginasDireito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão Legítima e LegitimáriaMaria Luísa Lobo100% (9)
- Processo Civil - Casos PráticosDocumento121 páginasProcesso Civil - Casos PráticosMaria Luísa Lobo83% (12)
- Contencioso Administrativo - Aulas Teórico PráticasDocumento107 páginasContencioso Administrativo - Aulas Teórico PráticasMaria Luísa Lobo94% (17)
- Teoria Geral Do Crime e Da Pena - ApontamentosDocumento118 páginasTeoria Geral Do Crime e Da Pena - ApontamentosMaria Luísa Lobo83% (12)
- Direito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão em GeralDocumento101 páginasDireito Das Sucessões - Apontamentos Sobre A Sucessão em GeralMaria Luísa Lobo97% (33)
- Contratos Civis - ApontamentosDocumento66 páginasContratos Civis - ApontamentosMaria Luísa Lobo100% (5)
- Direito Da Família - ApontamentosDocumento103 páginasDireito Da Família - ApontamentosMaria Luísa Lobo95% (19)
- Direito Comercial - Casos PráticosDocumento37 páginasDireito Comercial - Casos PráticosMaria Luísa Lobo94% (31)
- Direito Comercial - Apontamentos Sobre Os Contratos ComerciaisDocumento55 páginasDireito Comercial - Apontamentos Sobre Os Contratos ComerciaisMaria Luísa Lobo88% (16)
- Contratos Civis - Aulas TeóricasDocumento73 páginasContratos Civis - Aulas TeóricasMaria Luísa Lobo100% (1)
- Direito Do Trabalho - Apontamentos Sobre A Dinâmica Do Contrato de TrabalhoDocumento24 páginasDireito Do Trabalho - Apontamentos Sobre A Dinâmica Do Contrato de TrabalhoMaria Luísa LoboAinda não há avaliações
- Direito Da Família - (Alguns) Casos PráticosDocumento36 páginasDireito Da Família - (Alguns) Casos PráticosMaria Luísa Lobo100% (1)
- Direito Do Trabalho - Apontamentos Sobre A Extinção Do Contrato de TrabalhoDocumento49 páginasDireito Do Trabalho - Apontamentos Sobre A Extinção Do Contrato de TrabalhoMaria Luísa Lobo100% (5)
- Direito Fiscal - Apontamentos de Direito Fiscal InternacionalDocumento5 páginasDireito Fiscal - Apontamentos de Direito Fiscal InternacionalMaria Luísa LoboAinda não há avaliações
- Contencioso Administrativo - Casos PráticosDocumento21 páginasContencioso Administrativo - Casos PráticosMaria Luísa Lobo100% (16)
- Direito Fiscal - Casos Práticos (Impostos, Taxas, Retroactividade..)Documento14 páginasDireito Fiscal - Casos Práticos (Impostos, Taxas, Retroactividade..)Maria Luísa Lobo100% (7)
- Direito Fiscal - Apontamentos de IVADocumento8 páginasDireito Fiscal - Apontamentos de IVAMaria Luísa Lobo100% (2)
- Direito Fiscal - Apontamentos Sobre o Princípio Da Segurança JurídicaDocumento4 páginasDireito Fiscal - Apontamentos Sobre o Princípio Da Segurança JurídicaMaria Luísa Lobo0% (1)
- Direito Fiscal - Apontamentos de IRSDocumento22 páginasDireito Fiscal - Apontamentos de IRSMaria Luísa Lobo100% (3)
- Manual Do Processo Administrativo PrevidenciarioDocumento62 páginasManual Do Processo Administrativo PrevidenciarioRicardodbkAinda não há avaliações
- Guia Sobre A LBI Digital Lei 13146.2015 DeficienciaDocumento59 páginasGuia Sobre A LBI Digital Lei 13146.2015 DeficienciacpcarreiroAinda não há avaliações
- Embargos de TerceiroDocumento15 páginasEmbargos de TerceiroAndré WandscheerAinda não há avaliações
- Descomissionamento MarcoRegulatorioDocumento22 páginasDescomissionamento MarcoRegulatorioLenin ValerioAinda não há avaliações
- Modulos Educacional Conteudo 01015 Paginas DireitosHumanos CompletoDocumento96 páginasModulos Educacional Conteudo 01015 Paginas DireitosHumanos CompletoR Souza Reinaldo100% (1)
- Xii ExameDocumento10 páginasXii ExameAline KunsAinda não há avaliações
- A Mídia, A Gentrificação e Os TrabalhadoresDocumento5 páginasA Mídia, A Gentrificação e Os TrabalhadoresEric FenelonAinda não há avaliações
- DMPF Administrativo 2014 02 06 - 026Documento28 páginasDMPF Administrativo 2014 02 06 - 026PauloAinda não há avaliações
- Parecer Familia - Guarda de Caes Animais - DivorcioDocumento10 páginasParecer Familia - Guarda de Caes Animais - DivorcioMaria Alexsandra R. BezerraAinda não há avaliações
- Dissertação Silvio Cesar Gomes CardosoDocumento123 páginasDissertação Silvio Cesar Gomes CardosoJoão Batista Farias JuniorAinda não há avaliações
- Dizer o Direito Apropriação Indébita Previdenciária - 10 de 2013Documento13 páginasDizer o Direito Apropriação Indébita Previdenciária - 10 de 2013thiagoglpfAinda não há avaliações
- Edital Mapa Esaf N 48 2017.odtDocumento16 páginasEdital Mapa Esaf N 48 2017.odtMarcelo OlecramAinda não há avaliações
- F ATD 002 34 Requerimento para Licenciamento AmbientalDocumento2 páginasF ATD 002 34 Requerimento para Licenciamento AmbientalLeko CruzAinda não há avaliações
- Decreto - 46 - 2004 Sisa PDFDocumento8 páginasDecreto - 46 - 2004 Sisa PDFSimiao FeniasAinda não há avaliações
- Parecer Do MP Na Apelação em Segundo Grau Do Caso NeshDocumento5 páginasParecer Do MP Na Apelação em Segundo Grau Do Caso NeshRubens OficialAinda não há avaliações
- Ediario 20170620194735Documento17 páginasEdiario 20170620194735Robson RamosAinda não há avaliações
- A Antropologia e A LeiDocumento3 páginasA Antropologia e A LeiamujacyphysisAinda não há avaliações
- Módulo 10Documento29 páginasMódulo 10Ana Garcez100% (1)
- Tabela de Honorários para Laudos TécnicosDocumento41 páginasTabela de Honorários para Laudos TécnicosJosé Fernando BenevidesAinda não há avaliações
- Caderno de Estudos - (CURSO:Competências Básicas)Documento106 páginasCaderno de Estudos - (CURSO:Competências Básicas)LEOSYLVA100% (2)
- ESTATUTO ELO SOCIAL Estatuto - Cesb PDFDocumento14 páginasESTATUTO ELO SOCIAL Estatuto - Cesb PDFmuriloaguiarAinda não há avaliações
- Acao Civil Ex DelictoDocumento36 páginasAcao Civil Ex DelictoDaniel Freixieiro SampaioAinda não há avaliações
- Retrovenda (Estudar) PDFDocumento10 páginasRetrovenda (Estudar) PDFJeane FernandesAinda não há avaliações
- Trabalho de Duplicata MercantilDocumento20 páginasTrabalho de Duplicata MercantilSilvana Rocha CiriacoAinda não há avaliações
- Apresentação Lei Orgânica CanguçuDocumento190 páginasApresentação Lei Orgânica CanguçuRodrigo Fonseca100% (1)
- Regimento Interno Camara Municipal de MaceioDocumento97 páginasRegimento Interno Camara Municipal de MaceioAdolpho Albuquerque0% (1)
- Violência X LutasDocumento64 páginasViolência X LutasSindiplam Sindicato dos Profissionais em Lutas, Artes Marciais e Defesa PessoalAinda não há avaliações
- As Políticas Sociais No Contexto Brasileiro - (Texto Principal) PDFDocumento37 páginasAs Políticas Sociais No Contexto Brasileiro - (Texto Principal) PDFCaio MatosAinda não há avaliações
- Regimento Interno TCE RSDocumento39 páginasRegimento Interno TCE RSCrizCalixtoAinda não há avaliações