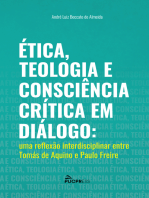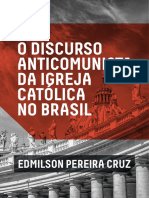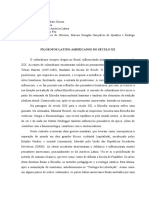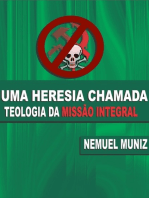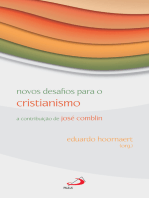Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Martinho Condini
Enviado por
Noemia Dos Santos Silva0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
35 visualizações19 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
35 visualizações19 páginasMartinho Condini
Enviado por
Noemia Dos Santos SilvaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 19
1
DOM HLDER E A PEDAGOGIA DA ESPERANA
1
Martinho Condini
Mestre em Cincias da Religio PUC-SP
Doutorando em Educao: Currculo - PUC-SP
Professor de Histria na FITO e de Histria da Educao na FAC-FITO
condini@bn.com.br
Resumo: Neste artigo no vou abordar o trabalho de Dom Hlder na educao formal, mas
sim como seu modelo de esperana se transformou numa prtica pedaggica. Isso porque
religiosos brasileiros e latino-americanos, principalmente, tiveram-no como um cone da
Igreja na segunda metade do sculo XX, sendo que a partir dos anos 1950 passaram a atuar
baseados no seu pensamento e prtica.
Abstract: In this article I want tackle Dom Helders work in formal education but in Its
model of hopefuness that turned into a pedagogical still. Thats because the Brazilian clergy
and mainzy the Latin American clergy saw him as an Icon of the church in the second half of
the 20
th
century. His ideal and beliefs stanted to be falowed by the society in the beggining of
1950.
Desde o incio de sua vida religiosa, como padre no Cear e depois como bispo-
auxiliar e arcebispo no Rio de Janeiro, at o arcebispado em Olinda e Recife, Dom Hlder
sempre exerceu influncia sobre aqueles que estiveram ao seu lado. O seu carisma e a sua
liderana, natos em sua personalidade, estiveram sempre presentes em sua trajetria de vida.
A sua liderana, na maioria das vezes, foi exercida de maneira democrtica, sem
nenhum tipo de autoritarismo. Um legado deixado por ele foi a valorizao que deu aos
grupos, s comunidades: pensava sempre no coletivo, achava que era dessa maneira que a
sociedade iria atingir as transformaes por ela almejadas.
No comeo de sua vida religiosa no Cear passou a integrar a Ao Integralista
Brasileira AIB (19321937), movimento que defendia a criao de um Estado nacional
corporativo, catlico, anti-liberal, anti-burgus, anti-norte-americano, anti-sovitico e anti-
comunista. A AIB tinha os seus princpios poltico-ideolgicos baseados no totalitarismo, no
autoritarismo e na opresso, seguia como exemplos os regimes totalitrios da Europa, o
salazarismo portugus, o franquismo espanhol, o fascismo italiano e o nazi-fascismo alemo.
1
O artigo faz parte de um dos captulos da dissertao de mestrado Dom Hlder Cmara: Modelo
de Esperana na Caminhada para a Paz e a Justia Social, defendida no Programa de Cincias
da Religio na PUC-SP em 2004.
2
A participao de Dom Hlder na AIB teve origem no tipo de formao doutrinria e
ideolgica recebida por ele durante o perodo em que foi seminarista em Fortaleza (1923-
1931). Ele sempre afirmou que o seminrio foi importante na sua formao de sacerdote, mas
reconhecia tambm que o seminrio no lhe deu uma viso social ajustada ao seu tempo. Com
isso, o integralismo na sua vida foi resultado de uma viso errnea que lhe foi transmitida no
seminrio. Assim afirmou Dom Hlder:
Eu sa do seminrio com uma convico clara: o mundo ia dividir-se cada vez mais
entre capitalismo e comunismo. Ento, a mim me parecia que dos males o menor. E
como o comunismo era apresentado como intrinsecamente mau, sendo materialista, e
o capitalismo, que podia ter seus defeitos, ao menos no era to perigoso assim, optei
pelo menos mau. Mas, hoje, quanto mais eu medito no capitalismo embora no tenha
nenhuma iluso quanto ao que seja a prtica do comunismo na Rssia e na China ,
mais reconheo que um sistema econmico, qualquer que seja o nome que venha ter
(porque hoje h capitalismos, importante acentuar o plural), que coloque o lucro
como preocupao dominante e s vezes at, pode-se dizer, como preocupao
exclusiva, este tambm um sistema intrinsecamente materialista, desumano.
1
Para um jovem sacerdote, como era o seu caso, o integralismo foi importante na
medida em que ele, saindo do seminrio cheio de sonhos e ideais, queria construir um mundo
melhor e mais justo para homens, mulheres e crianas. E como muitos jovens, ele foi atrado
pela fora da propaganda do anticomunismo da poca, e que ficou ainda mais intensa ps
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), no chamado perodo da Guerra Fria (1945-1989). Ele
relembra uma explicao sobre o comunismo quando seminarista:
Certa vez um lder catlico, homem muito sincero, foi fazer uma conferncia aos
seminaristas de Fortaleza, querendo transmitir-lhes um horror sagrado ao comunismo
e nos disse imagine que ingenuidade, coisa ridcula que nada se poderia esperar de
um regime que tem como smbolos a foice, usada pela morte para ceifar vidas, e o
martelo, smbolo da destruio.
2
Dom Hlder lamentou vrias vezes, ao lembrar que chegou a considerar comunista e
discordar das idias de um educador como Ansio Teixeira.
3
A sada de Dom Hlder da AIB esteve diretamente relacionada com o contexto
histrico e poltico daquele momento. Em novembro de 1937, o ento Presidente da
Repblica, Getlio Vargas, articulou e imps um golpe poltico, cujas conseqncias foram o
fechamento do congresso, o cancelamento das eleies presidenciais e a criao do Estado
1
Marcos de CASTRO, Dom Hlder: Misticismo e Santidade, p.58.
2
Ibid., p.59.
3
Ansio Spnola Teixeira (1900-1971), importante educador brasileiro do sculo XX, criador de uma
prtica pedaggica baseada nas idias do pedagogo Dewey, denominada Educao Progressiva. Foi
o autor intelectual do projeto da Universidade de Braslia, da qual foi o primeiro reitor.
3
Novo. A partir da temos a dissoluo da AIB, o que inviabilizou a militncia de Dom Hlder
no integralismo.
Neste momento, ele j percebia que as concepes autoritrias e conservadoras
daquele catolicismo, herdado do seminrio, estavam fora de lugar. Temos, a partir da, o
incio de sua converso democracia e a elaborao de um processo de construo de uma
Igreja com uma maior participao dos leigos e preocupada com as questes sociais. Alm
disso, a partir de ento, atravs de suas idias e ao, ele construiu o que vou chamar de uma
pedagogia da esperana.
Esta sua converso se deu a partir do contato do sacerdote com o pensamento do
filsofo francs Jacques Maritain, intermediado pelo socilogo e escritor Alceu Amoroso
Lima, ex-simpatizante do integralismo. Foi ele a pessoa que mais o influenciou em sua
mudana de pensamento.
Na leitura da obra Humanismo Integral, indicado pelo amigo Alceu, Dom Hlder
deixou-se influenciar pelas idias de Maritain, incentivado tambm pela condenao do Papa
Pio XI pelo nazismo e pelas dificuldades que a Igreja comeava a encontrar no
relacionamento com os fascistas na Itlia. Gabaglia descreve como o nazismo e o fascismo
foram vistos, no Brasil, na segunda metade da dcada de 1930:
A luta contra o Cristianismo tornara-se patente e odienta. Os compromissos da
Concordata no so mais respeitados. As atividades apostlicas do Clero e das
organizaes catlicas so acoimadas de polticas e ferreamente reprimidas [...] Contra
os desdobramentos aberrantes do nazismo, o Santo Padre no se cansa de protestar [...]
No Domingo da Paixo, 14 de maro de 1937, aps uma conferncia com os trs
cardeais alemes e os bispos de Berlim e Munique reunidos no quarto do Papa
enfermo, Pio XI lana a Encclica Mit bremender Sorge que condena a doutrina
racista [...] A indignao nazista mede-se pela violncia dos ataques jornalsticos
Igreja, pessoa do Papa e do seu Secretrio de Estado. No entanto, forma-se o Eixo
Roma-Berlim e o Santo Padre v com desolao a Itlia contaminada pelos fanatismos
doutrinrios de sua aliada. A 3 de maio de 1938, Hitler recebido triunfalmente em
Roma. A capital italiana em delrio enche-se de cruzes gamadas. Pio XI manda apagar
todas as luzes do Vaticano e retira-se para Castelgandolfo. Parece-lhe uma blasfmia
ver hasteadas, em Roma, naquela data litrgica de 2 de maio, as insgnias de uma
cruz inimiga da verdadeira Cruz.
4
Na obra Humanismo Integral, Maritain propunha que houvesse a reconciliao entre
o catolicismo e a democracia, e a total condenao dos regimes totalitrios tanto de
esquerda quanto de direita. nessa fonte que Dom Hlder comeou a beber seus primeiros
4
Laurita GABAGLIA, O Cardeal Leme, pp. 374-5.
4
goles de democracia e construir um conjunto de prticas que se tornaria um modelo
pedaggico nos anos 60 e 70.
Maritain defende uma nova vida crist para o mundo, em que predomine a
democracia e seja respeitado o pluralismo poltico e religioso. Tanto fiis como infiis
devem participar de um mesmo bem comum temporal, devendo ser preservada a
liberdade dos indivduos e dos grupos, pois, a seu ver, a sociedade no composta
somente de indivduos, mas das sociedades particulares por eles formadas, e uma
cidade pluralista reconhece a estas sociedades particulares uma autonomia to alta
quanto possvel.
5
Naquele momento, as idias de Maritain vo de encontro ao pensamento do
integralista Dom Hlder. Contudo, h um acentuado antagonismo entre as idias de Maritain e
o pensamento de Dom Hlder quando jovem, que escreveu no jornal O Nordeste, em 1934:
[...] uma vez organizado o Estado integral este no poder permitir que se formem fora
do seu crculo de ao quaisquer foras de ordem poltica, social ou econmica que o
possam ameaar. Nesta esfera da vida nacional, tudo deve ser controlado e orientado
pelo Estado integral.
6
Sem sombra de dvidas, podemos afirmar que seu encontro com o pensamento de
Maritain, atravs das obras Humanismo Integral e Cristianismo e Democracia, foi um divisor
de guas em sua vida. De maneira paulatina, ele incorporou em seu cotidiano as propostas de
Maritain baseadas num novo estilo de santidade, onde a fora, a agressividade e a coao
deram lugar penitncia, simplicidade e pobreza, criando, assim, uma nova ordem social
crist. Maritain, em sua obra Cristianismo e Democracia, diz que:
No se pode mudar vontade os nomes pelos quais geraes de homens sofreram e
esperaram. O problema no encontrar um nome novo para a democracia, e sim
descobrir sua verdadeira essncia e realiz-la. O problema passar da democracia
burguesa, ressecada por suas hipocrisias e pela falta de seiva evanglica, a uma
democracia inteiramente humana, da democracia falida democracia real.
7
No podemos deixar de salientar o momento histrico vivido por Dom Hlder nos
anos finais da Segunda Guerra Mundial. A derrota dos regimes totalitrios estava delineada e
os ares da democracia expandiam-se pelos quatro cantos do mundo. No Brasil, o Estado Novo
5
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.139.
6
Hlder CMARA, O Nordeste, apud Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES. Dom Hlder Cmara:
Entre o Poder e a Profecia, p.139.
7
Jacques MARITAIN, Cristianismo e Democracia, p.25.
5
sofreu as conseqncias do novo realinhamento das foras mundiais, sendo extinto ao final da
Segunda Guerra Mundial.
Nesse momento, Dom Hlder no mais compactua com as idias fascistas defendidas
pelo extinto integralismo de Plnio Salgado, perspicaz e dotado de uma fina sensibilidade,
percebe as transformaes polticas e ideolgicas que estavam acontecendo no Brasil e no
mundo. Ele tambm sofreu a influncia de grupos e movimentos em favor da democracia dos
direitos humanos, alm da sua empolgao com o pensamento de Maritain:
[...] a ao catlica deve encaminhar para a ao poltica e preparar a soluo dos
problemas sociais, na medida em que lhe pertence formar, no seio de suas
comunidades temporais respectivas, catlicos verdadeira e inteiramente instrudos da
doutrina comum da Igreja, em matria social, notadamente capazes de insuflar na vida
uma inspirao autenticamente crist.
8
Piletti e Praxedes apresentam trechos de um discurso de Dom Hlder em 1944, numa
cerimnia de formatura em que foi paraninfo, na Faculdade Catlica de Filosofia, onde ele
mostra a sua nova maneira de pensar:
[...] depois de avaliar que estava afastada a hiptese de uma vitria nazista sobre o
mundo e de que as democracias venceriam lado a lado com a Rssia Sovitica,
pedia que os cristos evitassem o farisasmo de julgar que ns burgueses
representamos a ordem social e a virtude, ao passo que os comunistas encarnam a
desordem, o desequilbrio e o desencantamento das foras do mal e completou: ns
tambm temos nossas falhas e nossos pecados [...] pois encobrimos injustias sociais
gritantes com esmolas generosas e espetaculares.
9
Na segunda metade dos anos 40, o Brasil passava por uma fase de transio poltica e
social, muitas pessoas saam do campo para trabalhar nas indstrias das grandes cidades. O
Partido Comunista Brasileiro ganhava fora poltica diante da classe trabalhadora urbana.
Esses fatores provocaram, de certa maneira, uma crise na Igreja Catlica, devido perda de
fiis em funo do xodo rural, com o agravante que nas grandes cidades o catolicismo tinha
que concorrer com outros credos: o protestantismo, o espiritismo e a umbanda. Com isso a
hierarquia da Igreja Catlica foi obrigada a analisar aquele momento e rever as suas prticas
se quisesse ainda manter a sua hegemonia como a principal religio do pas.
O processo de reorganizao da Igreja Catlica comeou a partir da Semana Nacional
de Ao Catlica, em 1946, organizada por Dom Hlder, bispo-auxiliar da cidade do Rio de
8
Jacques MARITAIN, Humanismo Integral, pp. 259-60.
9
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.158.
6
Janeiro. Mas isso se acentua aps o evento da II Semana Nacional de Ao Catlica realizada
em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1947, quando os bispos presentes convidaram-no a
assumir o cargo de vice-assistente nacional da Ao Catlica. Dom Jaime fez a nomeao de
Dom Hlder:
Atendendo s necessidades da Ao Catlica e as qualidades que ocorrem na pessoa
do Revmo. Monsenhor Cmara, havemos bem nome-lo Vice-Presidente Nacional da
Ao Catlica, visto que nessa nomeao, que ora tornamos pblica, esto de acordo
os Exmos. Revmos. membros da Comisso Episcopal da ACB. Rio de Janeiro, 20 de
setembro de 1947, Jaime, Cardeal Cmara. Presidente da Comisso Episcopal e
Presidente Nacional da ACB.
10
importante lembrar que a Ao Catlica Brasileira (ACB) foi um movimento
controlado pela hierarquia da Igreja e fundado pelo cardeal Leme em 1935, que tinha naquela
poca o objetivo de formar leigos para colaborar com a misso da Igreja: salvar as almas
pela cristianizao dos indivduos, da famlia e da sociedade, misso da poca de sua
fundao.
O objetivo principal da Semana Nacional de Ao Catlica foi reunir bispos,
sacerdotes e leigos a fim de discutirem os problemas que extrapolavam a dimenso das
dioceses, e serviu tambm para a se fazer a renovao, a reorganizao da coordenao do
apostolado dos leigos da Ao Catlica. Daquele momento em diante, Dom Hlder passou a
mostrar a sua capacidade de organizao, liderana e objetividade. Ele montou uma equipe
composta, principalmente, de mulheres j participantes da Ao Catlica que
voluntariamente se engajaram nos trabalhos dessa nova fase da Ao Catlica. A primeira
demonstrao de eficincia dessa equipe foi a elaborao da Revista do Assistente
Eclesistico, muito til para a articulao da Ao Catlica.
Nesta fase, a Ao Catlica sofreu uma intensa influncia das concepes do padre
belga Jose Cardjin, fundador da Juventude Operria Catlica (JOC) e criador da trilogia ver,
julgar e agir, pois, para ele, sendo o homem em grande parte fruto do meio, no h reforma
espiritual profunda dos indivduos sem concomitante reforma do meio em que vivem e
trabalham.
11
Essas concepes de Cardjin levou o padre Jos Tvora a fundar, na
Arquidiocese do Rio de Janeiro, a Juventude Operria Catlica (JOC).
10
Revista do Assistente Eclesistico, 1947, n.1, p.7. Esta revista foi criada por Dom Hlder em 1949
quando de sua ao como assistente geral da Ao Catlica no Rio de Janeiro.
11
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES. Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p. 165. Para
uma viso de conjunto da vida e obra de Jose Cardjin ver A. J. BIRK. Um Mundo a construir.
7
Atravs do processo de consolidao dessa nova postura da Ao Catlica, Dom
Hlder comeava a aparecer no cenrio nacional como uma figura de destaque na Igreja. Ele
defendia que o catolicismo tivesse uma maior responsabilidade social e no apenas se
preocupasse com as questes espirituais; mas, para isso, ele precisava e defendia uma maior
participao dos leigos, que deveriam atuar tambm no seu trabalho, na escola e nos seus
espaos sociais. Aqui ele j demonstra a sua preocupao na criao de uma ordem social
mais justa e voltada para o coletivo.
Na prpria hierarquia da Igreja, antigos militantes da Ao Catlica discordavam e
faziam severas crticas a essa nova proposta de se abrir mais espao para a participao dos
leigos na organizao das atividades sociais proposta pela Igreja.
As concepes de Maritain e Cardjin foram sendo assimiladas e incorporadas por Dom
Hlder nas atividades da Ao Catlica Brasileira de maneira que em pouco tempo suas idias
foram difundidas em vrias partes do Brasil. Para ele, era fundamental atingir as camadas
mais jovens da populao com essas novas idias, pois dessa maneira ele garantiria o
fortalecimento da Igreja que, naquele momento, enfrentava uma condio desfavorvel
devido presena de outras religies e ao crescimento do Partido Comunista do Brasil. Esse
processo de renovao da Ao Catlica culminou num encontro organizado por ele, que teve
o apoio da Comisso Episcopal da ACB: a IV Semana Nacional do Movimento, que ocorreu
na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1950, postulava uma reformulao estatutria da
Ao Catlica Brasileira. Por que Dom Hlder defendia uma reforma do estatuto da ACB?
Dentro da nova mentalidade criada a partir das suas idias para ACB, propunha-se a
criao de movimentos especficos para que pudesse haver a participao dos leigos e,
conseqentemente, um maior dinamismo do clero na busca de resoluo para os problemas
sociais que afligiam a sociedade brasileira, principalmente os mais necessitados. Laurita Raja
Gabaglia escreve sobre a nova estrutura da ACB:
Desapareceram as quatro organizaes fundamentais e foram substitudas pelas
chamadas estruturas, correspondentes s principais mentalidades ou meio nos quais
[...] se agrupam os homens modernos: os meios agrrio, operrio, burgus ou
independente e estudantil ou intelectual. Essas estruturas formaram a Ao Catlica
Especializada, e da Ao Catlica em geral passaram a fazer parte todas as associaes
catlicas de piedade e apostolado.
12
12
Laurita R. GABAGLIA, O Cardeal Leme, apud Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara e a
Educao Popular no Brasil, p.79
8
Como resultado dessa reestruturao e reformulao da Ao Catlica temos a criao
dos grupos especficos nos quais os leigos passaram a atuar na Juventude Operria Catlica
que j existia e incorporou-se a ACB , e as demais a Juventude Estudantil Catlica (JEC),
Juventude Universitria Catlica (JUC), Juventude Agrria Catlica (JAC) e a Juventude
Independente Catlica (JIC). E, em segundo lugar, a consolidao da ACB como um modelo
de prtica democrtica na Igreja e nos grupos especficos de atuao, que tinham como
objetivo construir uma sociedade mais justa, fraterna e humana.
Com essa nova organizao da Ao Catlica, Dom Hlder demonstrou a sua
capacidade de fazer mudanas inovadoras e dar um rumo misso da Igreja, alm de vir no
apostolado dos leigos algo positivo para o fortalecimento da Igreja como tambm a
possibilidade de realizar trabalhos mais efetivos direcionados s questes sociais.
A intensa atuao de Dom Hlder na Ao Catlica levou-o a iniciar um processo de
discusso com as autoridades eclesiais a fim de convenc-las a pensar na criao de uma
organizao do episcopado brasileiro. O resultado dessa discusso foi a criao da
Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A partir da fundao da CNBB, ele,
atravs do seu cargo de secretrio geral somado sua experincia na rea da educao, fez
com que a entidade estivesse constantemente presente nas discusses relacionadas
educao.
Havia uma diferena naquilo que ele pensava a respeito de educao para o Brasil em
relao Associao de Educao Catlica (AEC). A AEC defendia os interesses das escolas
catlicas particulares. Enquanto representante do episcopado brasileiro, Dom Hlder deveria
defender os interesses da Igreja e, assim, apoiar de maneira incondicional o ensino privado e
elitista das escolas religiosas.
Apesar da responsabilidade como diretor de uma entidade que representava os
interesses da Igreja Catlica, ele no deixava de pensar e defender idias e projetos nos quais
acreditava. Para a educao, defendia um projeto no qual o acesso ao conhecimento fosse algo
popular, a fim de que pudesse atingir as camadas carentes que viviam principalmente nas
reas rurais.
Em 1963, em solenidade no Ministrio da Educao, na qual se apresentava o Plano
Nacional de Educao para o perodo de 1963-1970, elaborado pelo educador Ansio
Teixeira, combatido pela ala conservadora da Igreja, que solicitou ao governo a sua
exonerao do cargo de diretor do Instituto Nacional de Estudos Pedaggicos (INEP), Dom
Hlder, ainda secretrio geral da CNBB, mostrou sua personalidade e firmeza de opinio,
como descreveu o escritor Josu Montelo, que vivenciou aquele momento:
9
Na solenidade, Dom Hlder Cmara, bispo auxiliar do Rio de Janeiro e membro do
Conselho Federal de Educao, pede a palavra, e louva o plano, e apia Ansio,
calidamente, desasombradamente. Ansio Teixeira, a dois passos de mim, ouve com
emoo as palavras de Dom Hlder.Tem um brilho feliz nos olhos contrados, seu
rosto moreno resplandece. E eu, da a momentos, ao cumprimentar Dom Hlder:
Sou testemunha da emoo de Ansio com o seu discurso. E Dom Hlder, ao p da
minha orelha: S eu sei quanto me pareo com Ansio.
13
Como secretrio geral da CNBB, ele tinha que defender, de certa maneira, os
interesses da ala conservadora da Igreja. Mas foi ele um dos mais importantes incentivadores
do Movimento de Educao de Base (MEB) idealizado por Dom Jos Tvora, grande amigo
de Dom Hlder organizado pela CNBB e financiado pelo governo federal. Pela primeira
vez, atravs da CNBB no MEB, a Igreja se viu envolvida num projeto de educao popular, o
que foi muito importante para o processo de alfabetizao e conscientizao da populao
rural brasileira na dcada de 60.
A origem do MEB se deu a partir de uma experincia realizada pelo bispo auxiliar de
Natal, Dom Eugnio Sales que, com o apoio da Ao Catlica Brasileira, criou a Emissora de
Educao Rural de Natal. O trabalho de alfabetizao realizado por esse programa
educacional atingiu resultados positivos e o programa foi estendido a outras cidades do
Nordeste. Quando Dom Jos Tvora
14
se tornou bispo de Aracaju, planejou transformar
aquele programa radiofnico num projeto nacional de educao para trabalhadores rurais no
Nordeste, da nasceu o MEB. Dom Hlder e Dom Tvora foram os dois principais religiosos
do Nordeste a convencer o presidente Jnio Quadros a acreditar na proposta e autorizar o
governo a financiar o projeto de educao bsica.
Apesar do MEB ter sido organizado pela CNBB com apoio do governo federal,
atravs do Ministrio da Educao, sua independncia e liberdade filosfica e pedaggica foi
mantida at 1964 e, assim, eles conseguiram realizar os seus projetos e traar os seus
objetivos. O MEB defendia uma pedagogia voltada para a educao integral, principalmente
dos trabalhadores rurais, e no apenas sua alfabetizao. Este trabalho pedaggico esteve
atrelado proposta da Ao Catlica Brasileira que tinha como principal objetivo o
desenvolvimento da conscincia poltica, social e religiosa do estudante trabalhador. Esse
13
Apud Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.270.
14
Dom Jos Vicente Tvora, arcebispo catlico brasileiro da arquidiocese de Aracaju desde 1960.
Pioneiro nas experincias de educao de adultos atravs das escolas radiofnicas em seu Estado e
presidente do movimento de Educao de Base (MEB) desde o seu incio.
10
processo de conscientizao se deu atravs da valorizao da oralidade e dos costumes de
cada comunidade a fim de que os trabalhadores pudessem entender a realidade que os cercava
e, a partir da, transform-la atravs de uma ao coletiva. O ttulo de uma das cartilhas do
MEB traduzia a sua pedagogia: Viver lutar.
Um fato que mostrou a importncia de Dom Hlder para a consolidao do
Movimento de Educao de Base, foi a lembrana do relator do documento oficial do Comit
Nobel do Parlamento da Noruega, quando avaliou a possibilidade de condecor-lo com o
Prmio Nobel da Paz entre 1970 e 1974. Afirmou Jacob Sverdrup:
[...] deve-se mencionar o grande programa de educao de adultos, onde Hlder
Cmara figura como protagonista. Iniciado esse programa no Nordeste brasileiro, foi o
mesmo sancionado pela Igreja, e Cmara foi chamado a negociar com as autoridades,
a fim de obter subveno oficial [...] O programa contava com a subveno do Estado
e a beno da Igreja mas tomou, aos poucos, um rumo que despertou reao das
autoridades e criou dissenso dentro da Igreja. A elaborao do programa demonstra
bem a filosofia de Cmara. O ensino era apenas um meio para tornar os alunos
membros cientes e ativos da sociedade. Esse despertar social foi guiado num certo
sentido para libertar o povo das foras que o oprimiam. Atravs do ensino, o povo
deveria ser ativado para um processo de desenvolvimento social [...]
15
Em sntese, Dom Hlder defendia uma educao popular atravs do MEB, embasada
na conscientizao processo pedaggico de cunho poltico que possibilita s pessoas
tomarem conscincia de serem cidados livres, sujeitos de direitos e deveres individuais e
sociais e na esperana, mola precursora geradora do processo de transformao de uma
sociedade. Paulo Freire descreve a origem do termo conscientizao:
Na Amrica Latina e nos Estados Unidos acredita-se que fui eu o homem quem criou
esta palavra, mas a verdade outra: ela nasceu de uma srie de reflexes que uma
equipe de professores desenvolveu no ISEB (Instituto Superior de Estudos do Brasil),
instituto que estava associado ao Ministrio da Educao Nacional e que foi criado
depois da chamada Revoluo Libertadora do Brasil, em 1964. A palavra foi criada
por um dos professores daquela equipe. (...) e foi precisamente no ISEB que escutei
pela primeira vez a palavra conscientizao, e ao ouvi-la logo percebi a profundidade
de seu significado, pois estava absolutamente convencido de que a educao como
prtica de liberdade um ato de conhecimento, uma aproximao at a realidade
16
.
15
Jacob SVERDRUP, Relatrio sobre Dom Hlder, p.XIV. Sverdrup, doutor em filosofia e professor
da Universidade de Oslo, foi consultor do Comit Nobel em 1970.
16
Apud Francisco de Assis S. ALFENAS, Paulo Freire e Medellin: a Construo de uma Pedagogia
Libertadora, pp.51-2.
11
A difuso do termo se deu com Dom Hlder: foi D. Hlder Cmara que se encarregou
de difundi-la e de traduzi-la em ingls. Assim, pela influncia de Dom Hlder Cmara, mais
que pela minha, a palavra entrou na Europa e nos Estados Unidos
17
. No mbito da Igreja, ele
foi um grande interlocutor de Paulo Freire, atravs da obra Pedagogia do Oprimido,
exercendo ampla influncia na sociedade brasileira. Considerou que essa obra era: [...] de
alcance decisivo para se obter a medida adequada de conscientizao, evitando que o
oprimido de hoje se transforme no opressor de amanh
18
.
Paulo Freire, que nutriu profunda admirao por Dom Hlder, dele afirma: [...] gente
que eu posso dizer que no era assistencialista. Gente que era progressista, gente
comprometida. Comprometida com os pobres [...]
19
. E nada era e mais digno em uma
sociedade do que o cidado ter a esperana, atravs do conhecimento e da conscientizao, da
possibilidade de transformar, de modificar coletivamente a sua realidade e construir uma nova
sociedade. Dessa maneira, esse cidado estar sendo o agente da sua histria e da histria da
sua comunidade, estado ou pas.
As prticas pedaggicas do MEB atingiam religiosos, leigos e o povo, convidando-os
a construir uma nova sociedade. Afirmou Lus Eduardo Wanderley, sobre as atividades do
MEB que redefiniu [...] a atuao prtica dos cristos na sociedade brasileira [...] Os leigos
assumiram novas tarefas, trouxeram reflexes tericas e teolgicas para o interior da Igreja no
Brasil e introduziram a questo poltica de maneira aguda, que iria reacender nos anos ps-
70
20
.
Foi a partir da consolidao do MEB, entre os anos de 1961-1964, que a Igreja se viu
envolvida na criao do que podemos chamar de Igreja Popular, onde os seus resultados
diretos foram a criao das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), as comisses pastorais e
os projetos sociais alternativos. Essa Igreja popular, que segue as propostas vindas do
grupo da Igreja dos Pobres, formada no Conclio Vaticano II, onde a prioridade so os
excludos.
21
17
Apud Francisco de Assis S. ALFENAS, Paulo Freire e Medellin: a Construo de uma Pedagogia
Libertadora, p.52.
18
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.410.
19
Celso Rui BEISIEGEL, Poltica e Educao Popular, p.35.
20
Lus Eduardo W. WANDERLEY. Educar para Transformar: Educao Popular, Igreja Catlica e
Poltica no Movimento de Educao de Base, apud Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder
Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.271.
21
Para uma compreenso da gnese da Igreja Popular ver Srgio TORRES (Org.) A Igreja que
surge da Base (Eclesiologia das Comunidades Crists de Base). Esse texto recolhe as conferncias
do IV Congresso Internacional Ecumnico de Teologia realizado em So Paulo, em 1980. O
Congresso reuniu telogos e telogas da Amrica Latina. Ver, tambm, Leonardo BOFF,
12
Neste aspecto, Dom Hlder foi um dos principais precursores da construo de uma
Igreja engajada social e politicamente na causa dos pobres, dos injustiados e excludos. E
atravs de sua ao na CNBB comeou-se, a partir da dcada de 60, a se construir uma Igreja
onde termos como conscientizao, libertao, emancipao e conscincia crtica
faziam parte do vocabulrio e da prtica do catolicismo brasileiro.
Por volta de 1967, a Igreja Catlica passa por um momento histrico relevante, devido
aos resultados do Conclio Vaticano II, reforado pela encclica Populorum Progressio. Neste
contexto, Dom Hlder ficou conhecido pelas autoridades eclesisticas e leigas do catolicismo
como um dos principais articuladores das transformaes propostas para a Igreja. Devido ao
seu destaque nos bastidores do Vaticano, ele comeou a ser convidado a participar de
encontros, palestras e conferncias em vrios pases do mundo; teve incio, ento, a trajetria
de conferencista internacional do Arcebispo de Olinda e Recife.
Tnhamos, na segunda metade da dcada de 60, uma situao contraditria: a
hierarquia catlica e leiga progressista, estudantes, trabalhadores e militantes de esquerda do
mundo queriam conhecer suas idias, ouvir seu discurso transformador e a sua proposta
educacional conscientizadora. E, no Brasil, as autoridades eclesisticas conservadoras e os
militares entendiam o seu discurso como algo subversivo, capaz de fomentar, na sociedade, o
descontentamento com o atual regime poltico e a situao scio-econmica do pas, e levar
essa mesma sociedade a um processo de rejeio do status quo e de mobilizao para
promover movimentos que defendessem prticas socialistas.
Em suas conferncias no Brasil e em outras partes do planeta, Dom Hlder no se
limitava aos assuntos de cunho religioso e espiritual, abordava tambm problemas polticos,
sociais, educacionais e econmicos do mundo contemporneo. Participou de centenas de
conferncias e palestras. A indicao de alguns ttulos revelam a atualidade e riqueza dos
temas abordados por ele: na solenidade de formatura na Universidade Federal do Rio Grande
do Norte, em Natal, 1966, Superao do Colonialismo Interno; conferncia em Buenos Aires,
1966, Presena da Igreja no Desenvolvimento da Amrica Latina; discurso no lanamento do
Manifesto da Ao Catlica Operria, em Recife, 1967, Nordeste, Desenvolvimento Sem
Justia; conferncia em Milo, 1967, Recife e Milo, Irms em Responsabilidade em Face do
Desenvolvimento; conferncia em So Paulo, na Pontifcia Universidade Catlica, 1967,
Imposies da Solidariedade Universal; conferncia em Montreau, 1970, Projetos de
Eclesiognese. As Comunidades Eclesiais de Base reinventam a Igreja; Gustavo do Passo
CASTRO, As Comunidades do Dom: Um Estudo de CEBs no Recife.
13
Desenvolvimento e Preocupao com Mudanas Estruturais; conferncia ecumnica sobre a
Guerra do Vietn, em Kansas City, 1972, Se Queres a Paz, Trabalha pela Justia; Prece
Ecumnica em Recife, 1973, Responsabilidade dos Cristos em Face do Mundo de Hoje; e a
Palestra em Lima, 1975, Conflitos Scio-Polticos na Amrica Latina: Situao Atual e
Perspectivas, de um ngulo Pastoral.
Para Dom Hlder, os problemas que afligiam o planeta estavam diretamente
relacionados com a bipolaridade mundial, mas no apenas a bipolaridade ideolgica,
capitalismo e socialismo; mas tambm com a explorao dos ricos sobre os pobres,
independente do sistema poltico ou econmico existente nas naes. Para ele, enquanto essa
desigualdade existisse no haveria justia e paz entre os homens. Apresentou essa idia a
governantes e religiosos de todo o mundo, independente da ideologia ou credo, na esperana
de envolv-los num processo de mudanas. Ele afirmava que sua misso era ajudar a
humanidade na busca do desenvolvimento integral, que envolvia um trabalho simultneo
em vrias frentes:
Frente Pessoal: Conscientizar os seres humanos para que combatessem a presena
permanente e insidiosa do egosmo em si mesmo;
Frente Local (na Diocese, na Cidade e no Estado ): Viriam colocaes sobre o
esforo de promoo humana, de conscientizao das massas, a ajudar para que se
tornem povo, a exemplo do trabalho que tentava realizar por meio da Operao
Esperana;
Frente Regional: dada as especificidades da regio Nordeste, seu trabalho seria
convencer a sociedade civil e as autoridades governamentais sobre a importncia de
uma planificao global para a regio, a exemplo do que era tentado na SUDENE,
porm evitando o que se chamava desvirtuamento do rgo, que o levava a
promover o crescimento econmico tornando os pobres mais pobres e os ricos mais
ricos em no um desenvolvimento com justia;
Frente Nacional: a luta seria por mudanas estruturais, por intermdio da promoo
das reformas de base e pela integrao entre vrias regies do pas;
Frente Continental: pronunciamentos sobre o desenvolvimento e a integrao da
Amrica Latina, sem imperialismos externos nem internos, e a busca de uma relao
de amizade e igualdade com os Estados Unidos;
Frente do Terceiro Mundo: alertar a humanidade sobre suas responsabilidades diante
da misria e da opresso existentes na Amrica e na sia;
Frente Internacional: denunciar os imperialismos capitalistas e socialistas,
responsabilizando-os pelas injustias no Terceiro Mundo, em razo das relaes de
explorao existentes no comrcio internacional
22
.
22
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.367.
14
O que Dom Hlder pretendia, em suas conferncias nos cinco continentes era: a
mobilizao simultnea de milhes e milhes de pessoas que, no mundo inteiro, amam a paz
e tm sede, por vezes inconsciente, da verdade, do belo e do bem, para levar o mundo a
uma civilizao harmnica e solidria
23
.
Para ele, havia alguns aspectos que deveriam ser olhados com mais ateno, que ele
chamava de principais campos de ao nos quais se deveria atuar no mundo
contemporneo. Dessa maneira, ele realizou uma sntese desses campos. Em relao aos
lderes espirituais se confia o encargo:
a) nos pases desenvolvidos: de levar convico de que no haver paz sem justia e
de que o desenvolvimento o novo nome da paz;
b) nos pases subdesenvolvidos: de ter presente que Deus no entrega aos pastores
apenas a alma e sim criaturas humanas, com alma e com corpo; de ter como dever
pastoral, da maior importncia e gravidade, lutar para que as criaturas humanas que se
acham em nvel infra-humano atinjam, quanto antes, o nvel humano.
24
Quando comeou a participar das conferncias e palestras, ele se tornou um cidado
do mundo, e a sua preocupao era fazer com que as injustias e desigualdades sociais do
mundo diminussem. E isso s seria possvel com uma organizao de grupos militantes
atuando em campos de ao deflagrando um movimento de opinio pblica mundial
favorvel ao desenvolvimento harmnico e solidrio. O seu pensamento social, poltico e
econmico no era exclusividade sua, o seu interesse era servir como instrumento para
difundir idias sobre a importncia do desenvolvimento econmico como nico caminho para
a superao das injustias.
Dom Hlder sofreu uma forte influncia de Celso Furtado, que via o desenvolvimento
como um instrumento de humanizao do capitalismo e tambm como o melhor caminho
para a neutralizao dos movimentos de esquerda e socialistas, tais como as ligas
camponesas.
25
Ao afirmar que no haver paz sem justia e que o desenvolvimento o novo nome
da paz e como o desenvolvimento promoveria o bem-estar, naturalmente estaria assegurada
a ordem social, cujo desdobramento poltico, no mundo ocidental, a democracia, Dom
23
Ibid., p. 367.
24
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p. 368.
25
Ibid., p. 369.
15
Hlder inspirava-se na Populorum Progressio de Paulo VI e nos ensinamentos de Celso
Furtado
26
. Dom Hlder confirmava essas influncias:
Minha posio consiste em considerar o desenvolvimento o problema n. 1 do
continente. Problema humano ao qual a Igreja no pode, de modo algum, ser
insensvel. Nosso problema de paz social. Ou nos desenvolvemos ou, ento, o
continente se ensangentar. A, sim, vir o comunismo.
27
Em suas conferncias, ele utilizava-se muito do pensamento do jesuta francs Pierre
Teilhard de Chardin
28
. Atravs das leituras de Chardin, ele construiu uma nova viso de
mundo, onde o cristo no devia olhar para o mundo querendo fugir dele, e sim olh-lo e am-
lo, ou seja, o homem como co-criador, responsvel por complementar a criao divina.
Por influncia de Chardin, passou a respeitar a cincia e ver a pesquisa cientfica como uma
maneira do homem chegar ao corao da matria, num caminho evolutivo rumo a super-
humanidade em que existiria a mxima abertura para a pessoa humana, e seria possvel o
seu encontro com o Cristo alfa e mega, princpio e fim.
29
Leitor atento e voraz desde a sua juventude, Dom Hlder adquiriu uma cultura
livresca, vastssima, sem a excluso das teorias consideradas herticas pelo
catolicismo oficial, como o freudismo e o marxismo. Apesar disso, possvel
identificar trs componentes essncias nas concepes filosficas, polticas, sociais e
econmicas que defendia: o pensamento filosfico e teolgico de Teilhard de Chardin
o conciliara com o conhecimento cientfico; as concepes cepalinas fundamentavam
suas propostas econmicas para a superao das injustias dentro dos pases
desenvolvidos; do ponto de vista poltico a obra madura de Jacques Maritain, desde o
final dos anos 30, dera grande impulso que faltava para a converso de seu
pensamento autoritrio integralista numa viso de mundo democrtica e pluralista, ao
mesmo tempo que crist-catlica. S mesmo o clima de polarizao ideolgica e de
intolerncia diversidade de pensamento existente no Brasil a partir do golpe militar
pode explicar por que as propostas de Dom Hlder em suas conferncias, baseadas,
fundamentalmente, nessas trs fontes, eram rotuladas de comunistas. Alis, no seio da
Igreja, o setor integrista se aproveitaria das acusaes da direita poltica contra Dom
Hlder para tambm rotular de comunistas suas propostas de reforma da Cria
Romana e de atualizao da doutrina da estrutura da Igreja.
30
26
Celso Furtado, doutor em economia, que teve intensa atuao na Amrica Latina e no Brasil nos
anos 60 e 70. Em suas obras estudou os problemas brasileiros do desenvolvimento econmico do
Brasil e os relacionou com os fatores polticos e sociais.
27
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p. 370.
28
D. Romano RZK, OSB, Pequena biografia e cronologia de suas obras. Para aprofundar o
estudo, consultar as obras de Pierre Teilhard de CHARDIN, Gnese de um pensamento; O
Fenmeno Humano; Hino do Universo.
29
Nelson PILETTI, Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p. 370.
30
Ibid., p. 371.
16
Dom Hlder chegou a declarar na poca: Se dou comida aos pobres eles me chamam
de Santo. Se eu pergunto por que os pobres no tm comida, eles me chamam de
comunista.
31
A partir de 1969, tornou-se difcil o seu acesso aos meios de comunicao
rdios, jornais, revistas e televiso devido ao acirramento da censura imposta pelo governo
militar. No incio dos anos 70, era reconhecido como uma liderana na luta em defesa dos
direitos humanos e da paz mundial. Era um forte candidato ao prmio Nobel da paz. Alguns
jornais estrangeiros chegaram a consider-lo o homem de maior influncia na Amrica
Latina, depois de Fidel Castro
32
.
Apesar da peregrinao internacional, com palestras e conferncias, a sua prioridade
era o trabalho na Arquidiocese, com a ao pastoral vinculada proposta do Movimento de
Educao de Base. Seu objetivo era consolidar o movimento evangelizao
conscientizadora, que h anos vinha sendo elaborado. O intuito desse movimento era
organizar pequenos grupos de moradores em reas populares, discutir o evangelho e debater
os problemas da comunidade. A partir da implantar projetos para a resoluo dos problemas
de injustia social que assolam o Nordeste, a Amrica Latina, a sia e a frica.
Nasciam, na Arquidiocese de Olinda e Recife, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs).
33
Dom Hlder fala sobre as CEBs para o mundo:
A Comunidade de Base tem dimenso humana, o que permite que todos conheam a
todos. Os problemas no so de casos de moral extrados de livros, mas
acontecimentos reais, que saltam da vida. Na Comunidade de Base, para que o dilogo
seja efetivo e vlido, todos aprendem a falar e a calar, a falar e a ouvir, a alegrar-se
vendo o prprio pensamento enriquecer-se com os pontos de vista at com as
discordncias dos irmos. [...] Na Comunidade de Base os irmos se apiam
mutuamente, cada um guardando a prpria liberdade e o grupo renunciando,
expressamente, a exercer presses sobre os seus. [...] Na Comunidade de Base, em
geral, todos trabalham ou procuram trabalho [...].
34
31
Esta referncia foi retirada de uma lista de frases de expresso de Dom Hlder intitulada Frases
de Dom Hlder, cuja data no definida.
32
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p.378
33
CEBs, Comunidades Eclesiais de Bases, nasceram no Brasil nos anos 60 com o intuito de reunir
as camadas populares para celebrar e refletir sobre sua f a partir da realidade social em que
viviam e luz da Palavra de Deus. Reunem-se em pequenos grupos organizados em parquias
(urbano) ou capela (rural), por iniciativa de padres, bispos e leigos. As primeiras surgiram no Rio
Grande do Norte, na arquidiocese de Natal. So comunidades porque renem pessoas que tm a
mesma f, pertencem mesma Igreja e moram na mesma regio. So eclesiais, porque congregadas
na Igreja, como ncleos bsicos de comunidade de f. So de base, porque integradas por pessoas
que trabalham com as prprias mos (camadas populares).
34
Dom Hlder CMARA, Minorias Abramicas e Estrutras da Igreja.
17
Para Dom Hlder, as CEBs
eram uma esperana viva de renovao das estruturas da
Igreja
35
tendo a incumbncia de promover a humanizao atravs da religiosidade, e esta,
contribuindo para a libertao social das camadas populares. Ele dizia: [...] nas nossas
Comunidades de Base, tambm se espalha e se espalha cada vez mais a certeza de que,
quando o pequeno acreditar no pequeno, quando o menor que padece acreditar no menor,
ento, sim, o mundo ser melhor
36
.
Uma de suas preocupaes era com os extremismos, tanto de direita, que pretendia
esmagar as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), a pretexto do perigo de serem
instrumentalizadas pelos marxista-leninistas, como pela tentativa que existia delas de fato
receberem essa instrumentalizao pela extrema esquerda. A cada encontro das comunidades,
Dom Hlder achava muito importante haver espao e tempo para orar e estudar e que se
incentivasse a auto-organizao poltica das comunidades, a fim de lutarem por seus direitos,
sem a utilizao da violncia. Frei Gilberto Gorgulho afirma que as CEBs:
So uma escola de crescimento da conscincia oprimida, revoltada, agressiva, que
caminha at chegar a uma conscincia moral, a uma conscincia evanglica. So um
fator de transformao, porque somente a conscincia moral, quer dizer, a percepo
do que verdadeiro, do que justo, do que injusto, (clareza na percepo pessoal e
grupal) tem fora de transformao, fora de libertao.
37
Na Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Hlder foi o grande incentivador para que
os trabalhadores rurais e urbanos e as camadas desfavorecidas da sociedade se organizassem
atravs das Comunidades Eclesiais de Base. Esse apoio levou a regio de Pernambuco a ser
uma das que mais se destacou na criao das Comunidades Eclesiais de Base, principalmente
as comunidades rurais, onde a explorao e a luta pela posse de terras foi mais intensificada.
Em Recife, esse trabalho teve seu incio com um pequeno projeto liderado e organizado por
Dom Hlder denominado Projeto Esperana. Ele colaborou com o desenvolvimento e
consolidao das CEBs, principalmente em Olinda e Recife, atravs da sua experincia na
ACB e no MEB e do seu apoio aos religiosos e leigos seguidores da Teologia da Libertao
(TdL).
O trabalho das comunidades eclesiais de base deveria estar alicerado num
aprendizado atravs da ao, conscientizao e orao. Para Dom Hlder, era importante que
no trabalho realizado nessas comunidades ocorresse um processo de transformao, isto , se
35
Nelson PILETTI; Walter PRAXEDES, Dom Hlder Cmara: Entre o Poder e a Profecia, p. 391.
36
Apud Marcos de CASTRO, Dom Hlder: Misticismo e Santidade, p.217.
37
Apud Jos J. QUEIROZ (org), A Educao Popular nas Comunidades Eclesiais de Base, p.19.
18
criasse uma sociedade justa e digna para homens e mulheres. Ele entendia que o trabalho dos
missionrios tinha um papel fundamental em todo o processo, porque estes no vinham
trabalhar para o povo, e sim, com o povo, aprendendo, ensinando e vivenciando os problemas,
e junto com a comunidade tentavam buscar solues. Dessa maneira, ele semeou nas mentes e
nas almas das pessoas a sua pedagogia da esperana. Para Dom Hlder: [...] O verdadeiro
educador muito mais que um despertador. algum que vem acordar aquilo que est meio
adormecido dentro de ns
38
.
Essa tentativa de levar as camadas mais carentes da populao a um processo de
conscientizao atravs da sua prpria realidade s foi possvel em funo da criao das
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), que foram fundamentais para que o povo pudesse
pensar, idealizar e construir, em sua comunidade, um mundo possvel de melhores condies
de vida para todos. Dom Hlder fazia a seguinte reflexo a respeito das CEBs:
Ento, o mistrio das Comunidades Eclesiais de Base est nessa mudana de atitude.
Em lugar de a gente pensar que o povo formado de uns incapazes, de uns imbecis
que no tm nada a dar, a gente acredita no povo. So criaturas humanas que tm
cabea pra pensar, so filhos de Deus que tm boca para falar. Ento ns acreditamos
nos pequenos projetos de dimenso humana. Ns queremos isso. Porque, o que que
adiantam a super-projetos, se s so magnficos para que os ricos se tornem mais
ricos e o mundo se torne cada vez mais desumano. Queremos projetos de dimenses
humanas precisamente para que haja mais vida humana. Queremos isso, um mundo
mais respirvel, menos desumano, quantas vezes ser preciso repetir?
39
Esse foi o trabalho realizado por ele, ao longo das dcadas de 60 e 70, em busca de um
mundo mais justo, solidrio e sem violncia, onde as diferenas tnicas, religiosas e sociais
no seriam algo impeditivo para se construir um mundo de irmos. Isso o projetou para o
mundo, e fez com que ele viajasse por todos os continentes levando uma palavra proftica
grvida de esperana para homens e mulheres de boa vontade. Recebeu ttulos de doctor
honoris causa em vrias universidades nacionais e estrangeiras. importante destacar o
primeiro ttulo recebido no Brasil: em 1982, na Pontifcia Universidade Catlica de So
Paulo, quando o ento reitor Dom Paulo Evaristo Arns lhe agraciou com tal honraria, a de
Doctor Honoris Causa em Direitos Humanos. Dom Hlder na ocasio deixa uma mensagem
aos jovens:
Um cristo jamais pode perder a esperana. Podemos e devemos fugir de falsas
promessas. Mas por mais que descubramos situaes graves no Brasil e no mundo
38
Dom Hlder CMARA apud Marcos de CASTRO, Dom Hlder: Misticismo e Santidade, p. 231.
39
Ibid, p 231.
19
no Brasil, agravadas pelo que se passa no mundo para quem tem olhos de ver e
ouvidos de ouvir, h claros sinais de esperana, a comear pela atitude dos jovens.
40
O trecho do discurso acima importante, primeiro porque acontece num momento
histrico mpar no Brasil e para Dom Hlder. O Brasil estava iniciando o seu processo de
redemocratizao que, apesar do governo militar, caminhava a passos largos para a
consolidao da democracia poltica em nosso pas. Em segundo lugar, merece destaque o
reconhecimento da universidade brasileira ao religioso, profeta e mstico, Dom Hlder
Cmara que, aps anos de silncio, no s voltava a expor suas idias em pblico, bem como
recebia pela primeira vez no Brasil, um ttulo de doctor honoris causa.
Nesse discurso, ele apontou aspectos que sempre foram muito importantes em sua
vida: o cristianismo, os jovens e a esperana. Atravs da esperana crist e da esperana, ele
construiu um modelo de ao no qual, sem violncia, ele atingiu de maneira violenta a todos
os setores da sociedade que deveriam ser transformados para que os homens construssem
uma sociedade mais justa. A Igreja conservadora, o regime militar e os imperialismos foram
os setores de maior ateno por parte do religioso. Conforme depoimento de Dom Antnio
Fragoso sobre Dom Hlder: Um homem que teve a coragem de ser no violento a vida
inteirinha, de ser o mais violento dos bispos do Brasil. Porque ele desmanchava por dentro os
contedos, assim, de totalitarismo, de opresso, de dominao
41
.
Enfim, foram suas atividades na Ao Integralista Brasileira, na Ao Catlica
Brasileira, na Conferncia Nacional dos Bispos do Brasil, no Movimento de Educao Bsica,
no Conclio Ecumnico Vaticano II, na Conferncia Episcopal de Medelln, nas Comunidades
Eclesiais de Base, somados sua viso proftica e preocupada com os excludos e as
desigualdades sociais cometidas a eles, que Dom Hlder construiu um estilo nico e
insofismvel de pensar, ser e agir.
40
Hlder CMARA, S a verdade vos libertar.
41
Hlder Cmara, Em Busca da Profecia. Direo rika Bauer, produo Cor Filmes, 2003.
Você também pode gostar
- Ética, Teologia e Consciência Crítica em Diálogo: uma reflexão interdisciplinar entre Tomás de Aquino e Paulo FreireNo EverandÉtica, Teologia e Consciência Crítica em Diálogo: uma reflexão interdisciplinar entre Tomás de Aquino e Paulo FreireAinda não há avaliações
- Bispos Comunistas Do BrasilDocumento6 páginasBispos Comunistas Do BrasilRicardo MaddalenaAinda não há avaliações
- Política é coisa do diabo?: A relevância da política na Bíblia e na vida do cristãoNo EverandPolítica é coisa do diabo?: A relevância da política na Bíblia e na vida do cristãoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Maçonaria Anticlericalismo e LivrepensamentoDocumento26 páginasMaçonaria Anticlericalismo e Livrepensamentodr_ark100% (1)
- Sumio Sobre TillichDocumento10 páginasSumio Sobre TillichgabrielpilonAinda não há avaliações
- Resenha Cristianismo e Revolução SocialDocumento2 páginasResenha Cristianismo e Revolução SocialGuilhermeFreitasAinda não há avaliações
- TEXTO04 TextosparadebatemarxeocristianismoDocumento7 páginasTEXTO04 TextosparadebatemarxeocristianismoAugusto Piloto Silva JuniorAinda não há avaliações
- ILUMINISMODocumento5 páginasILUMINISMOcarlos robertoAinda não há avaliações
- A Igreja Católica em Face Da Escravidão by Jaime Balmes UrpiaDocumento104 páginasA Igreja Católica em Face Da Escravidão by Jaime Balmes UrpiaNelito123Ainda não há avaliações
- Agnelo Rossi e A DitaduraDocumento31 páginasAgnelo Rossi e A Ditaduravicfiori402Ainda não há avaliações
- Teologia Da Libertacao: Leonardo Boff e Frei Betto - Por Michael LöwyDocumento6 páginasTeologia Da Libertacao: Leonardo Boff e Frei Betto - Por Michael LöwyDiogo Tinoco CastroAinda não há avaliações
- Fé Cristã e Ação Política: A relevância pública da espiritualidade cristãNo EverandFé Cristã e Ação Política: A relevância pública da espiritualidade cristãAinda não há avaliações
- Teologia Pública Reformada: Uma visão abrangente para a vidaNo EverandTeologia Pública Reformada: Uma visão abrangente para a vidaAinda não há avaliações
- Artigo CaldeariaDocumento24 páginasArtigo CaldeariaLeonardo AugustoAinda não há avaliações
- Por trás da fumaça: os cristãos, Hitler e a Grande GuerraNo EverandPor trás da fumaça: os cristãos, Hitler e a Grande GuerraAinda não há avaliações
- A Teologia Do Século XX e Suas Influências HistóricasDocumento23 páginasA Teologia Do Século XX e Suas Influências Históricas1BEST FOTOSAinda não há avaliações
- Protestantismo No Brasil Usp RevistaDocumento14 páginasProtestantismo No Brasil Usp RevistaArqueleu Cunha100% (3)
- A KGB Inventou A Teologia Da LibertaçãoDocumento7 páginasA KGB Inventou A Teologia Da Libertaçãoallanandreassa0% (1)
- Teologia Da Prosperidade e Teologia Da LibertaçãoDocumento17 páginasTeologia Da Prosperidade e Teologia Da LibertaçãoCido da SilvaAinda não há avaliações
- Ebook o Discurso Anticomunista Da Igreja Catolica No Brasil OkDocumento31 páginasEbook o Discurso Anticomunista Da Igreja Catolica No Brasil OkLílian SoaresAinda não há avaliações
- A Maldição da Lei e a Esperança da Graça: Direito, Religião e Economia em Franz HinkelammertNo EverandA Maldição da Lei e a Esperança da Graça: Direito, Religião e Economia em Franz HinkelammertAinda não há avaliações
- 2022 - NOV. Vida Obra e Polêmicas de Jacques Maritain Pensador Que Influenciou A Teologia Da LibertaçãoDocumento7 páginas2022 - NOV. Vida Obra e Polêmicas de Jacques Maritain Pensador Que Influenciou A Teologia Da LibertaçãoCLEVERTON DE OLIVEIRA RAMOSAinda não há avaliações
- Intelectualidade Católica e o Integralismo de Plínio SalgadoDocumento10 páginasIntelectualidade Católica e o Integralismo de Plínio Salgadolokab42341Ainda não há avaliações
- Maria Do Carmo Tavares de MirandaDocumento10 páginasMaria Do Carmo Tavares de MirandaMaicon DouglasAinda não há avaliações
- Uma Questão de SantidadeDocumento5 páginasUma Questão de SantidadeAlex CordeiroAinda não há avaliações
- Socialismo Cristão - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento3 páginasSocialismo Cristão - Wikipédia, A Enciclopédia Livrealex lotti100% (1)
- Versão para Impressão - Tema 4 - Teologias Da Libertação - Um Rio Com Muitos AfluentesDocumento10 páginasVersão para Impressão - Tema 4 - Teologias Da Libertação - Um Rio Com Muitos AfluentesKLusterAinda não há avaliações
- Entre A Essência 1Documento31 páginasEntre A Essência 1Marcia S. R. CarneiroAinda não há avaliações
- Theobaldo Miranda Santos - Um Intelectual Católico e ModernistaDocumento18 páginasTheobaldo Miranda Santos - Um Intelectual Católico e Modernistamarcelox2Ainda não há avaliações
- 42º Encontro Anual Da AnpocsDocumento28 páginas42º Encontro Anual Da AnpocsRenan RamalhoAinda não há avaliações
- Trabalho Moral Social IIIDocumento23 páginasTrabalho Moral Social IIIwalmirdaviAinda não há avaliações
- ÉticaDocumento6 páginasÉticaCaçapava BiamaqAinda não há avaliações
- Uma Heresia Chamada Teologia Da Missão IntegralNo EverandUma Heresia Chamada Teologia Da Missão IntegralAinda não há avaliações
- Espiritismo e Marxismo: Um Diálogo Necessário - Blog Da ABPEDocumento15 páginasEspiritismo e Marxismo: Um Diálogo Necessário - Blog Da ABPEDora IncontriAinda não há avaliações
- DSI e Nazismo Fascismo e NacionalismoDocumento6 páginasDSI e Nazismo Fascismo e NacionalismoThiago José Gonçalves MendesAinda não há avaliações
- Movimento Escola Sem ParticoDocumento15 páginasMovimento Escola Sem ParticoRenata FigueiredoAinda não há avaliações
- A Igreja Católica em Face Da EscravidãoDocumento71 páginasA Igreja Católica em Face Da EscravidãoCleiton OliveiraAinda não há avaliações
- Dialnet LinhasDePesquisaDeHistoriaDaIgrejaNoBrasil 5083161Documento27 páginasDialnet LinhasDePesquisaDeHistoriaDaIgrejaNoBrasil 5083161michel patric wunderlichAinda não há avaliações
- Livro Anarquia e CristianismoDocumento13 páginasLivro Anarquia e Cristianismommqueiroz2003100% (2)
- Rauschenbusch - Legado de Um Profeta AmorosoDocumento5 páginasRauschenbusch - Legado de Um Profeta AmorosoJonas LuizAinda não há avaliações
- Jacques Maritain e A Declaração Universal Dos Direitos HumanosDocumento11 páginasJacques Maritain e A Declaração Universal Dos Direitos HumanosRicardo GaiottiAinda não há avaliações
- A Introdução de Marxismo e Religião PDFDocumento3 páginasA Introdução de Marxismo e Religião PDFAntonio Carlos Joaquim100% (1)
- Marxismo e Religião: Ópio Do Povo?, de Michael LöwyDocumento4 páginasMarxismo e Religião: Ópio Do Povo?, de Michael LöwyFábio TenórioAinda não há avaliações
- 1 5143555153248387286Documento49 páginas1 5143555153248387286Marco EduardoAinda não há avaliações
- A Atuação Política e Intelectual de Maria Lacerda de Moura A Partir Do Periódico A LanternaDocumento7 páginasA Atuação Política e Intelectual de Maria Lacerda de Moura A Partir Do Periódico A LanternaLéia Patek de SouzaAinda não há avaliações
- Trabalho de Sociologia - EscritoDocumento5 páginasTrabalho de Sociologia - EscritoraissasisdeliAinda não há avaliações
- Centro Dom VitalDocumento9 páginasCentro Dom VitalJoão Paulo FerrariAinda não há avaliações
- AteismoDocumento4 páginasAteismoVitor Lomba AlmeidaAinda não há avaliações
- Novos desafios para o Cristianismo: A contribuição de José ComblinNo EverandNovos desafios para o Cristianismo: A contribuição de José ComblinAinda não há avaliações
- Doutrina Social Da Igreja CatólicaDocumento43 páginasDoutrina Social Da Igreja CatólicaVinícius Dias0% (1)
- Theobaldo Miranda Santos - A Filosofia No Brasil (1946)Documento6 páginasTheobaldo Miranda Santos - A Filosofia No Brasil (1946)BernardoBrandaoAinda não há avaliações
- As Igrejas Protestantes e o Golpe 64Documento9 páginasAs Igrejas Protestantes e o Golpe 64wilsonjoaoAinda não há avaliações
- Manifesto Gendecista PDFDocumento13 páginasManifesto Gendecista PDFMartinsAinda não há avaliações
- Lutero e Erasmo PDFDocumento27 páginasLutero e Erasmo PDFjvpjulianusAinda não há avaliações
- Huberman M o Ciclo de Vida Profissional Dos Professores PDFDocumento30 páginasHuberman M o Ciclo de Vida Profissional Dos Professores PDFMauren Bergmann100% (1)
- 5020 16119 2 PB PDFDocumento17 páginas5020 16119 2 PB PDFNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Narracao de Historias de Vida Christinne JossoDocumento26 páginasNarracao de Historias de Vida Christinne JossoSara MendesAinda não há avaliações
- Martinho CondiniDocumento19 páginasMartinho CondiniNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- História de Vida - Salto para o FuturoDocumento72 páginasHistória de Vida - Salto para o FuturoSilvano SulzartyAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento24 páginas1 PB PDFNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 2010 DeboraLeiteDavidDocumento0 página2010 DeboraLeiteDavidNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Carta de BolonhaDocumento4 páginasCarta de BolonhaNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 503 1212 1 PBDocumento5 páginas503 1212 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 3718 14547 1 PBDocumento16 páginas3718 14547 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Instante Como Tempo Que Completa A AlmaDocumento11 páginasO Instante Como Tempo Que Completa A AlmaNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Carta de BolonhaDocumento4 páginasCarta de BolonhaNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 63 201 1 PBDocumento9 páginas63 201 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Ser Humano e Duas Abordagens Sobre A Fé - NoemiaDocumento11 páginasO Ser Humano e Duas Abordagens Sobre A Fé - NoemiaNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 63 198 1 PBDocumento11 páginas63 198 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 503 1212 1 PBDocumento5 páginas503 1212 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Erich Neumann - A Lua e A Consci Ência Matriarcal (Doc)Documento15 páginasErich Neumann - A Lua e A Consci Ência Matriarcal (Doc)shaktilalla100% (4)
- A Mente Que Se Abre A Uma Nova Idéia Jamais Voltará Ao Seu Tamanho OriginalDocumento1 páginaA Mente Que Se Abre A Uma Nova Idéia Jamais Voltará Ao Seu Tamanho OriginalNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Alojamento em Ponta Delgad1Documento1 páginaAlojamento em Ponta Delgad1Noemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Pobre Crucificado Junto Com JesusDocumento16 páginasO Pobre Crucificado Junto Com JesusNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- 2971 8014 1 PBDocumento12 páginas2971 8014 1 PBNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Bilac, Olavo - Tratado de VersificaçãoDocumento213 páginasBilac, Olavo - Tratado de VersificaçãoRoberto Mallet100% (4)
- Aniversariantes Da CongregaçãoDocumento2 páginasAniversariantes Da CongregaçãoNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Pobre Crucificado Junto Com JesusDocumento16 páginasO Pobre Crucificado Junto Com JesusNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Presente No NascimentoDocumento15 páginasO Presente No NascimentoNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- O Ser Humano e Duas Abordagens Sobre A Fé - NoemiaDocumento11 páginasO Ser Humano e Duas Abordagens Sobre A Fé - NoemiaNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Contribuições para o Estudo Do Imagin - Melo, BarattoDocumento8 páginasContribuições para o Estudo Do Imagin - Melo, BarattoNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Estudo mitoanalíticoAFilipeAraujoDocumento24 páginasEstudo mitoanalíticoAFilipeAraujoNoemia Dos Santos SilvaAinda não há avaliações
- Aumento PenianoDocumento17 páginasAumento PenianoUmphallus100% (5)
- Sistema de Classificação Dos VegetaisDocumento34 páginasSistema de Classificação Dos VegetaisLayla Lino100% (1)
- Tornar-Se Diarista: A Percepção Das Empregadas Domésticas Sobre Seu Trabalho em Regime de DiáriasDocumento116 páginasTornar-Se Diarista: A Percepção Das Empregadas Domésticas Sobre Seu Trabalho em Regime de DiáriasCecy Bezerra de MeloAinda não há avaliações
- Plim! Revisão de Conteúdos de Matemática 4º Ano - 1º TrimestreDocumento12 páginasPlim! Revisão de Conteúdos de Matemática 4º Ano - 1º TrimestreCristina BarbosaAinda não há avaliações
- Prof. Tacia - Lição 10 REVISÃO AV1 - Logística 22 A 26.5Documento53 páginasProf. Tacia - Lição 10 REVISÃO AV1 - Logística 22 A 26.5Fernanda VitaliAinda não há avaliações
- 10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineDocumento2 páginas10 Dicas para Reduzir Os Riscos para o Trabalhador Da Construção Civil - DDS OnlineAmorim AmorimAinda não há avaliações
- 1 Escola Da ExegeseDocumento11 páginas1 Escola Da ExegeseAna LiviaAinda não há avaliações
- 06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloDocumento48 páginas06 - Descobrindo o Amor Com Os Olhos Da Alma - MioloMarília Liloca100% (2)
- Regras MatriculaDocumento9 páginasRegras Matriculapaulo bessaAinda não há avaliações
- Abrindo Caixa de PandoraDocumento2 páginasAbrindo Caixa de PandoraTayrine SantosAinda não há avaliações
- Manual PortariaDocumento17 páginasManual PortariaDenilson TussiniAinda não há avaliações
- Quadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralDocumento8 páginasQuadro de Acompanhamento 3 Avaliação BimestralLeliane BarataAinda não há avaliações
- Treinamento de Força PDFDocumento59 páginasTreinamento de Força PDFCarlos ThiagoAinda não há avaliações
- NBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartDocumento28 páginasNBR 6405 - Maquinas Rodoviarias - Simbolos para Controles Do Operador e Outros Mostradores - PartSuel VicenteAinda não há avaliações
- 2 Lista Revisional - Conceitos BsicosDocumento2 páginas2 Lista Revisional - Conceitos BsicosPedro HenriqueAinda não há avaliações
- A Epistemologia Do Professor - BECKERDocumento172 páginasA Epistemologia Do Professor - BECKERCarolOenning100% (1)
- Penso Logo ExistoDocumento2 páginasPenso Logo ExistoDanilson100% (1)
- Tales of Demons and Gods Capitulo 428Documento5 páginasTales of Demons and Gods Capitulo 428edimarribeirodacunhaAinda não há avaliações
- EXERC - 1-PROVA BRASIL DESCR 3 (5º Ano - L.P)Documento3 páginasEXERC - 1-PROVA BRASIL DESCR 3 (5º Ano - L.P)Eduardo SilvaAinda não há avaliações
- FGV 2021 Imbel Cargos de Nivel Medio ProvaDocumento9 páginasFGV 2021 Imbel Cargos de Nivel Medio ProvaAnderson GarciaAinda não há avaliações
- Lição 10 A Destruição de JerusalémDocumento12 páginasLição 10 A Destruição de JerusalémRomário DiasAinda não há avaliações
- Treinamento EnemDocumento3 páginasTreinamento EnemJóVidal100% (1)
- Texto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataDocumento11 páginasTexto Seminario - Maria V Benevides Educação em DH de Que Se TrataGustavo FujiAinda não há avaliações
- Curso 109906 Aula 04 v1Documento85 páginasCurso 109906 Aula 04 v1Iury NeivaAinda não há avaliações
- Questões de Prova - TRANSCAL - Marcelo e YohananDocumento13 páginasQuestões de Prova - TRANSCAL - Marcelo e YohananLUCAS RENAN OLIVEIRA CABRALAinda não há avaliações
- SPORT TV - YouTube PDFDocumento1 páginaSPORT TV - YouTube PDFPaulaAinda não há avaliações
- Relatório de Entrega de Atividades Extensionistas Atual-2Documento2 páginasRelatório de Entrega de Atividades Extensionistas Atual-2Ana AzevedoAinda não há avaliações
- Gerald Holton. As Raízes Da Complementaridade PDFDocumento23 páginasGerald Holton. As Raízes Da Complementaridade PDFUmaitan JuniorAinda não há avaliações
- Projeto MemóriaDocumento4 páginasProjeto MemóriaKelly AdamsAinda não há avaliações
- 3.2. Aspiral HermenêuticaDocumento22 páginas3.2. Aspiral HermenêuticaMário AlbuquerqueAinda não há avaliações