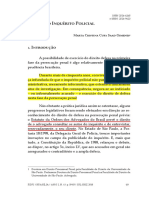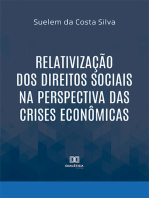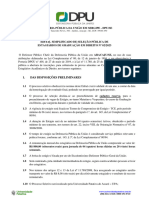Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cardoso JR, José Celso. Laccoud, Luciana. Políticas Sociais No Brasil - Organização, Abrangência e Tensões Da Ação Estatal
Enviado por
Anderson Cristopher Dos SantosDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cardoso JR, José Celso. Laccoud, Luciana. Políticas Sociais No Brasil - Organização, Abrangência e Tensões Da Ação Estatal
Enviado por
Anderson Cristopher Dos SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CAPTULO 5
POLTICAS SOCIAIS NO BRASIL: ORGANIZAO, ABRANGNCIA
E TENSES DA AO ESTATAL
Jos Celso Cardoso Jr.
Luciana Jaccoud
1 INTRODUO
O objetivo deste captulo analisar o modo de organizao e o quadro de
abrangncia das atuais polticas sociais brasileiras. Procura-se fornecer um panorama das polticas e programas que compem hoje o conjunto da ao social
do Estado brasileiro em nvel federal, destacando suas principais formas de
atuao, suas tendncias e tenses, assim como o perfil de sua cobertura.
Para realizar a anlise, ser desenvolvido um esforo no sentido de resgatar as trs vertentes histricas a partir das quais organizou-se o Sistema Brasileiro de Proteo Social (SBPS). A primeira delas, visando enfrentar a questo
social tal como se conformava na Repblica Velha, configurou-se por meio da
poltica social de cunho corporativo, organizada durante a dcada de 1930 e
assentada nos Institutos de Aposentadorias e Penses (IAPs) e na Consolidao
das Leis do Trabalho (CLT). A segunda, estabelecida na antiga tradio caritativa e filantrpica e voltada ao atendimento de certas situaes de pobreza,
passa a ser objeto, aps a dcada de 1930, da atuao do Estado. Por ltimo,
as polticas sociais assentadas na afirmao de direitos sociais da cidadania
que, apesar dos esforos anteriores, somente em 1988 se consolidar no pas.
A estes trs diferentes paradigmas juntou-se, na dcada de 1960, um conjunto de intervenes sociais do governo federal ancoradas em sistemas de remunerao de fundos pblicos. Estas formas de interveno, ainda hoje presentes
e atuantes no terreno das polticas sociais brasileiras, sero aqui recuperadas
no intuito de ajudar a compreender o panorama atual do SBPS.
O captulo apresenta, primeiramente, uma breve retrospectiva histrica
da evoluo da ao social do Estado no Brasil, tendo em vista a emergncia de
questes sociais. Na seqncia, procura-se identificar os quatro eixos do SBPS
(Trabalho, Assistncia Social, Direitos Sociais de Cidadania e Infra-Estrutura Social), relacionando conjuntos de polticas a certos princpios que as organizam.
182
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Nas sees seguintes, analisa-se cada um destes eixos, apresentando uma anlise
histrica sumariada de sua conformao, os impactos da Constituio de 1988,
assim como o quadro atual de sua abrangncia, tanto no que diz respeito sua
cobertura como aos recursos oramentrios disponibilizados. Busca-se ainda, antes da apresentao das concluses, destacar as tenses prprias aos diferentes grupos de polticas.
2 QUESTO SOCIAL E ESTADO: A CONSTRUO DA POLTICA
SOCIAL NO BRASIL
Nas dcadas de 1980 e 1990, o pas enfrentou uma ampla agenda de reformas
no que se refere ao social do Estado, que teve como resultante mudanas
significativas no perfil do SBPS. De fato, a Constituio de 1988 lanou as
bases para uma expressiva alterao da interveno social do Estado, alargando
o arco dos direitos sociais e o campo da proteo social sob responsabilidade
estatal, com impactos relevantes no que diz respeito ao desenho das polticas,
definio dos beneficirios e dos benefcios. A ampliao das situaes sociais
reconhecidas como objeto de garantias legais de proteo e submetidas regulamentao estatal implicaram significativa expanso da responsabilidade pblica em face de vrios problemas cujo enfrentamento se dava, parcial ou
integralmente, no espao privado. A interveno estatal, regulamentada pelas
leis complementares que normatizaram as determinaes constitucionais, passou a referir-se a um terreno mais vasto da vida social, tanto com objetivos de
equalizar o acesso a oportunidades, como de enfrentar condies de destituio de direitos, riscos sociais e pobreza.
Entre os avanos da Constituio de 1988 na determinao da responsabilidade estatal em funo da necessidade de proteo social dos cidados, pode-se
destacar: i) a instituio da Seguridade Social como sistema bsico de proteo
social, articulando e integrando as polticas de seguro social, assistncia social e
sade; ii) o reconhecimento da obrigao do Estado em prestar de forma universal, pblica e gratuita, atendimento na rea de sade em todos os nveis de
complexidade; para tanto, o texto constitucional prev a instituio do Sistema
nico de Sade (SUS), sob gesto descentralizada e participativa; iii) o reconhecimento da assistncia social como poltica pblica, garantindo direito de acesso a
servios por parte de populaes necessitadas, e direito a uma renda de solidariedade por parte de idosos e portadores de deficincia em situao de extrema pobreza; iv) o reconhecimento do direito aposentadoria no integralmente
contributiva (ou seja, parcialmente ancorada em uma transferncia de solidariedade) dos trabalhadores rurais em regime de economia familiar; e v) o reconhecimento do seguro-desemprego como direito social do trabalhador a uma proviso
temporria de renda em situao de perda circunstancial de emprego.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
183
Em que pese a importncia de tais determinaes, o texto constitucional
no realizou uma refundao do SBPS.1 De um lado, reafirmou princpios que
caracterizam historicamente certas polticas, como foi o caso do carter
contributivo da Previdncia Social ou da obrigatoriedade da Educao no que
se refere ao ensino fundamental. Contudo, paralelamente, incluiu princpios
diferenciados e, em parte, contraditrios em certas reas, como pode ser visto
no captulo que trata da Seguridade Social. A reafirmao do carter contributivo
da Previdncia Social acompanhada do reconhecimento de uma interveno
diferenciada em relao aos trabalhadores rurais. Outro exemplo a ser observado a afirmao da universalidade da Assistncia Social, a ser oferecida a quem
dela necessitar, ao mesmo tempo em que se reafirmam seus objetivos de atendimento aos grupos identificados por vulnerabilidades tradicionais, como o
caso das crianas, idosos ou portadores de deficincia. A universalidade integral, no que se refere Seguridade Social, apenas no atendimento de sade.
Pode-se dizer que essas polticas, no obstante terem sido integradas numa
perspectiva mais generosa de proteo social, no foram submetidas a um princpio nico, seja da garantia de proteo a todos os cidados, seja de reforo ao
modelo conservador de bem-estar at ento em vigor. A referncia a princpios
organizacionais diferenciados pode ser verificada mesmo em momento anterior,
como ser visto na anlise do processo de construo da poltica social no pas.
Porm, antes de avanar neste ponto, importante retomar aqui o debate, de
forma sintetizada, sobre a pobreza, a questo social e a formao de sistemas
pblicos de proteo social.
2.1 Pobreza, questo social e modos de regulao
A questo de como, em nossa sociedade, as temticas da precariedade,
vulnerabilidade, pobreza e excluso passaram para o primeiro plano do debate
poltico e tornaram-se objeto de polticas pblicas um tema central das cincias
sociais e objeto de ampla literatura. Apesar das diferenas nas anlises das causas de
sua emergncia, diferentes autores convergem para o reconhecimento de que os
Estados de Bem-Estar consolidados para o sculo XX, em grande nmero de
pases, podem ser definidos como organizadores de sistemas de garantias legais
tendo por objetivo realizar, fora da esfera privada, o acesso a bens e servios que
assegurem a proteo social do indivduo em face de alguns riscos e vulnerabilidades
sociais.2 Incluem-se aqui aes no sentido da proteo contra riscos sociais (doena, velhice, morte, desemprego), contra a pobreza (programas de mnimos sociais)
e de garantia de acesso aos servios de educao e sade.
1. Ver, a respeito, Draibe (2001).
2. Uma anlise dessa bibliografia pode ser encontrada em Aureliano e Draibe (1989), Vianna (1989) e
Arretche (1995).
184
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
A construo de tais sistemas estatais responde, de um lado, emergncia
dos conflitos sociais gerados nas economias capitalistas e, de outro, s demandas
por igualdade gestadas num contexto de lutas pela democracia. Os conflitos
sociais associados ao processo de industrializao das sociedades modernas impulsionaram o Estado a intervir e a instituir certas garantias na medida em que
ampliou-se o reconhecimento da incapacidade da esfera econmica para suprir,
via mercado, um conjunto de necessidades consideradas socialmente relevantes.3 Por sua vez, a construo de sistemas estatais de proteo social impulsionada por uma ampliao de demanda por igualdade e autonomia oriunda da
afirmao da igualdade entre os indivduos no contexto de organizao poltica
das sociedades modernas, seja para enfrentar problemas advindos da ampliao
da participao, 4 seja para dar retorno ao problema da baixa participao poltica e fraca institucionalizao democrtica.5
As demandas por proteo social e por igualdade organizam-se, contudo,
de forma diferenciada em cada sociedade, e interagem em funo de sua dinmica econmica, social e da forma de organizao e legitimao de seu sistema
poltico. A resposta a elas apresentada depende da forma como se constitui a
questo social, aqui entendida no sentido que lhe d Castel: como uma contradio em torno da qual uma sociedade experimenta o enigma de sua coeso e tenta
afastar o risco de sua fratura (Castel, 1995, p. 18). Nesse sentido, a questo
social estrutura-se de forma diferenciada, em torno de uma problemtica que,
num dado momento histrico, apresenta a uma sociedade um risco de ruptura,
testando sua tolerncia, no campo social e poltico, a processos determinados de
excluso social.
Nessa perspectiva, possvel e mesmo necessrio diferenciar a questo da
pobreza da questo social. Sob este ponto de vista, h, na verdade, dois aspectos relevantes a serem considerados. O primeiro refere-se complexidade e
diversidade das questes que cercam o processo de reconhecimento da pobreza
como um problema dotado de relevncia social e legitimado no debate poltico. O segundo aspecto, que deve ser posto a partir de uma perspectiva histrica, saber at que ponto, uma vez reconhecidos como legtimos, os objetivos
de incluso de grupos pobres da populao e a busca da eqidade tm sido
canalizados para a via da construo da ao social do Estado.
Quanto ao primeiro aspecto, o que se procura aqui lembrar que apenas
em certas condies o debate poltico conforma-se sobre a questo da pobreza
3. Castel (1995).
4. Donzelot (1994).
5. Santos (1992).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
185
e geralmente o faz, no processo de legitimao como objeto de interveno pblica e de articulao da solidariedade social, levando em conta as distintas dimenses da pobreza.6 Enquanto a pobreza operria correspondeu, nas sociedades
modernas, a uma questo social ligada ao trabalho, j amplamente reconhecida
na Europa em meados do sculo XIX e no Brasil no primeiro quarto do sculo
XX, outras situaes de pobreza, pensadas como pobreza de populaes especficas ou pautadas em termos gerais, observaram trajetrias distintas em sua
legitimao como objeto direto de interveno pblica ou estatal de proteo
social. De fato, as populaes pobres isentas da obrigao de trabalho como
o caso dos doentes, das crianas ou dos invlidos so, h muito, objeto de
intervenes pblicas especializadas, cuja origem se assenta em larga medida em
iniciativas privadas e confessionais, que visam assistir os casos no atendidos
pelas redes de sociabilidade primria. A legitimidade da interveno pblica
com relao s populaes em situao de pobreza, mas capazes para o trabalho
(tanto no espao urbano como no rural), tem sido, por sua vez, objeto de um
longo debate que perpassa as sociedades modernas at a atualidade. 7
O segundo aspecto supracitado busca destacar que, mesmo quando legitimada no debate poltico, a pobreza em suas vrias dimenses no necessariamente recebe como resposta o reconhecimento da necessidade de construo de
um sistema de instituies e intervenes estatais. Como j foi enfatizado por
autores como Procacci (1993), a conformao de uma questo social no implica
necessariamente e no significou historicamente a construo de um aparato
estatal de interveno.8 A atuao direta do Estado no campo social no que diz
respeito, por exemplo, pobreza operria, foi antecedida por outras experincias
de gesto no-estatal do social. Nas sociedades modernas, que sofriam o impacto
da industrializao e de demandas por democratizao, mudanas na forma de
entender a pobreza, reconhecida no mais como fenmeno natural ou como
simples decorrncia das trajetrias individuais, refletiram-se no desenvolvimento de interpretaes e de intervenes diversas no campo social. Destacam-se as
respostas de cunho econmico, ancoradas na valorizao e obrigao do trabalho
e sua promoo por meio do desenvolvimento da atividade produtiva. Estas,
entretanto, comearam a mostrar seus limites com a reproduo da misria entre as classes trabalhadoras e o aumento dos conflitos sociais ligados s condies
de trabalho no decorrer do sculo XIX e incio do sculo XX. Neste contexto
histrico, destacaram-se outros esforos como os desenvolvidos em prol de uma
6. Castel (1993) e Esping-Andersen (1999).
7. Castel (1993).
8. Ver Ewald (1986) e Rosanvallon (1990).
186
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
gesto filantrpica da pobreza diretamente participante do processo produtivo. 9
Influenciado, sobretudo, pela Igreja, o movimento filantrpico refletiu-se, tambm no Brasil, no nascimento das escolas de servio social, contribuindo para o
movimento de se organizar uma poltica de combate pobreza operria atrelada
obrigao moral e ao dever de solidariedade. 10
A problemtica da pobreza da populao no trabalhadora refere-se, assim,
a um campo diferenciado da interveno pblica, que, na maioria dos pases
desenvolvidos, s posteriormente incorporou-se ao campo de interveno do
Estado. De fato, assistiu-se cedo ao florescimento de aes assistenciais na oferta
de proteo a populaes pobres classificadas como vulnerveis e consideradas
incapazes para o trabalho, sendo assim reconhecidas como merecedoras da solidariedade social. o caso de crianas rfs ou abandonadas, idosos, deficientes e
doentes sem recursos, mulheres com crianas em situao de pobreza, alm de
grupos vitimados por calamidades, para os quais aceitou-se a legitimidade da
necessidade de ateno especfica, na base de suportes e ajudas sociais, fornecidas,
ao longo de sculos, por iniciativas de carter filantrpico e, progressivamente,
pelo Estado, organizadas ou no sob a forma de garantias legais.11
A especificidade da construo dos Estados de Bem-Estar Social , entretanto, outra: responder questo social que surge com a expanso da pobreza
e da vulnerabilidade nos grupos participantes ou potencialmente participantes do processo de acumulao e de produo de riquezas. Em torno deles
articula-se uma questo ao mesmo tempo poltica e social, em termos do acesso e da organizao do trabalho e da vulnerabilidade da decorrente. O chamado Estado de Bem-Estar nasceu, de fato, da construo de um sistema de garantias
em torno das relaes de trabalho assalariadas. Sua expanso a outras situaes
de vulnerabilidade da vida social foi, nos pases desenvolvidos, em especial naqueles da Europa Ocidental, crescente e associado expanso do assalariamento
e ao processo de fortalecimento do Estado-nao e da cidadania. Cabe lembrar
que tambm naqueles pases o processo de ampliao da cidadania via expanso
de direitos passou pela reelaborao do prprio conceito de trabalho, como indicam os debates em torno dos conceitos de cidadania ativa e trabalho til. 12
9. Poderiam ainda ser lembrados aqui outros exemplos alm do filantrpico, como o caso da longa
histria do patronato ou as experincias de auto-ajuda e organizao social autnomas em prol da
proteo social realizadas pelo movimento sindical.
10. Carvalho (1982).
11. Sobre a histria da interveno social sobre os grupos considerados incapazes para o trabalho, ver
Castel (1995, caps. 1 e 2).
12. Procacci (1993).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
187
Segundo Castel (1995), a consolidao do Estado Social est diretamente relacionada ao reconhecimento, na esfera poltica, da ineficcia de outras
formas de regulao sobre a questo social. Este foi um processo particularmente vigoroso nos pases onde o crescimento da produo de riquezas no se
identificou com o processo de reduo da pobreza operria, associando-se
mesmo, em larga medida, como sua causa. Tendo sido afastadas as demais
alternativas para a resoluo da questo social como as que propugnavam
solues via mercado, via moralizao do povo, via aes de solidariedade ou
via movimentos revolucionrios , fica fortalecida a alternativa de negociao
de medidas de proteo social garantidas pelo Estado.
Tal processo foi acompanhado pela emergncia de uma esfera diferenciada de interveno estatal a social , distinta das esferas econmica e poltica.
De fato, o avano do processo de legitimao da participao do indivduo
pobre no espao poltico e a reproduo da pobreza no mbito das relaes
econmicas, em que pese a progresso na produo de riquezas, permitiu a
ampliao do campo de ao social do Estado por meio de polticas sociais. Foi
neste ambiente que se afirmou a questo da desigualdade como questo central, cujas implicaes situam-se fora do campo econmico e requisitam a interveno pblica pela via de polticas de Estado. A cidadania, expandida tanto
em termos polticos como em termos sociais, permitiu a construo de um
novo paradigma para a organizao da proteo social: os direitos sociais.
Assim, a construo dos direitos sociais de educao, sade e proteo
social, base da cidadania social, reporta-se a uma estratgia de enfrentar a
temtica da desigualdade, central no debate poltico das sociedades modernas. Como afirma Reis, Ser cidado identificar-se com uma nao em particular e ter prerrogativas que so garantidas pelo Estado. 13 A cidadania social
faz parte deste ncleo de prerrogativas, e permite ampliar a aderncia entre
direitos e obrigaes implcitos a este pertencimento por intermdio da garantia de acesso a um conjunto de bens e servios considerados essenciais. A cidadania social realiza, assim, uma ampliao do espao pblico, deslocando para
fora do mercado setores importantes da reproduo social e despolitizando os
conflitos relacionados desigualdade.14
O processo de constituio da cidadania social tem uma trajetria bastante diversificada. Na Europa, a generalizao de um sistema pblico de proteo social passou a abarcar no apenas as classes trabalhadoras urbanas, mas
toda a populao, universalizando-se, na maioria dos pases, aps a Segunda
13. Reis (1998).
14. Procacci (1999).
188
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Grande Guerra, num contexto de reafirmao das identidades e solidariedades
nacionais e de fortalecimento dos Estados nacionais.15 De qualquer forma, seja
via assalariamento, seja via cidadania, a expanso das polticas sociais parece
visar menos ao combate direto pobreza que problemtica da coeso social.
O problema enfrentado pela poltica social parece ser menos o de compensar
as amplas desigualdades sociais que marcam as sociedades modernas, e mais o
de responder s desigualdades que, em determinados contextos histricos, so
suspeitas de ameaar a reproduo destas mesmas sociedades. Neste sentido,
busca-se, na seqncia, associar a montagem de diferentes grupos de polticas
sociais evoluo da questo social no Brasil.
2.2 Pobreza, cidadania e proteo social no Brasil
A literatura brasileira sobre o tema tem apontado que, em consonncia com
a experincia internacional, a atuao social do Estado teve origem no aparecimento das classes trabalhadoras urbanas e no esforo de dar resposta aos conflitos que marcaram as relaes capital-trabalho num contexto de crescente
industrializao. 16 Questo social foi o termo usado para designar, no Brasil,
durante as quatro primeiras dcadas do sculo XX, os problemas colocados,
no cenrio social e poltico, pela classe operria.17 A problemtica era, de fato,
no apenas social. A produo da riqueza nacional deixava de ser exclusivamente
agrcola e passava a ser tambm industrial. Ao mesmo tempo, fosse pela avaliao de que o pas necessitava de novo plo dinmico, fosse pelo diagnstico
negativo sobre o papel das elites rurais na construo da nao, fortalecia-se a
tese da necessidade da ao estatal na promoo do desenvolvimento econmico.18 Emerge, nesta nova concepo, uma mudana na forma de compreender
o valor do trabalho e na forma de perceber as massas trabalhadoras urbanas e
suas vulnerabilidades.19 Neste contexto, passa a ser gestada a construo de
uma nova forma de governabilidade sobre o social, distinta tanto das aes
assistenciais privada, quanto das redes de proteo assentadas nas tutelas de
cunho tradicional.
A consolidao da ao social do Estado, realizada na dcada de 1930,
deu-se, assim, pelo trabalho, e teve como modelo o sistema bismarkiano. 20
Caracterizou-se pela constituio de caixas de seguro social, organizadas por
15. Join-Lambert (1994) e Rosanvallon (1998).
16. Santos (1987).
17. Araujo (1981), Vianna (1976) e Gomes (1979).
18. Lamounier (1999).
19. Gomes (1979 e 1994).
20. Santos (1987).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
189
setor econmico, financiadas e geridas por empregados, empregadores e pelo
Estado, as quais visavam proteger os trabalhadores e seus familiares de certos
riscos coletivos. Tal modelo desenvolveu-se articulado com um amplo esforo de
regulamentao do mundo do trabalho assalariado. Ao lado da implementao
da poltica de proteo social propriamente dita, ou seja, aquelas medidas destinadas a garantir um fluxo de rendas e de servios queles que, participantes do
processo produtivo, se encontravam em condies de impossibilidade de trabalho por motivos de doena, invalidez ou morte , realizaram-se regulamentaes das relaes e condies de trabalho. Assim, todo o sistema de aposentadorias
e penses, consubstanciado em um complexo mecanismo de transferncias monetrias, deriva de direitos que se fundam no exerccio pretrito do trabalho,
mais especificamente do emprego assalariado legal, de acordo com a experincia
dos modelos chamados bismarkianos ou meritocrtico-contributivos.
Mantiveram-se fora do alcance do sistema de proteo social as populaes
no participantes do processo de acumulao. Contudo, isso no significou uma
ausncia de propostas em sua direo. Os projetos de modernizao da economia e da sociedade no Brasil o primeiro entendido como condio para o
segundo que se sucederam desde o fim da Repblica Velha previam a integrao
dos pobres, em especial dos pobres urbanos, aos benefcios do progresso pela via
do trabalho, e, mais especificamente, do trabalho assalariado. Este modelo de
gesto econmica da pobreza se projetava no futuro, com a promessa de sua
incorporao progressiva ao mundo do trabalho regulado.
Dessa forma, tambm no Brasil, a ao social do Estado foi uma das respostas questo social representada pela pobreza operria, disputando, ao menos
desde a dcada de 1920, com outras alternativas, a gesto da questo social. 21 Se
pudermos dizer que, na dcada de 1920, o pas assistiu a uma crise da resposta
liberal, ancorada na liberdade dos contratos, este processo no significou o esgotamento da alternativa econmica como resposta ao problema da pobreza.
A instituio da poltica previdenciria implicou o reconhecimento do limite da
resposta dada at ento pelo mercado questo social. O projeto modernizante
dos anos 1930, renovado com o projeto desenvolvimentista, hegemnico entre
os anos 1950 e 1970, sustentou, ainda no mesmo perodo, a proposta de incluso dos demais segmentos da populao. Estes projetos acenavam com a perspectiva futura de incorporao dos trabalhadores pobres no assalariados a uma
situao de estabilidade no trabalho e acesso proteo social via assalariamento. 22
21. Gomes (1994).
22. Jaccoud (2002).
190
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Sob a hegemonia de um projeto de bem-estar baseado no desenvolvimento
da produo econmica nacional e na ampliao do assalariamento, a proteo
social s populaes vulnerveis no incorporadas pelo trabalho assalariado continuaria, durante o perodo entre 1930 e 1980, orientada na forma de uma
gesto filantrpica da pobreza, realizada predominantemente por instituies
privadas que contavam com o apoio de financiamento pblico. 23 De fato, durante o governo Vargas, o Estado comea a organizar sua atuao no campo da
assistncia social, mas o faz de forma ambgua. A dcada de 1930 assiste criao da Legio Brasileira da Assistncia (LBA) e do Conselho Nacional de Servio
Social (CNSS), formatando, de um lado, a influncia das elites polticas no
campo da assistncia social, e de outro, assegurando a contribuio financeira do
Estado s obras e entidades assistenciais.24 Paralelamente, a filantropia modernizada com o nascimento do Servio Social, cujas escolas implantavam-se sob a
coordenao da Igreja Catlica.25 Ambas as influncias a tradio catlica da
caridade e o dever moral da filantropia foram marcantes na conformao de
uma rede de ajuda e de assistncia aos pobres, sobre a qual pouco atuavam aes
de regulao do Estado e onde no se afirmava a responsabilidade pblica.
Assim, no Brasil, e no s aqui, a histria da interveno social em prol dos
pobres teve incio em aes e instituies de carter assistencial no-estatal, movidas pelos ideais da caridade e da solidariedade. A fora do projeto corporativo,
que sinalizava com a incorporao futura dos segmentos no assalariados a um
mercado de trabalho moderno e proteo social que lhe estava vinculada pode
ser tambm associada ao grande peso que o segmento filantrpico manteve entre
ns. De fato, a ao estatal no se imps seno parcialmente aos demais modelos
de regulao social que lhe estava vinculada, num processo de coexistncia entre
regimes de regulao que ainda hoje se reproduz. Em seus traos gerais, o processo de construo da interveno social junto aos pobres organizou-se em larga
medida por meio de um aparato assistencial de origem privada, o qual contava
com apoio estatal no campo do financiamento direto e indireto. A consolidao
de um eixo de polticas pblicas no campo da assistncia social, ocorrida somente aps a Constituio de 1988, , assim, herdeira de uma ampla tradio de
subsidiariedade, ajuda e filantropia, em funo da qual dever se instituir.
23. Mestriner (2001).
24. O Conselho Nacional do Servio Social (CNSS) foi criado em 1938, e a Legio Brasileira de Assistncia
(LBA) em 1942. O CNSS e a LBA tm sua histria marcada pela imbricao entre os espaos pblicos e
privados. O CNSS organizava a poltica de subvenes federais s entidades beneficentes privadas,
enquanto a LBA fez emergir uma interveno paralela s obras religiosas de assistncia, sem entretanto
deslocar a ao assistencial para o campo estatal.
25. Carvalho (1982).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
191
Paralelamente s polticas de seguro e de assistncia social, o SBPS conta
hoje com duas polticas de escopo universal, cujo acesso garantido a toda
a populao, independentemente de condicionalidades de qualquer natureza: a
sade e o ensino fundamental. A identidade destas polticas como direito social
garantido a todos os cidados fruto de longa e tortuosa trajetria. A dcada de
1920 assistiu emergncia, no Brasil, tanto de uma questo da sade pblica 26
quanto de uma questo nacional da educao. 27 A criao do Ministrio da
Educao e da Sade Pblica visava dar resposta a novas demandas sociais que
vinham ancoradas em um projeto de construo nacional e de reafirmao da
responsabilidade do Estado em relao s condies de vida da populao.
A educao pode ser identificada como o mais antigo campo de ao social
do Estado no Brasil. Em que pese o fato da organizao de um sistema nacional de
educao ter sido estruturado apenas aps 1930, desde a Constituio de 1891 a
educao primria reconhecida como obrigatria. Entretanto, at 1960, o pas
ter um sistema classificado como dual e restrito: na Primeira Repblica, escolas
do povo versus escolas da elite; do perodo varguista at o perodo 1945-1964,
educao para o trabalho versus educao voltada formao geral. Ser aps a
aprovao da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) em 1961 que a expanso do sistema
educacional ser consubstanciada.
A poltica de sade, a partir da dcada de 1930 e durante os cinqenta
anos que se seguiram, desenvolveu-se em dois diferentes nveis de interveno.
Enquanto avanava a ao estatal na implementao de polticas de combate a
endemias e servios de natureza preventiva, baseada no conceito de
interdependncia social no que se refere doena transmissvel, o acesso ao tratamento mdico-hospitalar era garantido apenas para os trabalhadores do setor
formal da economia, cobertos pelo sistema previdencirio. No obstante a ampliao da cobertura do sistema previdencirio observada na dcada de 1970, e
a conseqente expanso no acesso aos servios mdico-hospitalares, somente
na dcada de 1980 que a sade se converte em um direito do cidado, passando
a poder ser analisada, em conjunto com a poltica de educao fundamental,
enquanto uma poltica universal, de carter permanente, reconhecida como direito social vinculado cidadania.
De fato, os anos 1980 significaram, para um conjunto de polticas sociais
como as da Sade e da Assistncia Social, um perodo da ampla reformulao,
com impactos importantes na prpria organizao do SBPS. A relevncia da
dcada advm da forte agenda reformista que ento se constituiu tanto no que
26. Hochman (1998).
27. Aureliano e Draibe (1989).
192
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
se refere s polticas sociais quanto prpria questo social. Esta agenda foi
impulsionada, de um lado, pelo movimento poltico em prol da
redemocratizao do pas, em torno do qual mobilizavam-se amplos setores da
sociedade e por meio do qual reorganizavam-se demandas sociais reprimidas
desde 1964. De outro lado, a crise do milagre econmico fazia-se sentir, expondo os limites do modelo de desenvolvimento nacional no que tange dinmica de incluso dos setores mais desfavorecidos e contribuindo para a
legitimao de um novo projeto social.
A retrao econmica observada a partir da segunda metade dos anos
1970 ampliou, durante a dcada de 1980, a percepo de que a expanso da
proteo aos riscos sociais desenhada pela poltica previdenciria assentava-se
em um processo de expanso do assalariamento que j encontrava seus limites.
A incluso dos trabalhadores ligados ao setor informal da economia e daqueles
vinculados economia familiar urbana e rural permanecia como um desafio
para uma poltica de proteo social ainda largamente fundamentada no princpio do seguro social e majoritariamente financiada por contribuies sociais.
Para manter-se coerente com os princpios contributivos que a sustentavam, a
Previdncia Social oscilava entre a concesso de benefcios de valores extremamente baixos e a simples no-cobertura. Ao lado do reconhecimento dos limites da poltica previdenciria, consolidou-se ainda a interpretao de que tanto
a regulao da pobreza pela filantropia, como sua superao via desenvolvimento econmico, eram insuficientes para responder a um fenmeno que passava a ser caracterizado no debate nacional como estrutural. Abria-se o terreno
ento para que a pobreza passasse a ser focalizada como tema prprio e prioritrio
da ao social do Estado.
A redemocratizao, por sua vez, no apenas permitia a expresso de
demandas reprimidas, como colocava mais uma vez ao pas a necessidade de
enfrentar o tema da igualdade que, apresentada no plano poltico, no podia
mais a ele ficar restrita. Sob o impacto da luta pela ampliao da democracia,
a questo da pobreza ganharia uma dimenso central. A reconstruo da cidadania pressupunha a afirmao da igualdade de todos os cidados no que se
refere participao poltica face a qual se ancoraria a prpria legitimidade do
Estado. Ao mesmo tempo, recuperam-se os ideais universalistas como
norteadores da ao pblica no campo da proteo do cidado, seja no mbito
dos direitos civis, seja no dos direitos sociais. Estruturada na afirmao da
igualdade, a democracia pressupe o reconhecimento do cidado, independentemente de sua condio socioeconmica. Conforme j formulou Procacci
(1993), o debate social em torno da pobreza est no corao da democracia
porque ali os pobres no podem no ser iguais.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
193
A partir desse conjunto de preocupaes estrutura-se um amplo debate
sobre as polticas sociais que se incorporaro agenda constituinte.28 A Constituio de 1988 espelhar os ideais universalistas acoplados a uma idia ampliada de cidadania, em busca da expanso da cobertura de polticas sociais no
que diz respeito a bens, servios, garantias de renda e equalizao de oportunidades. Ela tentar superar um sistema marcado pelo autofinanciamento,
excludente e no-distributivo, procurando instituir as bases para a organizao de um sistema universal e garantidor de direitos.29 O sistema que ento
emerge, em que pesem os inegveis avanos, compe-se ainda de polticas
diferenciadas, organizadas a partir de distintos princpios de acesso, financiamento e organizao institucional, reflexo tanto de suas trajetrias no
homogenias como das escolhas realizadas no campo poltico. Este ser o objeto das prximas sees deste captulo.
3 O SISTEMA BRASILEIRO DE PROTEO SOCIAL:
UMA PROPOSTA DE ANLISE
Estudos desenvolvidos desde meados da dcada de 1980 vm enfatizando que a
importncia do aparato institucional e do gasto pblico no mbito das polticas
sociais, assim como a abrangncia de sua cobertura, justificariam uma anlise
sob a perspectiva de um sistema de proteo social. 30 Caracterizado como insuficiente, incompleto ou mesmo perverso, o SBPS tem sido objeto privilegiado de
estudo, assim como campo das mais diversas proposies. Apesar do progressivo
avano de aspectos importantes das condies de vida no pas expressos na melhoria
28. Segundo Vianna e Silva (1989), os eixos da agenda reformadora das polticas sociais eram: descentralizao
na execuo, controle social das polticas e programas, integrao das polticas, democratizao do acesso aos
bens pblicos e universalizao da Seguridade Social, tecnologias adequadas e maior comprometimento das
fontes fiscais no financiamento.
29. De fato, no campo da proteo a riscos sociais, a Constituio procurou dar garantias de financiamento que
pudessem sustentar a incorporao dos grupos sociais ainda excludos daquela forma de cobertura. Este
esforo foi consolidado em um sistema misto, cujo acesso se d, no mbito da Previdncia Social, pela via da
contribuio. Contudo, para ampliar a cobertura, a Constituinte flexibiliza as fontes de financiamento e formas
de contribuio da Previdncia Social, dando margem incluso dos trabalhador es rurais em regime de
economia familiar. Paralelamente, a nova Carta Magna determinou a constituio de polticas de proteo de
carter no contributivo, a Assistncia Social. No houve porm a explicitao da cobertura obrigatria a todos
os cidados, e a regulamentao de ambas as polticas afastou-as de um padro mais integrado de proteo
social que pudesse ser identificado em uma cobertura universal. Sobre a reestruturao do SBPS a partir da
Constituio de 1988, ver Draibe (1989).
30. Em especial Aureliano e Draibe (1989) e Draibe (1998 e 2002) chamam a ateno, para efeito de
reconhecimento do SBPS, para a existncia de amplos programas de prestao de servios bsicos e
de transferncia de renda, relevncia do gasto social pblico, enormes clientelas j cobertas, complexidade institucional destas polticas, assim como para a profissionalizao das burocracias. Ver tambm
Draibe, Castro e Azeredo (1991).
194
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
de certos indicadores sociais como expectativa de vida ou mortalidade infantil, a
gravidade da situao social, como foi mostrado nos captulos anteriores, reafirma
a necessidade do debate sobre o escopo do SBPS.
Neste captulo, entende-se por Sistema Brasileiro de Proteo Social o conjunto de polticas e programas governamentais destinado prestao de bens e
servios e transferncia de renda, com o objetivo de cobertura de riscos sociais,
garantia de direitos sociais, equalizao de oportunidades e enfrentamento das
condies de destituio e pobreza. O esforo estatal no campo da proteo
social tem sido reconhecido como um sistema menos pelo fato de se ter constitudo no pas um conjunto articulado de polticas, e mais por ter-se estruturado
aqui, ao longo do sculo XX, um conjunto abrangente de programas especificamente sociais, nas reas da previdncia e assistncia, trabalho, alimentao, sade
e educao, alm de habitao e saneamento. Deste modo, tem-se hoje um sistema de proteo amplo, ainda que certamente heterogneo, incompleto e muitas
vezes ineficaz, mas dotado de instituies, recursos humanos e fontes de financiamento estveis que garantem sua implementao em carter permanente.
Contudo, preciso reconhecer que o estudo sobre o perfil atual do SBPS
apresenta dificuldades no despezveis. A primeira, j tratada aqui, refere-se
diversidade da ao social do Estado, tanto no que diz respeito forma como
natureza das polticas sociais. A segunda remete ao fato de que o SBPS desenhado pela Constituio, e cuja grande inovao foi a afirmao da tese da
necessidade da criao de um sistema integrado e articulado de polticas pblicas no campo social, ainda est em processo de consolidao. A terceira diz
respeito sua implementao, que passou a sofrer, desde cedo, a concorrncia
de outros projetos de interveno social baseados em princpios diferenciados de
gesto da vida social. Examina-se a seguir mais de perto cada uma destas duas
ltimas ordens de dificuldades apontadas.
Quanto s reformas ocorridas no seio do Estado brasileiro em decorrncia
das determinaes do novo texto constitucional, tem-se que estas apontavam para
a construo de uma nova institucionalidade no campo das polticas sociais.
A criao de novas garantias de proteo social, ao mesmo tempo em que exigiu
esforos de reorganizao das polticas ento existentes, impeliu a construo de
um conjunto novo de intervenes e instituies, levando o processo de reformas a
se realizar em um universo marcado por grande heterogeneidade institucional.
Simultaneamente, o processo de construo do novo sistema de proteo social
implica a emergncia de novas tenses, na medida em que se atribui ao Estado
responsabilidades que no so todas referentes aos mesmos princpios de proteo
social ou de regulamentao institucional. As diferentes problemticas sociais enfrentadas pela Constituio relacionam-se com espaos distintos da vida social,
respondendo a processos diferenciados de criao e recriao de vulnerabilidade e
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
195
risco. Assim, ao se refletir sobre o sistema de proteo social que emerge da Constituio de 1988, vai-se alm da anlise dos espaos abertos ao estatal. Trata-se
igualmente de refletir em que medida o campo da proteo social aberto pela nova
Constituio provoca a construo ou reconstruo de eixos diferenciados de polticas sociais, em torno dos quais passam a se desenvolver polticas articuladas e
tenses especficas.
No que se refere ltima das dificuldades apontadas, tem-se que, ao lado
do processo de reorganizao do Estado brasileiro que deriva das determinaes da Carta Constitucional, novos fatores atuam no sentido da construo
de uma outra institucionalidade no campo das polticas sociais. Destaca-se o
fato da agenda de reformas sociais ter sido renovada durante a dcada de 1990,
seja em decorrncia das restries econmicas do perodo e sua conseqente
limitao oramentria, seja ainda por influncia de uma nova vertente no
debate, a qual reivindica a necessidade de priorizar o combate pobreza. Neste contexto, tomam corpo proposies de reformas em aspectos variados do
SBPS, visando combater os chamados excessos do perfil atual do sistema, produtos da viso democrtica e universalista que caracterizaram o texto Constitucional de 1988. Durante este perodo, emergiu assim uma nova agenda
poltica que radicaliza o diagnstico da gesto da pobreza, elevando-a ao status
de principal, seno nico, objetivo legtimo da poltica pblica no campo
social.31 bem verdade que, desde a dcada de 1980, ao mesmo tempo em
que tinha incio um ciclo de reformas dos programas sociais brasileiros, avanava a crtica legitimidade da proposta de incorporao social pela via dos
direitos sociais. Reforava-se novamente a interpretao que assenta na trajetria profissional a responsabilidade pela proteo social e pelo acesso a grande
parte dos bens e servios sociais. Entretanto, diferentemente do antigo modelo, a nova proposta distancia-se de um projeto de expanso da proteo social
fundada no assalariamento, e apia-se na velha idia da suficincia do mercado
para a garantia de proteo social parcela majoritria da populao.
Tendo em vista enfrentar tais dificuldades, a estratgia aqui adotada examinar a trajetria recente do SBPS pelas linhas organizadoras que o atravessam,
aqui chamadas de Eixos Estruturantes das Polticas Sociais.32 A identificao
destes eixos ancora-se tanto na leitura histrica empreendida nas sees anteriores como no levantamento de certas caractersticas institucionais especficas ao
caso brasileiro, a ser realizado nas prximas sees, visando permitir o resgate das
diferentes modalidades de interveno que hoje se agrupam no SBPS. O reco31. Ver, a respeito, Theodoro e Delgado (2003).
32. Draibe (2003) j havia avanado neste caminho. Ali identifica cinco pilares na organizao do SBPS:
universal, seletivo/focalizado, contributivo, proviso privada com subsdio pblico, e proviso puramente privada.
196
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
nhecimento das origens diferenciadas de tais polticas permitir ainda ampliar a
capacidade de identificar contradies e tenses entre estes conjuntos de polticas, assim como no interior de cada uma delas, fruto tanto das enormes mudanas sociais que sofreu o pas ao longo dos ltimos setenta anos como da ampliao
das tarefas que passaram a ser atribudas ao Estado brasileiro no perodo. 33
A partir deste recorte analtico e destacados os princpios de acesso, podese observar a existncia de quatro diferentes grupos de polticas sociais: i) polticas que se agrupam em torno do Eixo do Emprego e do Trabalho; ii) polticas
que se agrupam em torno do Eixo da Assistncia Social e do Combate Pobreza; iii) polticas que se agrupam em torno do Eixo dos Direitos Incondicionais
de Cidadania Social; e iv) polticas que se agrupam em torno do Eixo da InfraEstrutura Social. Uma fotografia do quadro da ao social do Executivo federal
no Brasil, estruturado em torno dos quatro eixos de ao do Estado, pode ser
observada no quadro 1.34
33. importante lembrar que a anlise aqui realizada no tem como foco a integralidade do SBPS, mas
apenas aquela parte que est sob responsabilidade do Executivo federal. A presena desta esfera de
governo como regulador, gestor e financiador bastante varivel a depender da poltica em questo.
Com efeito, uma srie de fatores contribui para explicar esta situao, mas o destaque cabe ao significativo processo de descentralizao das polticas sociais levado a cabo no perodo ps-1988. Assim, no
caso da Sade, e da Educao nos nveis fundamental e mdio, embora boa parte dos gastos seja de
responsabilidade de estados e municpios, se reconhece a existncia de uma poltica nacional, que se
espraia para o pas a partir de uma orientao que em ana da esfera federal. Na Assistncia Social, embora
a esfera federal ainda responda pela maior parte dos gastos, j que os principais programas giram em
torno de transferncias diretas de renda constitucionais ou no , o fato que as aes em servios so
h muito executadas de forma descentralizada por estados e municpios, diretamente ou por meio de
entidades privadas. No que se refere Habitao e Saneamento, a esfera municipal aparece como a
grande responsvel pela execuo dos gastos, ainda que, do ponto de vista do financiamento, elas
estejam em grande medida na dependncia de recursos provenientes de fundos geridos em nvel
federal. A poltica de Previdncia Social Bsica (RGPS), a qual inclusive responde pela maior parte dos
gastos sociais efetivos, realizada a partir do nvel federal de governo, o que, de resto, garante certa
robustez escolha metodolgica de se abordar aqui aquela parcela do SBPS que se organiza e se
implementa a partir do mbito federal.
34. Cabe ressaltar que o uso desta classificao no significa a adoo de uma grade esttica de leitura,
mas sim a proposio de uma anlise da situao atual. Isto porque as transformaes que marcam a
evoluo das diferentes polticas podem acarretar, a mdio ou longo prazo, uma reclassificao das
polticas dentro da grade proposta ou mesmo a reconfigurao dos eixos estruturantes. Vale destacar
tambm que a identificao dos eixos e, dentro deles, das polticas, no pretende substituir outros
esforos analticos neste campo, mas apenas complement-los. Entende-se que tal grade de leitura pode
contribuir para o esforo de entendimento acerca da ao social do Estado, permitindo o reconhecimento de tendncias diferenciadas que se desenvolvem no interior do SBPS. Estas tendncias dizem respeito
no apenas a princpios organizadores, mas repercutem tambm em outros aspectos, como a diviso de
responsabilidades entre as diferentes esferas de governo, as fontes de financiamento e o comportamento do gasto social. Conforme j foi colocado aqui, a classificao e a anlise por eixos estruturantes das
polticas sociais permite ainda revelar as tenses que existem no interior de cada eixo de polticas. Um
197
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
QUADRO 1
Brasil: abrangncia da ao social do Estado em mbito federal
Eixos estruturantes
Emprego e
Trabalho
Principais polticas sociais, por rea de atuao do GSF
1. Previdncia Social Bsica (RGPS urbano e rural)
2. Previdncia e benefcios a servidores da Unio (militares e estatutrios)
2
3. Polticas de apoio ao trabalhador
4. Organizao agrria e poltica fundiria
Assistncia Social e
Combate Pobreza
5. Assistncia Social
6. Alimentao e nutrio
7. Aes de Combate Pobreza/transferncia de renda
Direitos Incondicionais de
3
Cidadania Social
8. Sade
9. Ensino Fundamental
Infra-Estrutura Social
10. Habitao
11. Saneamento
Fonte: Disoc/Ipea. Elaborao dos autores.
Notas: 1Ano de Referncia: 2002. Segue critrio de organizao do Gasto Social Federal (GSF), por rea de atuao, segundo
metodologia desenvolvida e utilizada na Disoc/Ipea. A respeito, ver Castro et alii (2004).
2
Diz respeito ao conjunto de polticas que definem, tradicionalmente, um sistema pblico de emprego.
3
Considera-se aqui o ensino fundamental como a nica poltica de educao plenamente inserida no Eixo dos
Direitos Incondicionais de Cidadania Social. Com relao ao ensino mdio, superior e profissional, nos quais se
concentra a maior parte dos gastos federais em educao, a rigor, estes no atendem aos critrios usados para
classificar as polticas neste Eixo da Cidadania Social.
Considera-se aqui que compem o Eixo do Emprego e do Trabalho aquelas
polticas cuja garantia de cobertura se d mediante a participao contributiva e,
em ltima anlise, a participao no mercado de trabalho formal. Estas polticas
de proteo social tm como principal referncia o mundo do assalariamento com
carteira, ainda que desde a Constituio de 1988 seja possvel identificar o fortalecimento institucional de um outro conjunto de polticas que tem no trabalho
no-assalariado um critrio de elegibilidade a programas e aes governamentais.
O Eixo da Assistncia Social e Combate Pobreza rene polticas acessadas
a partir do reconhecimento de um estado de extrema necessidade ou de
vulnerabilidade do pblico alvo, a includas, em perodo mais recente, as
polticas de combate fome e de transferncia de renda. Em seu formato
original, este conjunto de polticas e programas governamentais foi marcado
exemplo ntido o caso da Seguridade Social. Visando articular as polticas de Assistncia Social, Sade
e Previdncia Social, a Constituio de 1988 instituiu a Seguridade Social, implicando no apenas o
reconhecimento de uma srie de direitos sociais e princpios comuns quanto a seus objetivos e bases de
financiamento, como tambm lanando alicerces para a construo de institucionalidades especficas
como o Oramento da Seguridade Social ou do Conselho Nacional da Seguridade Social que funcionou at 1999, quando foi extinto. A anlise das polticas sociais por eixos estruturantes no pretende
minimizar a importncia da anlise do sistema de Seguridade Social, mas, ao contrrio, acrescentar-lhe
elementos, visando resgatar os princpios diferenciados e as motivaes especficas de natureza histrica
e institucional que organizam as distintas polticas que buscam se integrar sob a Seguridade Social.
198
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
por grande fragmentao e descontinuidade nas aes. no perodo de democratizao que estes programas comeam a ganhar densidade institucional,
consolidando-se, na dcada de 1990, uma poltica nacional de assistncia social. Contudo, esta ainda se estrutura predominantemente sobre sua caracterstica sempre dominante: o acesso a benefcios pela via da necessidade.
O terceiro eixo rene as polticas de educao e sade, que se identificam
pela atual desvinculao tanto regulao do mundo do trabalho quanto
condio de necessidade. Estas polticas, cuja garantia de acesso incondicional e se baseia no reconhecimento de certos direitos sociais mnimos do cidado, assumem um carter autnomo, ligado exclusivamente ao pertencimento
comunidade nacional e aos ideais de incluso social por meio da oferta universal de determinados servios pblicos. Denomina-se este eixo Direitos Incondicionais de Cidadania Social. Na Sade, considerada obrigao do Estado
a garantia universal de acesso aos seus servios. Na Educao, a Constituio
de 1988 afirmou a universalidade do ensino fundamental. Estas duas polticas
distinguem-se ainda pela co-responsabilidade das trs esferas de governo. De
fato, tanto o SUS como o Ensino Fundamental esto sob a responsabilidade
das esferas municipais e estaduais, cabendo ao governo federal a regulao
geral, bem como responsabilidades complementares em relao ao financiamento e implementao de programas de apoio e proviso de certos servios.
Finalmente, o quarto eixo, estruturado em torno das chamadas polticas
de Infra-Estrutura Social, formado por polticas sociais de natureza diversa
como habitao, saneamento e transporte coletivo urbano, que encontraram
apenas tardiamente seu reconhecimento na Carta Constitucional. Este ltimo
grupo rene polticas reconhecidas por sua relevncia social, mas s quais nenhuma garantia legal de acesso foi ainda associada. Muito embora se possa
localizar a origem social da rea de habitao nos programas residenciais de
alguns Instituto de Aposentadorias e Penses (IAPs), e da rea de saneamento
nas primeiras aes estatais no campo da sade pblica, o fato que ambas
apenas se estruturaram institucionalmente durante o regime militar, ento
marcadas como instrumentos de acelerao do crescimento econmico. No
obstante as tentativas recentes (ps-1995) para aproximar as polticas federais
de habitao e saneamento de objetivos socialmente mais redistributivos, ainda vigoram obstculos de ordem institucional e financeira que dificultam o
reconhecimento destas polticas no campo das polticas sociais.
Uma vez feita esta apresentao geral, as prximas sees procuraro
mostrar um quadro atual, mas no exaustivo, das principais polticas sociais
sob responsabilidade do governo federal, agrupadas segundo os quatro eixos
analticos aqui mencionados. Sero considerados os principais programas,
sua importncia no que se refere ao gasto social federal, e alguns indicadores
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
199
de cobertura da populao, tendo em vista benefcios monetrios, servios
ofertados e beneficirios atendidos. Em seguida, sero discutidas algumas
das tenses que, segundo o ponto de vista dos autores deste captulo, esto
no centro dos debates atuais sobre os problemas concernentes a cada um dos
eixos de polticas delineado.
4 POLTICAS ORGANIZADAS COM BASE NO EIXO
DO EMPREGO E DO TRABALHO
Conforme j discutido, a regulao (estruturao e regulamentao) do mundo do trabalho em um ambiente de relaes de produo crescentemente capitalistas constituiu-se no eixo histrico-explicativo central para o entendimento
do processo de montagem de um sistema nacional de proteo social.35
Na seqncia, procurar-se- mostrar que a nfase principal do conjunto de
polticas organizadas em funo do emprego recaiu, historicamente, sobre a montagem de relaes institucionais entre o mundo do assalariamento formal e a Previdncia Social. Ademais, o ambiente urbano preponderou largamente sobre o
rural como foco das polticas pblicas de proteo previdenciria. Nesse sentido
foram tardios e, at a efetivao dos dispositivos constitucionais de 1988, incipientes,
no apenas a expanso da proteo previdenciria ao trabalhador rural, como tambm o conjunto de polticas voltadas ao enfrentamento das questes agrria e
fundiria. O carter tardio e incipiente sobretudo em termos de sua expresso
oramentria relativa tambm est presente nas polticas clssicas de apoio ao
trabalhador, tais como o seguro-desemprego, a (re)qualificao profissional, a
intermediao de mo-de-obra e a concesso de microcrdito produtivo.
Aps uma breve recuperao histrica da montagem do ncleo central de
polticas fundadas no Emprego, sero focalizados aspectos de sua abrangncia
(dimenso do gasto social e cobertura fsica) e principais tenses entre o
arcabouo institucional dominante e a realidade atual dos mundos rural e
urbano do trabalho no Brasil.
4.1 Estruturao histrica das polticas centradas no Emprego
Como o demonstra grande parte da experincia internacional, e tambm o caso
brasileiro, a formao dos sistemas de proteo social respondeu necessidade de
regular as relaes capital-trabalho durante as fases de atividade e inatividade dos
trabalhadores. Em outros termos, esteve originalmente vinculado regulamentao do mercado de trabalho e concomitante estruturao da Previdncia Social.
35. Denomina-se aqui regulao do trabalho a sntese dos processos de estruturao e regulamentao
do mercado laboral, tal qual definidos no captulo 4 deste livro.
200
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
No Brasil, pode-se dizer que a institucionalizao do SBPS tem incio
com a Lei Eloy Chaves (1923), que funda, por intermdio das Caixas de Aposentadoria e Penses (CAPs), um modelo de proteo social (previdenciria e
mdico-assistencial) organizado por empresa. Este sistema evolui, nos anos
1930, para a montagem de um sistema corporativista de relaes de trabalho,
no qual a proteo previdenciria organizada por categorias profissionais.
Consolidada com a criao dos Institutos de Aposentadoria e Penses (IAPs), a
poltica previdenciria de seguro social estruturou-se como produto da solidariedade intergeracional, pela qual geraes em atividade provem os benefcios
das geraes j em inatividade.36
Tal movimento ocorre sob comando do Estado, numa fase de intensa
produo legislativa no campo social e do trabalho, que culminou com a
promulgao da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) em 1943. 37 Todo
este conjunto de regulamentaes ajuda a transformar o status da questo social no pas. Trata-se agora, em grande medida, de como regular o mundo do
trabalho, associando ao assalariamento garantias no campo da proteo social.
A proteo social prestada pelos IAPs expandia-se para alm da dimenso
previdenciria, com cobertura dos riscos tradicionais de incapacidade, velhice
ou morte. Eram prestados aos segurados servios de assistncia mdico-hospitalar, alm de intervenes no campo da habitao e da alimentao, por meio
das carteiras hipotecrias dos IAPs e do Servio de Alimentao da Previdncia
Social (SAPS). Mas cabe ressaltar que, fora do mbito de cobertura dos IAPs,
nenhuma outra ao de peso no campo da prestao de servios de sade,
alimentao ou habitao foi desenvolvida na esfera pblica at meados da
dcada de 1960.
A mudana da poltica previdenciria que teve incio em 1960 com a promulgao da Lei Orgnica da Previdncia Social (Lops) aprofundada a partir
de 1964, com o conjunto de reformas que ganham corpo no mbito do Plano de
Ao Econmica do Governo (Paeg). Cabe destacar a extino do SAPS, a eliminao da ao previdenciria no campo da habitao e a unificao institucional
dos IAPs em 1966, com a criao do Instituto Nacional de Previdncia Social
36. Os institutos eram financiados por empregados e empregadores, alm de contarem com uma
contribuio pblica nem sempre honrada pelo Estado. Cada IAP recebeu uma regulamentao especfica, implicando benefcios e contribuies distintas, reflexo do poder de negociao de cada categoria.
Sobre as diferenas entre os regimes de benefcios e contribuies nos diversos institutos, ver Oliveira e
Teixeira (1989) e Malloy (1986).
37. Deste perodo, importante mencionar a criao do Ministrio do Trabalho, Indstria e Comrcio em
1931, a instituio da Carteira de Trabalho obrigatria em 1932, o incio da transio do modelo
previdencirio por empresa (Caixas de Aposentadoria e Penso CAPs) para o modelo por categoria
profissional (IAPs) em 1933, e a instituio do salrio mnimo em 1940.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
201
(INPS). Em 1966 ocorreu ainda a incorporao Previdncia do seguro contra
acidentes de trabalho e a criao do Fundo de Garantia por Tempo de Servio
(FGTS), uma alternativa ao seguro-desemprego, em troca do estatuto da estabilidade no emprego. 38 Outra inovao importante foi a criao, em 1970, do PIS
(Programa de Integrao Social), uma tentativa de vincular o trabalhador aos
ganhos de produtividade advindos do crescimento da economia nacional.
Em suma, se verdade que a poltica social se define por ordenar escolhas
trgicas segundo um princpio de justia consistente e coerente (Santos, 1987,
p. 37), pode-se afirmar que, entre 1930 e 1980, no campo da ao social do
Estado, vigora um princpio de justia fundado na lgica da proteo do trabalhador assalariado. A legitimidade desta poltica deve ser levada em conta ao
se buscar explicar a sua longa permanncia em um quadro de ampliao das
demandas por justia social. Esta poltica nasceu dirigida para enfrentar o
problema da integrao social da classe trabalhadora urbana; e o que ela, em
larga medida, ainda faz.
Contudo, a partir do incio da dcada de 1970, a Previdncia Social passa
a sofrer reformas no sentido da ampliao da populao coberta, algumas das
quais incorporaram critrios que indicavam um certo afrouxamento do vnculo
contributivo. Em 1972 e 1973, foi estendida a cobertura previdenciria aos
trabalhadores autnomos e domsticos. Entretanto, esta extenso foi fiel ao princpio contributivo, reafirmando a identidade desta poltica como seguro social.
O reduzido impacto redistributivo inerente lgica do sistema previdencirio
impunha uma barreira ao acesso dos trabalhadores no-formais.39
Uma via mais promissora de reformas foi aberta nos anos 1970 com duas
medidas que alteraram, ainda que de maneira parcial, a fidelidade ao princpio
contributivo tradicional: a instituio do Prorural/Funrural (Fundo de Assistncia e Previdncia ao Trabalhador Rural) em 1971 e a criao da Renda
Mnima Vitalcia (RMV) em 1974. O Prorural/Funrural permitiu a concesso de aposentadorias e penses para trabalhadores da economia familiar rural
sem a exigncia de contribuies passadas. Era financiado a partir de uma
38. A respeito, ver Ferrante (1978).
39. Para se ter uma idia, no caso dos trabalhadores domsticos, o nmero de contribuintes salta de 350
mil para 790 mil entre 1973 e 1988. Em termos percentuais, essa cobertura significou um salto modesto em
relao ao total de contribuintes da Previdncia Social no perodo: de 2,9% em 1973 para 3,2% em 1988.
No caso dos trabalhadores autnomos, o nmero de contribuintes passa de 911 mil em 1973 para algo
como 1,9 milho em 1988. Em termos percentuais, isto representou um avano tambm modesto frente ao
co njunto de contribuintes: de 7,8% em 1973 para apenas 7,9% em 1988. Comparativamente, basta
verificar que o universo de trabalhadores assalariados contribuintes passou de pouco mais de 10 milhes
em 1973 para a casa dos 23 milhes em 1988. Para maiores informaes acerca da evoluo do nmero
de contribuintes da Previdncia Social brasileira, ver Andrade (1999).
202
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
contribuio incidente sobre a folha de salrio das empresas do setor urbano,
mediante a qual se institua uma transferncia de renda para o Funrural. Este
programa pode ser entendido como uma resposta tardia a uma nova questo
social que se afirmara no pas no final dos anos 1950: a chamada questo
camponesa, estruturada em suas duas vertentes, a do acesso terra e a da
regulamentao do trabalho assalariado, ambas colocando em questo a natureza e o processo de acumulao no meio rural.40
J a RMV, em que pese pertencer a uma configurao diferente de polticas, repete a inovao do Prorural/Funrural no que se refere busca de
novas fontes de custeio. A RMV visava oferecer um benefcio a pessoas idosas ou invlidas carentes que j tivessem contribudo ao menos durante 12
meses com a Previdncia Social. Apesar da exigncia de contribuies passadas, este programa tinha fraca aderncia lgica contributiva. importante
ressaltar que a RMV se assentava na exigncia de realizao de um trabalho
pretrito pelo pblico-alvo e sua comprovao por meio de contribuies
Previdncia, como tambm na legitimidade, tpica do campo assistencial,
da defesa dos pobres reconhecidamente inaptos para o trabalho (no caso,
idosos de mais de 70 anos e invlidos).
Nos anos 1980, na esteira da redemocratizao do pas, as inovaes
institucionais ficam por conta da criao, ainda antes da Constituio de 1988,
do Finsocial em 1982, embrio da atual Contribuio para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), e do seguro-desemprego em 1986, embora ainda
sem vinculao oramentria especfica. No obstante a produo legislativa do
perodo, as dinmicas econmica e demogrfica viriam a comprometer as
virtualidades do modelo vigente de proteo social (modelo meritocrticocontributivo), num contexto de emergncia de uma nova questo social em que
a mobilidade ascendente se estanca. No mbito do mercado de trabalho, ela
toma a forma da desestruturao do emprego formal e do aumento das desigualdades socioeconmicas, e, no mbito da proteo previdenciria, se materializa
no aumento da razo de dependncia entre segurados e contribuintes, situao
que compromete, no tempo, o financiamento do sistema.
Entre 1988 e 2002, perodo compreendido entre a nova Constituio e
o trmino do segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, a relao
entre o mundo do trabalho e a Previdncia Social seria marcada por eventos
contraditrios. De um lado, por um certo avano social trazido pela extenso
de benefcios previdencirios (mormente a previdncia rural) e pelo incio da
40. Soares (1982) e Jaccoud (1990).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
203
montagem de programas ligados ao chamado Sistema Pblico de Emprego
(ampliao do seguro-desemprego, reativao do servio de intermediao de
mo-de-obra, fortalecimento das funes de qualificao profissional e criao
de mecanismos de concesso de microcrditos produtivos). De outro lado, por
reformas constitucionais e novas estratgias de ao do Estado no campo das
polticas previdenciria (reforma do regime geral urbano e do regime prprio
dos servidores pblicos) e trabalhista (desregulamentao de itens importantes da legislao laboral) que ainda no se mostraram eficazes nem para aumentar a cobertura da previdncia bsica, tampouco para combater o quadro
de heterogeneidade que marca o mundo do trabalho no Brasil.
Neste perodo, marcado por uma instabilidade persistente dos fundamentos da macroeconomia a despeito da relativa estabilidade monetria e
por um grande endividamento do setor pblico estatal, haveria certa deteriorao das condies intergeracionais de sustentao do modelo de proteo
social meritocrrico-contributivo. Este aspecto, que se manifesta num aumento potencial da desproteo previdenciria futura para trabalhadores situados
no espao urbano, dependentes de relaes de trabalho em geral nocontributivas e portanto no reconhecidas pelo Estado para fins previdencirios,
torna relevante o estudo da abrangncia atual e principais tenses das polticas
centradas no Eixo do Emprego e do Trabalho, tal qual abordado na seqncia.
4.2 Abrangncia atual e tenses das polticas centradas
no Emprego e no Trabalho
No caso brasileiro, possvel agrupar sob o rtulo das polticas de proteo social
ligadas ao emprego e ao trabalho as seguintes polticas, conforme o quadro 2:
i) previdncia social (regimes urbano e rural); ii) previdncia e benefcios aos
servidores pblicos (militares e estatutrios); iii) polticas de apoio ao trabalhador
(abono salarial, seguro-desemprego, intermediao de mo-de-obra, qualificao
profissional, crdito para gerao de emprego e renda, benefcios especificamente
dirigidos aos servidores pblicos); e iv) polticas ligadas organizao agrria
(assentamento, consolidao e emancipao de trabalhadores rurais, crdito para
agricultura familiar) e poltica fundiria (gerenciamento da estrutura fundiria
e gesto da poltica de desapropriao de reas improdutivas para fins de reforma
agrria). Este conjunto de polticas e programas governamentais no esgota a
totalidade da ao social do Estado no campo do emprego e do trabalho, mas
fornece uma aproximao suficiente e bastante representativa.
204
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
QUADRO 2
Brasil: abrangncia da ao social do Estado em mbito federal
Polticas organizadas com base no eixo do Emprego e do Trabalho1
Eixo
estruturante
Emprego e
Trabalho
Polticas de
mbito federal
% GSF
95/02
1. Previdncia Social
Bsica RGPS
46,3
2. Previdncia e benefcios a
servidores da Unio2
20,3
3. Polticas de proteo ao
trabalhador3
4,4
Principais
Programas
1.1 RGPS Urbano
1.2 RGPS Rural
2.1 Regime Prprio de Militares
2.2 Regime Prprio de Servidores Civis
3.1 Valorizao do Servidor Pblico
3.2 Abono e Seguro-Desemprego
3.3 Intermediao e Qualificao Profissional
3.4 Gerao de Emprego e Renda
4. Organizao agrria e poltica
fundiria
1,3
4.1 Assentamento, Consolidao e Emancipao
de Trabalhadores Rurais
4.2 Pronaf: Agricultura Familiar
Subtotal
72,3
4.3 Gerenciamento da Estrutura Fundiria e
Gesto da Poltica Fundiria
Fonte: Disoc/Ipea. Elaborao dos autores.
Notas: 1Ano de referncia: 2002. Inclui todas as formas de trabalho e de emprego: emprego pblico (militar e estatutrio);
emprego assalariado com carteira; emprego assalariado sem carteira; trabalho domstico (com e sem carteira);
trabalho autnomo ou por conta prpria; trabalho na construo para uso prprio; trabalho na produo para
autoconsumo; trabalho no remunerado.
2
Diz respeito, majoritariamente, a benefcios previdencirios.
3
Diz respeito ao conjunto de polticas que definem, tradicionalmente, um sistema pblico de emprego.
De antemo, preciso esclarecer que o ncleo central das polticas deste
eixo em termos institucionais e financeiros est formado pelo regime urbano de previdncia social (RGPS-urbano) e pelos programas Abono Salarial e
Seguro-Desemprego, todos detentores por substrato ltimo a vinculao (presente ou pretrita) dos beneficirios ao sistema de assalariamento formal no
mercado de trabalho. Este foi e continua sendo o princpio organizador fundamental das polticas sociais brasileiras voltadas aos trabalhadores ativos e
populao inativa. Tambm se poderia agregar a este ncleo de polticas aquelas de cobertura previdenciria e de benefcios aos servidores pblicos (militares e estatutrios), na medida em que a relao de trabalho dominante neste
caso toma a forma do assalariamento legal.41
41. Esta uma opo metodolgica freqente, porm no consensual. Embora haja elementos a
justificar um tratamento diferenciado aos servidores do Estado, excluindo-os, por exemplo, do cmputo
final dos gastos ditos sociais, optou-se por mant-los como parte integrante das polticas pblicas
estruturadas em torno do emprego porque esses trabalhadores, a despeito do regime jurdico prprio
que os regem, compartilham com os trabalhadores do setor privado uma srie de obrigaes e direitos
de natureza social. Entre outros, os servidores do Estado recebem proventos sobre os quais incidem
contribuies sociais prprias, possuem regimes de aposentadorias, penses e alguns outros benefcios
sociais derivados da sua condio de trabalhadores etc. Para efeitos deste texto, portanto, no cabe
entrar em maiores detalhes acerca das especificidades que envolvem a questo do emprego pblico.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
205
Em adio s polticas que tm no emprego assalariado formal o seu eixo
estruturante, cabe destaque quelas que se pautam por relaes de trabalho de
outra natureza, como por exemplo o assalariamento informal e a auto-ocupao
como categorias dominantes. Como observado nos captulos anteriores deste livro, estas categorias, pertencentes ao mundo da informalidade urbana e da subsistncia rural, constituem a maioria da populao em idade ativa do pas. No
obstante, ainda grassa um grande vazio de proteo previdenciria para este contingente massivo de populao, sobretudo porque a maior parte ou no possui
capacidade contributiva ou est inserida em relaes de trabalho que no garantem o horizonte temporal mnimo de contribuies exigidas pelas novas regras
do sistema previdencirio urbano. neste contexto que ganham relevncia as
polticas pblicas centradas no exatamente no emprego, mas fundamentalmente no trabalho, tendo em vista a sua natureza heterognea e complexa no Brasil.
Neste rol, a principal inovao institucional do perodo recente parece
ter sido a implementao do subsistema rural de previdncia social (RGPSrural). Na medida em que se inscreve como benefcio previdencirio ao
invs de assistencial , ele se legitima pelo exerccio pretrito de um trabalho socialmente til, ainda que no-assalariado.
Outra inovao importante do perodo diz respeito ao conjunto de programas de apoio ao trabalhador que tambm no exigem vinculao formal
ao mercado de trabalho, realizando-se pela intermediao de mo-de-obra,
qualificao profissional e concesso de microcrditos produtivos a pequenos empregadores, empresas familiares, autnomos ou simplesmente pessoas interessadas em comear pequenos empreendimentos.
Por fim, mas no menos importante, esto as polticas aqui classificadas
como de organizao agrria e fundiria. Embora tenham como fulcro a questo
da funo social da propriedade da terra, considera-se aqui que as aes de assentamento, consolidao e emancipao de trabalhadores rurais, crdito para agricultura familiar, gerenciamento da estrutura fundiria e desapropriao de reas
improdutivas para fins de reforma agrria, entre outras, so indissociveis da
questo do trabalho em suas vrias e heterogneas formas. Ou seja, a garantia
do trabalho para a reproduo social das populaes rurais contempladas com
recursos institucionais e financeiros das polticas agrria e fundiria que justificam e legitimam a incluso deste conjunto de programas e aes governamentais no eixo das polticas do emprego e do trabalho.
A mera existncia deste amplo conjunto de polticas centradas no eixo
do Emprego e do Trabalho no garante, contudo, nem o atendimento integral da populao-alvo desprotegida, tampouco a eliminao de tenses prprias a cada desenho operacional e de financiamento, aspectos que sero
considerados a seguir para cada bloco de polticas.
206
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Tendo ainda como referncia o quadro 2, possvel verificar o percentual
mdio do Gasto Social Federal (GSF) realizado em cada poltica deste eixo do
Emprego e do Trabalho. Inicialmente, observa-se que foram responsveis por
72,3% de todo o GSF no perodo 1995-2002. Destaca-se, neste conjunto, a
poltica de previdncia social, ncleo central de qualquer sistema abrangente de
proteo, que somou 66,6% do GSF. Os gastos referentes s polticas de proteo
ao trabalhador em sua maior parte destinados ao pagamento dos benefcios do
seguro-desemprego , por sua vez, corresponderam a 4,4% do GSF, enquanto as
polticas ligadas organizao agrria representaram 1,3%.
Estas informaes fornecem uma medida quantitativa acerca da importncia relativa das polticas previdencirias no conjunto das polticas sociais brasileiras. No desprezvel a informao de que a maior parte dos 66,6% de GSF
com previdncia no pas seja autofinancivel, j que atrelada lgica contributiva
que est na base de organizao deste eixo de proteo social. 42 Para fins analticos, ainda necessrio distinguir o RGPS do regime de previdncia dos servidores da Unio. O RGPS (urbano e rural) responsvel por 46,3% de todo o GSF
no perodo estudado, enquanto 20,3% destes gastos so destinados ao pagamento de benefcios vinculados aos regimes jurdicos prprios dos militares e
funcionrios pblicos estatutrios.43
Para complementar as informaes sobre a composio do GSF, apresenta-se, no grfico 1, informaes relativas evoluo dos benefcios concedidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) (benefcios previdencirios e
acidentrios) e pelo Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE: seguro-desemprego e abono salarial), entre 1995 e 2003.
Em linhas gerais, as informaes contidas no grfico 1 permitem evidenciar
uma expanso em termos absolutos do nmero de benefcios ao longo do perodo. A tendncia de expanso dos benefcios crescente tanto para o total de
benefcios emitidos pelo INSS como para o total de benefcios concedidos pelo
MTE, ainda que o ritmo de concesso de benefcios seja maior no primeiro caso,
o que simplesmente indica que os fatores que determinam as concesses dos
benefcios so diferentes em cada rea de atuao.
42. Sobre aspectos ligados diretamente questo do financiamento das polticas sociais brasileiras, ver
o captulo 7 deste livro.
43. Em adio nota de rodap n 41 deste captulo, preciso esclarecer que, embora seja controversa
a incluso dos gastos com servidores pblicos no cmputo total dos gastos sociais da Unio, optou-se
por faz-lo de modo a respeitar a metodologia de anlise do GSF desenvolvida pelo Ipea. A respeito, ver
Fernandes et alii (1998) e Castro et alii (2003).
207
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
GRFICO 1
Brasil: benefcios emitidos pelo INSS e MTE, segundo a espcie, 1995-2003
25000000
Nmero de benefcios emitidos
20000000
15000000
10000000
5000000
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Anos
Total INSS
Previdencirios
Acidentrios
Total MTE
Seguro-desemprego
Abono salarial
Fonte: MPAS e MTE, Registros Administrativos. Elaborao: Disoc/Ipea.
No que se refere aos benefcios anuais emitidos pelo INSS, nota-se de
maneira clara pela tabela 1 que o seu comportamento geral se explica fundamentalmente pela expanso dos benefcios previdencirios (aposentadorias por
idade, invalidez e tempo de contribuio, penso por morte, auxlio-doena,
salrio-maternidade e outros de menor importncia), que passaram de 13,9
milhes em 1995 para 15,7 milhes em 1998 e 18,1 milhes em 2002. Alm
do movimento demogrfico natural de incorporao de novos beneficirios, a
expanso previdenciria da dcada de 1990 tambm refletiu um conjunto de
alteraes institucionais importantes, entre as quais se destacam a implementao
da Previdncia Rural a partir de 1992 e a antecipao de aposentadorias motivada pela primeira reforma da previdncia em 1998.44
44. Uma discusso mais pormenorizada sobre os determinantes do gasto social previdencirio pode ser
vista no captulo 6 deste livro.
208
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
TABELA 1
Brasil: tipo e quantidade de benefcios previdencirios emitidos, 1995/2002
Posio em dezembro
Grupos de
espcies
Total
Previdencirios
Aposentadorias
Tempo de contribuio
Idade
Invalidez
Penses por morte
Auxlios
Doena
Recluso
Acidente
Outros
Salrio-Famlia1
Salrio-Maternidade2
Abono de permanncia3
Vantagem de servidor
Acidentrios
Aposentadoria por invalidez
Penso por morte
Auxlios
Doena
Acidente
Suplementar
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
%
s/total
14.507.249
13.934.776
9.136.704
2.319.869
4.786.846
2.029.989
4.235.420
527.517
520.018
7.445
54
35.135
639
14.895
18.978
623
572.473
85.168
118.562
368.743
65.101
197.503
15.029.404
14.437.968
9.469.223
2.591.991
4.843.234
2.033.998
4.394.420
541.140
532.516
8.385
239
33.185
4
20.214
12.422
545
591.436
88.748
121.453
381.235
72.605
210.110
15.767.298
15.143.502
9.995.036
2.972.022
4.952.758
2.070.256
4.585.501
526.268
516.092
9.255
921
36.697
11
27.094
9.092
500
623.796
94.415
124.397
404.984
79.495
225.489
16.355.798
15.714.300
10.445.193
3.182.979
5.147.524
2.114.690
4.714.454
512.736
506.254
4.798
1.684
41.917
6
34.175
7.209
527
641.498
98.789
126.249
416.460
82.688
235.570
16.897.117
16.244.486
10.860.219
3.283.478
5.373.000
2.203.741
4.872.300
467.354
460.388
4.200
2.766
44.613
7
38.176
5.933
497
652.631
104.432
127.817
420.382
77.347
244.974
17.531.161
16.862.131
11.191.255
3.350.935
5.589.251
2.251.069
5.030.850
501.598
492.084
5.796
3.718
138.428
3
132.862
5.136
427
669.030
110.963
128.841
429.226
77.144
253.760
17.927.697
17.241.462
11.394.917
3.390.616
5.720.992
2.283.309
5.156.957
587.509
574.313
8.607
4.589
102.079
3
97.112
4.580
384
686.235
116.133
129.292
440.810
84.122
258.961
18.872.666
18.152.683
11.787.050
3.499.591
5.940.291
2.347.168
5.355.594
864.233
849.074
9.119
6.040
145.806
1
141.719
3.751
335
719.983
123.506
130.206
466.271
106.639
263.442
100,0
96,1
63,4
14,8
25,5
10,4
23,1
2,7
2,7
0,0
0,0
0,3
0,0
0,3
0,0
0,0
3,9
0,6
0,8
2,5
0,5
1,4
106.139
98.520
100.000
98.202
98.061
98.322
97.727
96.190
0,6
Fonte: MPAS, Registros Administrativos. Elaborao: Disoc/Ipea.
Notas: 1As informaes referentes espcie 71, salrio-famlia previdencirio, no esto includas. A partir de novembro
de 1996 os salrios-famlia estatutrios cessaram, considerando seu valor irrisrio (R$ 0,15) e dado que a maioria
dos beneficirios estava recebendo penso por morte.
2
At a Lei no 9.876, de 26/11/99, eram consideradas apenas as trabalhadoras avulsas, as empregadas domsticas e as
seguradas especiais, pois estas recebiam o benefcio diretamente da Previdncia Social. As demais seguradas empregadas tinham o benefcio pago pela empresa, e no constavam, portanto, dos sistemas de benefcios.
3
As concesses de benefcios das espcies 47 e 48 foram extintas, respectivamente, pela Medida Provisria n o 381,
de 7/12/93, regulamentada pela Lei n o 8.870, de 15/4/94, e pela Lei n o 8.213/91.
Apesar de as informaes sobre a evoluo do nmero de benefcios, bem
como sobre a composio do GSF, serem valiosas em si mesmas, pouco elucidam
sobre o estado da cobertura social da poltica previdenciria. A tabela 2 fornece
um clculo de cobertura ou de proteo previdenciria para a populao ocupada de 16 a 59 anos de idade, tendo o ano de 2002 como referncia.
A informao que aqui interessa destacar mostra que algo como 61,7%
da populao ocupada entre 16 e 59 anos estaria segurada por um dos regimes de proteo previdenciria oficial: RGPS urbano (42,1%), RGPS rural
(10,9%) ou regimes prprios de militares e funcionrios pblicos estatutrios
(6,8%).45 Com base em dados estatsticos extrados da PNAD-2002, Schwarzer,
Paiva e Santana (2004) mostram haver 29,7 milhes de contribuintes vinculados
45. Para chegar a 61,7% de cobertura, preciso considerar tambm 1,9% de trabalhadores ocupados
que se declaram na Pesquisa Nacional por Amostra de Domiclios (Pnad) no-contribuintes, mas
beneficirios do sistema previdencirio. Excluindo-os, tem-se na verdade uma taxa de cobertura em
torno de 59,8% da populao ocupada entre 16 e 59 anos.
209
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
ao RGPS-urbano e cerca de 7,7 milhes vinculados ao RGPS-rural, estes na condio de segurados especiais. Juntas, ambas as categorias representaram 53% da
populao ocupada entre 16 e 59 anos em 2002. Somando-se a estes cerca de 4,8
milhes de contribuintes pertencentes aos regimes prprios dos funcionrios
pblicos estatutrios e militares, tem-se ento 59,8% de vinculao direta entre
a populao ocupada e o sistema previdencirio de proteo social. O dficit de
cobertura para o total da populao ocupada seria, portanto, de 38,3% ou cerca
de 27 milhes de pessoas ocupadas entre 16 e 59 anos.46
TABELA 2
Brasil: proteo previdenciria para a populao ocupada entre 16 e 59 anos, 2002
Categoria
A. Contribuintes RPPS
Militares
Estatutrios
Qtd. trabalhadores
% s/total
4.820.248
6,8
210.990
0,3
4.609.258
6,5
29.711.092
42,1
C. Segurados especiais 1
7.703.985
10,9
D. Beneficirios no-contribuintes 2
1.312.660
1,9
43.547.985
61,7
B. Contribuintes RGPS
E. Trabalhadores socialmente protegidos
(E = A+B+C+D)
F. Trabalhadores socialmente desprotegidos
(pop. ocupada no-contribuinte e no-beneficiria)
Total (E+F)
27.039.513
38,3
70.587.498
100,0
Fonte: IBGE, Pnad 2002. Elaborao: MPAS/SPS, apud Schwarzer, Paiva e Santana (2004, p. 4).
Notas: 1Segurados especiais: moradores de 16 a 59 anos da zona rural dedicados a atividades agrcolas, nas seguintes
posies na ocupao: sem carteira, conta-prpria, produo para prprio consumo, construo para prprio uso,
e no remunerado.
2
Trabalhadores ocupados (excludos os segurados especiais) que, apesar de no-contribuintes, recebem benefcio
previdencirio ou assistencial.
46. Se considerada a populao ocupada de dez anos ou mais, o contingente de desprotegidos sobe
para algo como 30,5 milhes de pessoas, equivalente a 39,1% do total de pessoas ocupadas de dez
anos ou mais de idade. Outro aspecto a ser ressaltado que as ponderaes de cobertura e no
cobertura previdenciria foram feitas, no trabalho supracitado, no sobre a populao economicamente
ativa total, mas to-somente sobre a populao ocupada, procedimento que, ao excluir a populao
desocupada, ajuda a inflar o percentual de cobertura previdenciria real. Exemplificando, caso se ponderasse, tambm com dados da PNAD 2002, a populao ocupada entre 16 e 59 anos, segurada de
algum regime previdencirio oficial, sobre a populao economicamente ativa total entre 16 e 59 anos
teramos uma razo de cobertura de 54,2%, ao invs dos 61,7% encontrados no referido estudo. Sobre
os procedimentos metodolgicos utilizados e as justificativas tericas que embasam essas diferentes
formas de se calcular a cobertura previdenciria oficial, ver Schwarzer, Paiva e Santana (2004).
210
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Desagregada a parcela desta populao trabalhadora desprotegida de
16 a 59 anos com rendimento superior a um salrio mnimo mensal por
algumas categorias de anlise selecionadas, tem-se um perfil aproximado
da desproteo previdenciria em 2002 (ver tabela 3). Em primeiro lugar,
cabe apontar para o fato esperado de que a maior parte da desproteo
(93,6%) se concentra nas categorias ocupacionais dos assalariados sem carteira (inclusive domsticos) e dos autnomos. Em segundo lugar, por setor
de atividade, nota-se que a desproteo social se concentra no setor tercirio
da economia (57,2% com destaque para as atividades de comrcio, reparao e servios domsticos), seguido do setor secundrio (29,8%), dos
quais mais da metade na construo civil.
TABELA 3
Brasil: perfil da desproteo social, segundo categorias selecionadas 2002
Populao ocupada entre 16 e 59 anos, com renda do trabalho acima de 1 s.m. mensal
Quantidade
Empregado sem carteira
Posio na ocupao
7.115.719
42,2
Domstico sem carteira
1.720.893
10,2
Trabalhador por conta prpria
6.964.206
41,3
Empregador
1.069.025
6,3
16.869.843
100,0
Subtotal
Setor de atividade
Primrio
1.103.134
6,5
Secundrio
5.023.011
29,8
2.850.571
16,9
9.656.571
57,2
Comrcio e reparao
3.916.061
23,2
Servios domsticos
1.722.091
10,2
1.093.455
6,5
16.876.171
100,0
16 a 24 anos
3.941.135
23,4
25 a 39 anos
7.381.184
43,8
40 a 59 anos
5.553.852
32,9
16.876.171
100,0
Construo civil
Tercirio
Outros
Subtotal
Faixa etria
Subtotal
Faixa de renda
At 1 s.m.
9.845.124
36,8
De 1 a 3 s.m.
13.660.313
51,1
De 3 a 10 s.m.
2.818.271
10,5
Acima de 10 s.m.
Subtotal
397.587
1,5
26.721.295
100,0
Fonte: IBGE, Pnad 2002. Elaborao: MPAS/SPS, apud Schwarzer, Paiva e Santana (2004).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
211
A faixa etria preponderante da desproteo est situada entre 25 e 39 anos
de idade (43,8%). A franja superior deste grupo etrio, somada ao percentual
de desprotegidos entre 40 e 59 anos (32,9%), sugere que, tudo o mais constante, uma parcela expressiva da populao ocupada de 16 a 59 anos e com rendimento do trabalho acima de um salrio mnimo ter dificuldades para cumprir
os tempos mnimos de contribuio ao sistema previdencirio. Refora esta concluso o fato de que 36,8% das cerca de 27 milhes de pessoas ocupadas
desprotegidas percebem rendimento inferior a um salrio mnimo, sendo de
51,1% o peso dos que recebem entre um e trs salrios mnimos. Juntas, as
pessoas situadas dentro destas duas faixas de rendimentos representavam cerca
de 24 milhes de pessoas em 2002, segmento este com baixa capacidade
contributiva e, portanto, com remotas chances de acessar no futuro o sistema de
proteo previdencirio urbano, tal qual desenhado na atualidade.
Esta uma situao prospectiva de desproteo previdenciria que contrasta com as informaes de cobertura vigente entre 1992 e 2002 para a
populao de 60 anos e mais, tal qual observvel no grfico 2. Nota-se que de
1992 a 1995 h um forte movimento de entrada de pessoas idosas no sistema
de cobertura previdencirio, tendncia que se mantm vigorosa no caso das
mulheres, mas no no dos homens, de modo a se atingir cerca de 81,5% de
cobertura total no ano de 2002. Embora relevante, trata-se de uma informao que precisa ser observada de uma perspectiva dinmica e de longo prazo,
para que as altas taxas de cobertura obtidas no perodo no encubram o fato de
que se referem, primeiro, ao forte movimento de ingresso de segurados no
sistema de previdncia rural e, segundo, a beneficirios que construram suas
trajetrias profissionais antes que tivessem incio os constrangimentos da economia e do mercado de trabalho nos anos 1980 e 1990.
De qualquer modo, trata-se de informao valiosa num momento em
que se discute o papel das vinculaes oramentrias para o enfrentamento
da pobreza e da desigualdade na sociedade brasileira. Sobre este aspecto,
basta constatar, no grfico 3, o salto para cima de praticamente dez pontos
percentuais, na proporo da populao abaixo da linha de pobreza de um
salrio mnimo per capita mensal, se extrada a participao dos benefcios
previdencirios ou assistenciais da renda domiciliar total.
212
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
GRFICO 2
Brasil: pessoas de 60 anos e mais que recebem benefcios previdencirios ou
assistenciais, ou continuam contribuindo para algum regime previdencirio, 1992 a 2002
90,0
87,1
86,2
85,0
83,4
Em %
75,0
70,0
80,1
78,6
80,0
74,0
74,4
72,2
85,8
85,4
85,4
86,4
80,0
80,1
80,3
80,9
75,3
75,7
76,2
76,4
86,4
85,8
81,3
81,5
77,2
78,1
66,3
65,0
60,0
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
Anos
Homens
Mulheres
Total
Fonte: IBGE, Pnad vrios anos. Elaborao: MPAS/SPS, apud Schwarzer, Paiva e Santana (2004).
GRFICO 3
Brasil: incidncia da pobreza sobre a populao total, com e sem benefcios do INSS
(benefcios previdencirios e assistenciais), 1988 a 1999
55,0
50,1
Em % da populao total
50,0
47,9
51,2
46,4
46,1
45,0
42,3
40,0
40,0
40,7
40,8
43,7
43,2
43,8
33,9
33,5
33,9
45,3
43,5
41,7
35,0
32,7
34,0
30,0
1988
1989
1990
1992
Incidncia da pobreza
sem benefcios do INSS
1993
1995
Anos
1996
1997
1998
1999
Incidncia da pobreza
com benefcios do INSS
Fonte: IBGE, Pnad vrios anos. Elaborao: MPAS/SPS, apud Schwarzer, Paiva e Santana (2004).
213
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
No que se refere ao mbito das polticas de apoio ao trabalhador, existe
uma certa precariedade nas informaes sobre cobertura dos programas de qualificao profissional e de gerao de emprego e renda, ao contrrio do que ocorre
com os dados de cobertura e atendimento relativos aos demais programas. No
caso do Seguro-Desemprego, de longe o principal programa do conjunto de
polticas de proteo ao trabalhador, a cifra de beneficirios tem sido prxima
dos cinco milhes de trabalhadores oriundos do setor formal da economia, o que
correspondeu, na mdia do perodo 1995-2002, a 64,7% do total de trabalhadores demitidos sem justa causa no pas, segundo informaes do sistema Relao Anual de Informaes Sociais (Rais)/Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) do MTE.
TABELA 4
Evoluo do nmero de beneficirios do abono salarial e do seguro-desemprego no
Brasil, 1995 a 2002
Anos
Abono salarial
(trab. pagos)
Trab. pagos/trab.
com direito
%
Seguro-desemprego
(segurados)
Segurados/demitidos
s/justa causa
%
1995
5.126.390
70,4
4.737.108
65,9
1996
6.013.391
81,1
4.359.092
63,4
1997
5.121.202
78,1
4.382.001
65,5
1998
4.673.863
82,9
4.353.820
65,6
1999
4.949.628
90,7
4.315.594
67,2
2000
5.602.699
81,3
4.175.918
62,6
2001
5.884.956
90,3
4.685.570
63,4
2002
6.471.731
90,0
4.808.155
64,3
Mdia 95/02
4.871.540
83,1
3.979.695
64,7
Fonte: MTE, Registros Administrativos. Elaborao: Disoc/Ipea.
No caso do Abono Salarial, nota-se que as concesses tm crescido
num ritmo um pouco mais intenso desde 1999, de tal modo a ter atingido
em 2002 algo como 6,4 milhes de trabalhadores, o que representou 90%
de cobertura junto ao total de trabalhadores com direito ao benefcio, ou
seja, aqueles com vinculao pretrita ao mercado de trabalho formal e
recebedores de rendimento mdio mensal igual ou inferior a dois salrios
mnimos. A trajetria de expanso de benefcios concedidos em nome do
abono salarial pode ser explicada, em parte, pelo fato deste perodo ter
coincidido com uma queda praticamente contnua dos rendimentos mdios reais dos trabalhadores ocupados com carteira, conforme verificado
no captulo anterior deste livro.
214
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Em ambos os casos (seguro-desemprego e abono salarial), apesar dos avanos constatados aps a instituio do FAT como fonte principal de financiamento destas polticas, h que se reconhecer que continuam, em sua essncia, presas
regulao do setor formal do mercado de trabalho, o qual atualmente ocupa
menos da metade da populao economicamente ativa do pas.47 De modo geral, possvel afirmar que o conjunto de programas voltados proteo do trabalhador ainda carece de uma abrangncia maior sobre a populao no vinculada
a relaes de assalariamento formal.
A ausncia de aes mais amplas no campo das polticas de proteo ao
trabalhador tem minimizado os efeitos agregados dos programas pblicos do
seguro-desemprego, da intermediao de mo-de-obra, da formao profissional e da gerao de emprego e renda a partir do microcrdito e do desenvolvimento de experincias locais. Esta constatao pode ser explicada no s pelo
foco predominante destas polticas no emprego formal, mas ainda pelos efeitos da crise econmica contempornea sobre o mundo do trabalho no Brasil.
Por fim, no que diz respeito s polticas ligadas organizao agrria e
fundiria, muito j se explanou, em captulos anteriores deste livro acerca da
atualidade de ambas as questes no contexto atual, assim como sobre a dominncia
econmica e poltica do agronegcio e suas conseqncias sobre a reproduo de
um expressivo setor de subsistncia rural, no contemplado pela dinmica
de acumulao de capital naquele setor de atividade, tampouco por polticas
pblicas abrangentes o suficiente para permitir a incorporao produtiva daquele segmento populacional ou sua mera proteo social bsica populao em
idade ativa. Por este motivo, concentrar-se- aqui, to-somente, no significado
deste conjunto de aes governamentais para a resoluo da questo do acesso ao
trabalho no campo.
Por meio da tabela 5 possvel verificar um acmulo de projetos de
reforma agrria da ordem de seis mil at 2002, ou uma mdia anual de 638
projetos no perodo de 1995 a 2002.
Embora a tabela no fornea nenhuma informao qualitativa sobre estes
projetos, no desprezvel a informao de que, na mdia do perodo 19952002, cerca de 52 mil famlias tenham sido assentadas por ano no pas, frente
a uma capacidade fsica potencial de 59 mil. Contudo, apesar de na mdia isso
significar uma taxa de execuo da ordem de 85,8%, no se pode perder de
vista que esta foi tendencialmente decrescente no perodo, fato que, se no se
explica pela diminuio da demanda potencial por terra, pode estar indicando
dificuldades de outra natureza no cumprimento das metas.
47. Uma discusso mais profunda sobre as tenses existentes no campo das polticas de proteo ao
trabalhador encontra-se desenvolvida no captulo 4 deste livro.
215
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
TABELA 5
Brasil: projetos de reforma agrria em execuo, 1994 a 2002
Anos
No projetos
por ano
No Famlias
(capacidade)
No famlias
(assentadas)
% famlias
ass./cap.
at 1994
953
275.892
176.033
63,8
1995
388
59.531
51.765
87,0
1996
461
58.744
64.312
109,5
1997
704
86.065
77.810
90,4
1998
875
91.365
90.341
98,9
1999
840
58.554
54.688
93,4
2000
700
43.385
37.024
85,3
2001
647
45.232
33.800
74,7
2002
485
29.606
14.073
47,5
Total
6.053
748.374
599.846
80,2
638
59.060
52.977
85,8
Mdia 95/02
Fonte: MDA/Incra, apud Polticas Sociais: acompanhamento e anlise n. 8, anexo estatstico (Ipea).
Para o que interessa a este captulo, basta ressaltar que a mera existncia
de polticas e programas governamentais destinados ao enfrentamento das
questes agrria e fundiria no garante a suficincia dos recursos nem a aderncia dos instrumentos institucionais aos problemas de acesso terra e ao
trabalho produtivo no campo. Para alm dos problemas sociais e polticos
envolvidos, tem-se que, do lado financeiro, estas so polticas que dependem
basicamente de recursos do Oramento Geral da Unio para se viabilizarem.
Estes, no entanto, foram sendo crescentemente comprometidos, ao longo do
perodo 1995-2002, devido a seguidos contingenciamentos de gastos oramentrios, sobretudo os no vinculados a fontes explcitas de financiamento.48
Por sua vez, do ponto de vista dos instrumentos institucionais existentes no
mbito das polticas agrria e fundiria, j se chamou ateno, e no captulo 2
deste livro, para a baixa eficcia de mecanismos de mercado, bem como para a
pouca adequabilidade dos instrumentos oficiais de desapropriao de terras,
mesmo tratando-se daquelas reconhecidamente improdutivas ou das que no
cumprem com o preceito constitucional da funo social da propriedade.
O conjunto de consideraes anteriores guarda relao direta com a essncia do modelo nacional de proteo social. A experincia brasileira perseguiu a montagem de um sistema de tipo bismarkiano, sendo que o peso em
termos de recursos e pessoas envolvidas das polticas de previdncia social
(regime urbano e dos servidores pblicos) e parte das polticas de emprego
(abono salarial e seguro-desemprego) mostra que o ncleo central do SBPS
ainda est preservado. Contudo, tanto a realidade do mercado de trabalho
48. Este tema tratado no captulo 7 deste livro.
216
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
urbano nacional como a da populao remanescente ou oriunda do campo
apontam para os limites de cobertura e proteo existentes no formato estritamente contributivo do SBPS.
Em outros termos: embora o emprego assalariado com carteira ainda seja o
elemento central do acesso dos trabalhadores proteo social durante as fases
ativa e inativa de trabalho, as especificidades do mundo do trabalho no Brasil
limitam o potencial de cobertura do sistema pblico vigente e contestam sua
capacidade de ampliar no futuro o raio de proteo efetiva. Diante disto, o SBPS
e particularmente o conjunto de polticas organizadas em torno do Eixo do Emprego e do Trabalho convive com o dilema permanente de ter que inovar na
estruturao institucional dos programas de proteo social por meio da Previdncia Social Rural, dos programas de intermediao e qualificao profissional,
dos programas de microcrdito para gerao de emprego e renda no campo e nas
cidades, e dos programas de assentamento, consolidao e emancipao de trabalhadores rurais , sem, no entanto, poder romper efetivamente com a essncia da
cobertura assentada no emprego assalariado com carteira. Por conta disto, destacase a excluso de parte significativa dos trabalhadores urbanos no assalariados ou
assalariados informais a maioria dos quais, pobres dos benefcios derivados das
polticas desenvolvidas no Eixo do Emprego e do Trabalho. So os limites e tenses
deste modelo de proteo social, frente s especificidades dos mundos urbano e
rural do trabalho no Brasil, que deveriam estar no centro do debate poltico sobre
o assunto, pois que precisaro ser enfrentados pela nova gerao de polticas pblicas especificamente dirigidas aos problemas nacionais.
De fato, tais contradies ficaram mais fortes desde os anos 1980. Alm
de nunca ter conseguido universalizar o sistema de proteo social, naquela
dcada teve incio um processo de expulso de parte do contingente antes
incorporado ao modelo restrito da cidadania regulada (Santos, 1987). A insero das pessoas no mundo da proteo social pela via do trabalho registrado,
se j no havia sido a regra para cerca da metade da populao ocupada at
1980, deixou de ser uma aspirao confivel ao longo desses ltimos trinta
anos de crise econmica, estatal e social no Brasil. 49 neste contexto que
ganha importncia a efetivao, na dcada de 1990, do RGPS rural no Brasil.
Apesar de ser uma extenso tardia de direitos sociais e de proteo previdenciria
a um expressivo contingente de trabalhadores oriundo do campo, a Previdncia Rural, situada institucionalmente no mbito da Seguridade Social, representa o rompimento parcial do vnculo contributivo para o (auto)financiamento
49. A respeito, ver Pochmann (1999 e 2001).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
217
dos benefcios previdencirios. Embora de forma implcita e no totalmente
consolidada, a Previdncia Rural representa o reconhecimento de um direito
social vinculado ao exerccio de um trabalho socialmente til, ainda que no
necessariamente pautado no assalariamento registrado e contributivo.
O mesmo vale para o alargamento do campo de cobertura dos programas
pblicos de (re)qualificao e formao profissional, e de gerao de trabalho,
emprego e renda por meio da concesso de microcrdito produtivo, os quais se
destinam tambm a trabalhadores desempregados e queles pertencentes ao
chamado setor informal da economia, vale dizer, os trabalhadores assalariados
sem carteira, os autnomos, os trabalhadores no remunerados e aqueles na
construo para uso prprio e na produo para autoconsumo.
Em essncia, o conjunto de programas situados no mbito da Organizao
Agrria e da Poltica Fundiria tambm se pauta pelo reconhecimento oficial de
direitos associados ao exerccio do trabalho em suas mais variadas e heterogneas
formas. Neste caso, especialmente relevante o fato de que a poltica pblica est
diante da possibilidade de viabilizar condies de trabalho, moradia e demais
itens da proteo social chamada economia familiar rural de subsistncia. Este
talvez seja, juntamente com o j referido conjunto de trabalhadores urbanos no
registrados da economia, o segmento populacional historicamente menos contemplado com polticas sociais inclusivas de Estado.
Desse modo, embora haja problemas de vrias ordens a enfrentar, seja no
mbito das polticas agrria e fundiria, seja tambm no campo das polticas
previdencirias e de apoio ao trabalhador, preciso no menosprezar a importncia do fato segundo o qual a configurao atual de polticas pblicas em
torno do eixo do Emprego e do Trabalho reconhece a insuficincia do
assalariamento como princpio norteador da proteo social. Este fato abre
caminho, embora sob fogo cruzado, para o fortalecimento institucional de
demandas sociais at ento ignoradas ou tratadas como pouco relevantes no
debate sobre o futuro da proteo social no Brasil.
Em suma, importante ter claro que os casos aqui relatados ocorrem
num contexto complexo, de transformaes profundas no padro de desenvolvimento nacional, em que nem os novos fundamentos da economia nem os do
Estado esto ainda completamente claros. De qualquer modo, esta nova gerao de polticas de proteo social parece estar levando em considerao, ainda
que de maneira no totalmente deliberada, o critrio de aplicao de um princpio de institucionalizao de polticas pblicas mais aderente histria vivida do trabalho no pas, e isto talvez constitua uma novidade positiva, embora
pouco consolidada, do perodo de transio pelo qual est passando o SBPS.
218
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
5 POLTICAS ORGANIZADAS COM BASE NO EIXO DA ASSISTNCIA SOCIAL
Ao lado das polticas relacionadas ao Eixo do Trabalho, a montagem do SBPS
nos anos 1930 passou por uma ampla regulamentao no campo da Assistncia Social, afirmando a presena do Estado em uma rea at ento restrita
atuao das entidades privadas e sob forte influncia da Igreja Catlica. Contudo, a interveno do Estado consolidou-se historicamente, visando no
substituio, mas colaborao com o trabalho filantrpico, institucionalizando
progressivamente a transferncia de recursos diretos e indiretos s entidades
privadas, responsveis pelo atendimento da populao pobre. A atuao do
Estado no campo assistencial organizou-se na forma de aes fragmentadas,
que apenas nos ltimos 10 anos vm sendo desmontadas em favor da construo de uma poltica nacional de Assistncia Social.
As dificuldades nesse processo so significativas. Alm da herana filantrpica e da residualidade da ao estatal no mbito da prestao de servios
assistenciais, o nascimento de polticas de transferncia de renda voltadas aos
estratos mais pobres da populao e os esforos no sentido de consolidar polticas de combate fome desenham um quadro de profundas tenses, ao mesmo tempo em que sinalizam para a abertura de novas perspectivas no campo
da proteo social. Apresenta-se a seguir um rpido retrospecto da evoluo da
ao do Estado no campo da Assistncia Social para, em seguida, tratar de seu
perfil atual, apontando seus alcances e limites.
5.1 Estruturao histrica das polticas centradas na Assistncia Social
Historicamente, as polticas de assistncia social ganham densidade institucional
para os grupos sociais que, desobrigados de garantir sua sobrevivncia pelo
trabalho, se encontram em condies de carncia. Crianas desassistidas, mulheres pobres notadamente as vivas e/ou mes de filhos pequenos , portadores de deficincias e idosos incapacitados para o trabalho, desde que sem
outro tipo de proteo, compem tradicionalmente o escopo da assistncia
que se organizou, no Brasil como em outros pases, por meio da interveno
privada com base na caridade e na filantropia.
Na maioria dos pases que vivenciaram a montagem e desenvolvimento dos
estados de bem-estar social, a responsabilidade pela proteo social dessas populaes foi assumida progressivamente pelo poder pblico. No Brasil, as respostas
oferecidas para fazer frente s situaes de carncia e vulnerabilidade da populao pobre no envolvida em vnculos formais de trabalho continuaram, entretanto, majoritariamente voltadas aos grupos isentos da obrigao de trabalho e
oferecidas pelas instituies privadas. A criao do Conselho Nacional de
Seguridade Social (CNSS) e da LBA organizou a interveno pblica do Estado brasileiro na assistncia social, ao mesmo tempo em que reafirmou a prima-
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
219
zia da ao privada neste campo, ao qual o Estado passou a prestar sua cooperao. A regulao do subsdio pblico ao privada marcou as dcadas que
se seguiram. Sucedem-se leis ampliando e normatizando o acesso a subsdios e
a iseno de impostos e de contribuies sociais em benefcio das entidades
consideradas beneficentes. 50
A Assistncia Social, neste contexto, no tratava seno parcialmente do
tema da pobreza. Era sobretudo a vulnerabilidade de situaes ligadas ao ciclo
de vida da populao pobre, e em especial a maternidade e a infncia, o objeto
de ateno dos servios assistenciais. De fato, a pobreza, como j afirmou Telles
(2001, p. 18), sempre foi tema do debate poltico no pas, mas como espao
social que aguardava ser incorporado modernidade, resduo que escapou
potncia civilizadora da modernizao.
Contudo, na dcada de 1980, tornam-se evidentes os limites apresentados
tanto pela resposta econmica como pela filantrpica ao problema da
vulnerabilidade de uma parcela ampliada da populao, gerando uma retomada
do debate sobre a questo social. A precarizao do mercado de trabalho nacional, a ampliao de expressivos contingentes de trabalhadores excludos de situaes estveis de trabalho, e o risco permanente de ampliao da populao em
situao de indigncia, associados ao recrudescimento do debate democrtico e
da mobilizao social em suas diversas formas, incitaram a transformao da pobreza per si em questo social. A partir deste momento, ela passa a ser objeto de
amplo reconhecimento, instituindo uma nova prioridade de interveno por parte do Estado, ainda que as primeiras medidas tenham sido tmidas e pontuais.51
Foi neste contexto que a Constituio de 1988 deu um passo inovador,
reconhecendo a assistncia social como direito do cidado e resgatando a responsabilidade do Estado no atendimento s populaes vulnerveis tradicionalmente pblico-alvo da assistncia. A Constituio estende direitos aos idosos
e portadores de deficincia pobres por meio da instituio de um benefcio
mensal no valor de um salrio mnimo, alargando assim a cobertura propiciada at ento pela Renda Mensal Vitalcia (RMV), agora garantido como direito assistencial sem exigncia de contrapartida contributiva. Reconhece ainda
direitos assistncia da parte de outros grupos vulnerveis como a infncia, a
adolescncia e a maternidade, e destaca a necessidade de proteo de crianas
e adolescentes carentes. Afirma, porm, que a assistncia ser prestada a quem
dela necessitar, incluindo, entre o pblico-alvo, a famlia.
50. Uma ampla descrio desta legislao apresentada por Mestriner (2001). Sobre o debate parlamentar sobre as subvenes sociais entre 1945 e 1964, ver Jaccoud (2002).
51. Sobre a reestruturao da Assistncia Social e as polticas de combate pobreza na dcada de 1980,
ver Draibe (1998).
220
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
A poltica nacional de assistncia social, entretanto, consolida-se somente
aps a promulgao da Lei Orgnica da Assistncia Social (Loas), em 1993. A
Loas institui como eixos de ao uma poltica de mnimos sociais e uma poltica
de atendimento de necessidades bsicas, universalizada para grupos particularmente vulnerveis da sociedade: crianas, jovens, idosos e deficientes, alm de
famlias pobres. A Constituio de 1988 e a Loas buscam realizar uma definio
mais clara, apesar de ainda imprecisa, do pblico-alvo (crianas, jovens, idosos,
portadores de deficincia e famlias), dos critrios de elegibilidade (cortes etrios
e de renda) e das aes assistenciais. Com isso, polticas assistencialistas antes
discricionrias (por definio, circunstanciais e sujeitas a manipulaes clientelistas
e eleitorais) puderam tornar-se polticas de Estado, sujeitas a regras estveis e,
em alguns casos, de aplicao universal. Estes instrumentos legais tm ajudado
a desmarginalizar e em alguns casos, at descriminalizar parcela da populao potencialmente beneficiria da Assistncia Social.
A construo de direitos sociais associados Assistncia Social tem elevado
condio da cidadania social grupos pobres da sociedade. Isto foi feito para idosos
e portadores de deficincia pobres, que desde 1996 usufruem do direito constitucional de desfrutarem, sem contrapartida alguma, de parte do excedente geral da
sociedade sob a forma de benefcios monetrios por intermdio do Benefcio de
Prestao Continuada (BPC). Note-se, contudo, que os direitos preconizados no
mbito da Assistncia Social esto condicionados a grupos especficos e a critrios
bastante restritivos de renda, mantendo a excluso de uma parte ainda significativa da populao que depende fundamentalmente de estratgias individuais e particulares para a sobrevivncia, mesmo para situaes de incapacidade para o trabalho
por doena ou velhice.
As aes de assistncia social so definidas pela Loas em quatro tipos: benefcios, servios, programas e projetos assistenciais. Os benefcios se subdividem
em duas categorias: i) o BPC, garantindo renda permanente de um salrio mnimo mensal a idosos e portadores de deficincia com renda mensal per capita
inferior a um quarto de salrio mnimo, e ii) os Benefcios Eventuais, para assegurar o pagamento de um auxlio por natalidade ou morte populao com
renda mensal per capita inferior a um quarto de salrio mnimo. A Loas indica
ainda que poderiam ser estabelecidos outras categorias de benefcios eventuais
para atender necessidades advindas de situaes de vulnerabilidade. Cabe observar que este tipo de benefcio de competncia da esfera municipal.
Os servios assistenciais so definidos na lei como as atividades continuadas que visam melhoria de vida da populao, e voltadas para o atendimento
das necessidades bsicas. So considerados servios as atividades de atendimento ou abrigamento, como por exemplo creche, asilos, abrigos, servios de habilitao de portadores de deficincia ou atividades de socializao de idosos e
jovens. Os servios assistenciais so realizados, em geral, por entidades priva-
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
221
das, e as aes federais neste campo referem-se a recursos transferidos para as
esferas estadual e municipal, objetivando atender a rede local de Servios da
Ao Continuada, a chamada rede SAC.
A Loas prev ainda a implementao de programas e projetos
de enfrentamento pobreza. Dentre os programas federais, alguns tm merecido destaque por possuir certa estabilidade. So eles o Programa de Erradicao
do Trabalho Infantil (Peti), criado em 1996 e em contnua expanso desde
ento, o Programa Agente Jovem, criado em 1999, e o Programa de Combate
Explorao Sexual de Crianas e Adolescentes, criado em 2001. Os projetos
so, via de regra, de iniciativa local, tendo expresso, no nvel federal, por meio
dos programas de gerao de trabalho e renda.
Contudo, a residualidade da poltica de assistncia social52 continua sendo
confrontada no apenas com o problema da pobreza da populao no trabalhadora como tambm da populao trabalhadora. Os pobres, no podendo mais
ser tratados por um projeto futuro de incorporao modernidade, afirmam-se
como problema efetivo da ao pblica. A tradicional opo gesto filantrpica, em que pese seu recrudescimento recente, 53 passa a ser cada vez mais reconhecida como insuficiente. Assim, entre uma demanda de ampliao da interveno
do Estado no campo da proteo social e a proposta de sua reduo pela via da
focalizao nos mais pobres, a dcada de 2000 inaugurou uma nova vertente
de polticas federais no campo da assistncia social: as polticas de transferncia de
renda. No mbito federal,54 os programas de transferncia de renda tiveram incio
em 2001, com a criao do Bolsa-Escola, e do Programa Nacional de Renda Mnima vinculado sade, conhecido como Bolsa-Alimentao. Em 2002 nasceu o
Auxlio-Gs, vinculado ao Ministrio das Minas e Energia.55 O quadro 3 apresenta as caractersticas principais destes programas.
52. Uma anlise do carter residual da Assistncia Social pode ser encontrada em Boschetti (2003).
53. Entre outros, ver Paoli (2002) e Yazbeck (1995).
54. As polticas de transferncia de renda no Brasil tiveram origem na esfera municipal. Sobre sua histria,
ver Fonseca (2001) e Silva, Yasbek e Giovanni (2004).
55. Em 2003 surgiu o Carto Alimentao, criado no bojo do Programa Fome Zero. A criao, neste
mesmo ano, do Programa de Transferncia Direta de Renda com Condicionalidades, o Bolsa Famlia,
unificou todos os programas de transferncia de renda sob responsabilidade do governo. O programa
Bolsa Famlia visa atender as famlias de renda mensal abaixo de R$ 100,00 per capita a partir de dois
tipos de benefcio: o bsico, composto por uma bolsa de R$ 50,00, e o varivel, que atender gestantes
e crianas de 0 a 15 anos, at o limite de trs pessoas, no valor de R$ 15,00 por pessoa. As famlias com
renda mensal per capita de at R$ 50,00 podero beneficiar-se com os dois tipos de benefcios. As
famlias com renda entre R$ 50,00 e R$100,00 per capita faro jus somente ao piso varivel de R$ 15,00
por criana de 0 a 15 anos, acumulando uma bolsa que pode chegar a R$ 45,00. Os dois tipos de
benefcios tm funes diferentes. Enquanto o varivel est vinculado ao cumprimento de certas
condicionalidades (presena das crianas na escola, freqncia em postos de sade, manuteno em dia
das cadernetas de vacinao, entre outros), o pagamento bsico visa combater a fome e a pobreza das
famlias em situao mais vulnervel.
222
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
QUADRO 3
Programas federais de transferncia de renda 2002
Caractersticas e
Aes/Programas
Populao
beneficiada
Valores pagos
mensalmente
Condicionalidades
Legislao
Gesto
Auxlio-Gs
Famlias com
s.m. per capita
R$ 7,50
Decreto no 4.102,
de 24/01/2002
Ministrio de
Minas e Energia
Bolsa-Alimentao
Famlias com
s.m. per capita e
com crianas de 0
a 6 anos
R$15,00 por
membro da
famlia elegvel
at R$ 45,00
Realizar pr-natal,
vacinao e
consultas mdicas
regulares
MP n o 2.206-1,
de 06/09/2001
Ministrio
da Sade
Bolsa-Escola
Famlias com
s.m. per capita e
com crianas de 7
a 14 anos
R$ 15,00 por
criana, mx.
de R$ 45,00
Comprovar
freqncia regular
escola
Lei no 10.219,
de 11/04/01
Ministrio
da Educao
Fonte: MDAS, apud Polticas Sociais: acompanhamento e anlise n 8, fevereiro de 2004 (Ipea).
Por fim, no que se refere s aes na rea de alimentao, pode-se observar
tambm um quadro heterogneo. O programa Merenda Escolar a nica ao
estruturada e consolidada neste campo no pas. Outros programas federais em
matria de alimentao se organizaram, em especial aps 1972, quando foi
criado o Instituto de Alimentao e Nutrio (Inan). Foram, entretanto, marcados pela descontinuidade. 56 Suas aes voltavam-se preferencialmente ao
pblico materno-infantil, em torno do qual se organizaram programas tais
como o Nutrio em Sade, e para a distribuio emergencial de alimentos.
O Merenda Escolar um programa antigo. Foi criado em 1955, no Ministrio da Educao e Cultura, mas sua importncia tambm parece ter sido restrita at o incio da dcada de 1970. Sua expanso foi significativa nas dcadas
de 1970 e 1980, e em 1988 foi reconhecido como dever do Estado no mbito
da educao fundamental. Contudo, a situao do programa ainda se reveste de
certa ambigidade, carecendo de regulamentao mais ampla. Isto porque,
de um lado, a Lei de Diretrizes e Bases no reconhece a merenda escolar como
parte dos gastos em educao, sendo o programa, em nvel federal, financiado com
recursos da Seguridade Social. Cabe lembrar que em 1998 a institucionalizao
do programa sofreu um avano significativo com a implementao do procedimento de transferncia direta dos seus recursos aos municpios, em substituio
ao mecanismo de repasse via convnios. A normatizao desta transferncia instituiu-se na forma de per capita para todas as crianas matriculadas no apenas no
ensino fundamental, mas tambm na pr-escola. Contudo, em que pese a responsabilidade compartilhada nos programas referentes educao fundamental, no h legislao reguladora da participao financeira dos demais entes
federados neste programa.
56. Cabe lembrar que, no mbito das polticas de proteo ao trabalhador assalriado, instituiu-se o
campo da alimentao via Saps. Extinto em 1967, este programa teve continuidade, alguns anos depois,
com criao do Programa de Alimentao do Trabalhador (PAT).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
223
A alimentao, com a j mencionada exceo da merenda escolar, no
tratada como direito pela Constituio de 1988. Sua trajetria recente no
conjunto das polticas sociais brasileiras continua marcada por forte
descontinuidade e fragmentao. Esta poltica ganhou impulso durante a dcada de 1990, em decorrncia da mobilizao social que se seguiu ao movimento Ao da Cidadania contra a Fome, a Misria e pela Vida, deflagrado
por vrias entidades da sociedade civil. Tendo ganhado institucionalidade durante o governo Itamar Franco, com a elaborao do Plano de Combate Fome
e Misria e a instalao, em 1993, do Conselho Nacional de Segurana
Alimentar (Consea), perdeu visibilidade durante o governo Fernando Henrique
Cardoso.57 O programa de distribuio emergencial de alimentos, que chegou
a distribuir em seu auge (1998), cerca de 30 milhes de cestas de alimentos
para pblicos diversos em situao de risco (famlias em situao de indigncia, vtimas da seca, trabalhadores rurais sem terra),58 foi extinto em 2001, e
substitudo por um programa de transferncia de renda, o Bolsa Renda. Este
visava distribuio emergencial de renda para atender a famlias residentes
em municpios em estado de calamidade pblica.
5.2 Abrangncia atual e tenses das polticas centradas na Assistncia Social
No quadro 4, procura-se agrupar tanto as polticas de Estado construdas aps
1988 para a Assistncia Social, como as aes de transferncia de renda e combate fome e, na seqncia, qualificar o escopo da poltica de assistncia e
combate fome no Brasil, a partir da anlise de seus indicadores de cobertura
e gasto. Posteriormente, busca-se avanar na apresentao das tenses atuais
que se estruturam em torno deste eixo de polticas.
Primeiramente, necessrio apontar para o fato de que o conjunto de polticas e programas governamentais que se estruturam em funo da assistncia social
e do combate pobreza consome um percentual muito reduzido do gasto
social federal total. Algo como 2,4% do GSF se destinaram, na mdia do perodo
1995-2002, ao custeio dos programas institucionais da Assistncia Social,
notadamente BPC, SAC, Peti e Brasil Jovem, financiados com recursos do Fundo Nacional de Assistncia Social (FNAS). J 0,8% do GSF teve como destinao
57. Em 2003, a poltica de segurana alimentar recupera importncia com o lanamento do Programa
Fome Zero e a reconstruo do Consea. O Programa Fome Zero pretende que todas as famlias
tenham condies de se alimentar dignamente com regularidade, quantidade e qualidade necessrias
manuteno de sua sade fsica e mental, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Abarca uma ampla gama de aes como por exemplo a reforma agrria, o fortalecimento da
agricultura familiar, programas de gerao de trabalho e renda, desonerao tributria dos alimentos
bsicos , entre as quais destacam-se, no mbito da Assistncia Social, os programas de transferncias
de renda e de distribuio de alimentos, ao lado do qual se inclui a merenda escolar.
58. Ver Ipea/SEDH/MRE (2002).
224
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
o custeio do Merenda Escolar e de atividades voltadas distribuio de alimentos e combate a carncias. Cabe indicar, entretanto, que durante a dcada de
1990 e at o comeo do governo Lula, as polticas de assistncia e transferncias
de renda mantiveram um crescimento permanente de seus gastos. Esta trajetria no se reproduziu, contudo, nos gastos com alimentao. 59
QUADRO 4
Brasil: abrangncia da interveno social do Estado em mbito Federal
Polticas organizadas com base na Assistncia Social e Combate Pobreza1
Eixo estruturante
Polticas de
mbito federal
1. Assistncia
Social
% GSF
95/02
Principais programas
2,4
1.1 Ateno PPD (RMV e BPC/Loas)
1.2 Valorizao e Sade do Idoso (RMV e
BPC/Loas)
1.3 Ateno Criana (SAC/Loas)
1.4 Peti
Assistncia Social
e
Combate Pobreza
1.5 Agente Jovem
2. Alimentao e
nutrio
0,8
2.2 Distribuio Emergencial de Alimentos,
Assistncia Alimentar e Combate a
Carncias
3.1 Auxlio-Gs
3. Aes diretas de
Combate Pobreza
via transferncia de
renda
Total
2.1 Merenda Escolar
3.2 Bolsa-Alimentao
3.3 Bolsa-Escola
3.4 Bolsa Renda
3,2
Fonte: Disoc/Ipea. Elaborao dos autores.
Nota: 1Ano de referncia 2002. Inclui programas e aes sociais constitucionalizadas e eventuais.
Na mdia daquele perodo, portanto, entre 1995 e 2002, observa-se que
um percentual muito pequeno de dispndios permanentes do governo federal
foram destinados aos programas de natureza no contributiva, fato que se reflete tambm na cobertura efetiva desses programas, tal como sugerem os indicadores da tabela 6 para os anos de 2000 a 2002.
59. Sobre a trajetria do gasto social para as polticas do Eixo da Assistncia Social, como das demais
polticas, ver captulo 6 desta coletnea.
225
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
TABELA 6
Brasil: quantidade de famlias atendidas nos servios, projetos e programas
assistenciais com recursos federais, 2000 a 2002
Servios assistenciais
Anos
Criana
Idoso
Erradicao Benefcios de
Deficiente Enfrentamento do Trabalho Prestao
Infantil
Continuada
Pobreza
Ass. integral criana
e ao adolescente
Abrigo
Sentinela
Agente
Jovem
2000
1.620.831
290.532
128.823
36.290
394.969
1.209.927
24.154
39.713
2001
1.608.746
301.011
140.336
473.863
749.353
1.339.119
94.563
18.310
102.304
1.631.162
306.703
150.302
205.816
809.228
1.614.561
24.158
17.870
69.812
2002
Fonte: MDAS. Elaborao: Disoc/Ipea.
A tabela 6 aponta a estabilidade do percentual de crianas de 0 a 6 anos de
idade atendidas pelos servios assistenciais, quais sejam, creches e pr-escolas.60
Trata-se de atendimento a cerca de 1,6 milho de crianas carentes, situadas em
famlias com renda mensal per capita inferior a meio salrio mnimo. A tabela
aponta, ainda, no indicador de cobertura para a populao jovem carente de 15
a 17 anos atendida pelo programa Agente Jovem, que algo como 69,8 mil jovens
desse segmento populacional foram alvo efetivo do programa em 2002 um
decrscimo no desprezvel em relao ao ano anterior, fato que demonstra seu
atendimento no regular.
O ndice de cobertura do BPC para os idosos , entretanto, bastante alto.
Em 2002, somente 128 mil idosos de 67 anos ou mais de idade ainda detinham
uma renda per capita inferior a um quarto de salrio mnimo. A progresso do
BPC em suas duas modalidades, idoso e pessoa portadora de deficincia, pode
ser avaliada pelos dados apresentados no grfico 4.61
A tabela 7 permite visualizar, por faixa etria, a proporo da populao
com renda mdia per capita inferior a um quarto e meio salrio mnimo, faixas
que tm sido consideradas como referncias para as polticas de assistncia
social. O expressivo volume de populao dentro destas faixas de renda, em
especial aquele referente s crianas e jovens, indica a baixa cobertura da maior
parte dos programas voltados a esta populao. Revela ainda os enormes desafios que se colocam poltica de assistncia social e s estratgias de combate
pobreza em curso no pas.
60. Cabe lembrar que, durante o perodo, todo o recurso federal destinado a creches foi oriundo da
Assistncia Social, no tendo tido o MEC qualquer atuao neste campo.
61. As dificuldades estatstica (periodicidade dos gastos e classificao das deficincias) para o clculo do
ndice de cobertura do BPC para portadores de deficincia grande, tendo-se optado aqui por no
realizar estimativas sobre este universo.
226
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
GRFICO 4
Brasil: benefcios assistenciais emitidos pelo INSS, 1993-2003
Nmero de benefcios emitidos
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Anos
1999
2000
2001
2002
2003
Total Benef. Assistenciais
Amparos Assistenciais (BPC/Loas)
Penses Mensais Vitalcias
Rendas Mensais Vitalcias
Fonte: MPAS, Registros Administrativos. Elaborao: Disoc/Ipea.
TABELA 7
Brasil: populao dentro dos critrios de renda fixados para acesso aos servios da
Assistncia Social, 1996 a 2002
1996
Cortes Etrios
1997
1998
1999
2001
2002
<1/2 s.m. <1/4 s.m. <1/2 s.m. <1/4 s.m. <1/2 s.m.<1/4 s.m. <1/2 s.m. <1/4 s.m. <1/2 s.m.<1/4 s.m. <1/2 s.m.<1/4 s.m.
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Brasil
31,4
13,8
30,3
12,8
28,7
11,8
26,8
10,4
30,2
12,6
29,4
11,2
0 a 6 anos
45,5
23,0
44,6
21,7
43,8
21,0
41,7
18,4
46,9
22,4
46,3
20,1
7 a 14 anos
43,0
20,8
41,4
19,5
40,3
18,1
38,7
16,4
44,1
20,1
43,3
18,3
15 a 17 anos
34,3
14,4
33,5
13,6
31,5
12,5
30,8
11,8
35,2
14,1
35,3
13,1
18 a 24 anos
27,6
10,8
27,1
9,7
24,9
9,0
23,7
7,8
27,1
10,0
26,7
9,2
25 a 59 anos
25,3
10,6
24,1
9,8
22,9
8,9
21,2
7,9
24,3
9,6
23,4
8,4
60 a 66 anos
19,1
5,2
18,1
4,6
16,0
4,0
12,1
3,1
13,9
3,8
13,5
3,4
67 anos ou mais
16,9
3,5
16,3
2,9
13,4
2,1
8,6
1,2
9,1
1,8
8,6
1,4
Fonte: IBGE, Pnad. Elaborao: Disoc/Ipea.
Quanto cobertura da merenda escolar, esta evoluiu de 33,2 milhes de
alunos atendidos em 1995 para 36,9 milhes em 2002, acompanhando a
universalizao do ensino fundamental e atendendo praticamente a totalidade
dos alunos matriculados em escolas pblicas no pas no ensino fundamental e
pr-escola.
As aes de combate pobreza via transferncias de renda so marcadas
no Brasil por sua origem recente. Elas vem registrando, entretanto, um cresci-
227
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
mento constante. Entre 2001 e 2002, estiveram em operao trs distintos
programas federais de transferncias de renda, cuja cobertura pode ser acompanhada na tabela 8.
TABELA 8
Programas federais de transferncia de renda: 2001-2002
Programas
Ano de criao do Programa
Famlias beneficiadas em 2001
Famlias beneficiadas em 2002
Auxlio-Gs
2002
Bolsa-Alimentao
2001
8.556.785
966.553
Bolsa-Escola
2001
4.794.405
5.106.509
Bolsa Renda
2001
1.012.801
1.665.759
Fonte: MDS, Anlise Comparativa de Programas de Proteo Social (2004).
O clculo da populao atendida de fato pelos programas de transferncias
de renda difcil de ser medido devido possibilidade de inscrio em mais de
um programa. Contudo, os dados j apresentados no quadro 3 (seo 5.1) demonstram com clareza o impacto positivo do conjunto das polticas pblicas de
transferncias de renda no combate pobreza. Cabe, porm, observar que, enquanto as polticas sociais no-contributivas de natureza constitucional, como a
Previdncia Rural e o BPC, transferiram em 2002, respectivamente, R$ 16,2 e
R$ 3,5 bilhes, somando quase R$ 20 bilhes, os programas de transferncias
de renda (Auxlio-Gs, Bolsa-Alimentao, Bolsa-Escola e o programa de atendimento emergencial Bolsa Renda) transferiram para as famlias pobres cerca de
15% deste valor (R$ 2,5 bilhes).62
Nesse contexto, vale, finalmente destacar trs focos de tenso do Eixo da
Assistncia Social: a descontinuidade observada em face da poltica de previdncia social, a importncia crescente das aes de transferncia de renda e a
dependncia da ao filantrpica.
O primeiro destes focos diz respeito prpria abrangncia do SBPS.
A idia de um sistema pblico de proteo social se expandiu nos anos 1980 e
encontrou eco no texto constitucional, que garante o acesso assistncia social
para quem dela necessitar. A situao de necessidade resgatada pela Loas, em
seu artigo primeiro, que atribui Assistncia Social a funo de prover mnimos
sociais e de garantir o atendimento s necessidades bsicas. Dessa forma, a Assistncia Social deixaria de restringir-se ao atendimento de grupos especficos da
populao, selecionados em funo de sua pobreza e de sua incapacidade para o
trabalho, e aproximar-se-ia de um modelo de proteo social onde o direito a
62. MDS (2004). Sobre o impacto da Previdncia Rural no combate pobreza, ver Delgado e Cardoso
(2000). Uma anlise dos impactos sociais dos benefcios no contributivos, incluindo a Previdncia Rural
e o BPC, pode ser encontrada em Schwarzer e Querino (2002).
228
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
um mnimo social seria garantido tambm a grupos e situaes no cobertos
pela Previdncia Social. Entretanto, a afirmao de uma obrigao do Estado
diante de uma populao pobre ainda um processo que enfrenta obstculos
recorrentes. A Assistncia Social assegurou direitos referentes sobrevivncia a
grupos ainda restritos da populao, beneficirios do BPC. Mas, em que pesem
os impactos altamente positivos desta poltica no combate pobreza, sua ampliao vem ocorrendo com resistncias, em especial vis--vis as restries oramentrias correntes.
Paralelamente ao BPC, as aes de transferncia de renda que, como visto
aqui, vm ganhando progressiva importncia em anos recentes, parecem, primeira vista, representar um avano no alargamento do SBPS. Contudo, tambm
aqui surgem dificuldades. Estes programas, edificados como aes emergenciais
de combate direto pobreza, em geral organizados institucionalmente fora do
gestor federal da poltica de assistncia social, mantm-se ainda associados a
grupos especficos da populao, principalmente o materno-infantil.
A centralidade conferida s aes focalizadas de transferncia de renda
para o combate direto pobreza desperta uma tenso especfica no campo da
assistncia social. Estes programas se assentam numa vertente distinta da representada pela Loas, e ganharam importncia por serem vistas como alternativa, e no como complementares, a uma poltica social associada aos objetivos
garantir mnimos sociais. Associado a um diagnstico de crise do Welfare State
nos pases centrais, e de inadequao entre este sistema de proteo social e a
nova dinmica econmica mundial, correntes importantes do debate poltico
brasileiro passaram a enfatizar a inviabilidade do sistema de seguridade social
aprovado pela Constituio e a insistir na necessidade de alterao do sistema
nacional de proteo social. O diagnstico era ainda reforado por uma interpretao de que as polticas tradicionais de proteo social no Brasil, de cunho
previdencirio, refletiam privilgios de origem corporativa, deixando a descoberto os segmentos mais carentes e vulnerveis da sociedade brasileira. Nesta
leitura, o objetivo da interveno social do Estado deveria ser o combate
pobreza. Quanto mais focalizados estiverem os gastos sociais do governo nos
grupos sociais de mais baixa renda, maior seria o impacto destes recursos sobre
aqueles objetivos. As polticas compensatrias voltadas para as camadas mais
pobres da populao passaram a ser apresentadas, em larga medida, como
alternativa oferta universal de bens e servios pelo Estado, ao mesmo tempo
em que os direitos sociais passaram a ser associados a privilgios dos quais os
mais vulnerveis so excludos.
Assim, a nfase em polticas de combate direto pobreza pode comprometer o avano contido no esforo por tentar transformar a Assistncia Social
em parte integrante das polticas sociais de carter universal, e da Seguridade
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
229
Social. A primazia no combate direto pobreza pode ter como conseqncia o
enfraquecimento do carter permanente e institucional das polticas de Estado, deslocando a ao pblica meramente para o tem sido chamado combate
excluso. 63 Tais aes, se no associadas a polticas e programas universais, ancorados no princpio do direito social, e se no articuladas a polticas de desenvolvimento, conquanto louvveis num contexto de ampla presena da pobreza e da
indigncia, no podero propiciar aos seus beneficirios garantias seja de acesso
a servios, seja de renda mnima de proteo social. Ao lado dos riscos de
ampliao do carter discricionrio da poltica pblica e presses polticas
de vrias ordens, persistem neste campo dificuldades prprias de qualquer
poltica focalizada: definies problemticas para linhas de pobreza, mecanismos quase sempre falhos de controle das aes focalizadas, alm de muitas
vezes questionveis no que respeita aos critrios de avaliao de efetividade,
eficincia e eficcia das polticas. De poltica de Estado a programas de governo; de cidado a cliente de programas de combate pobreza. Esta a tenso
fundamental em curso no cerne das polticas sociais brasileiras, notadamente
na rea da Assistncia Social.
Alm deste problema intrnseco ao arcabouo institucional atual da Assistncia Social, ligado s polticas de transferncia de renda, uma terceira tenso
tem se revelado como particularmente aguda neste campo de polticas. A Assistncia Social continua marcada, at hoje, pela ao fragmentada das obras
assistenciais, e pela forte presena das instituies privadas acompanhadas por
uma ao residual e fragmentada da ao pblica no que se refere alocao de
recursos, subsdios e implementao de programas e projetos. A regulao
do Estado diante da ao realizada por instituies privadas um aspecto central do processo de construo da Assistncia Social como poltica pblica, na
medida em que ela depende da capacidade de prestao de servios, planejando
seu crescimento e instituindo padres bsicos para a qualidade dos servios prestados. A normatizao do financiamento pblico indireto do qual se beneficiam
as entidades assistenciais aspecto tambm importante deste problema.
6 POLTICAS ORGANIZADAS COM BASE NOS DIREITOS INCONDICIONAIS
DE CIDADANIA SOCIAL
O terceiro eixo de polticas sociais aqui identificado diz respeito s polticas
sociais de escopo universal, cujo acesso no est condicionado por nenhum critrio de seletividade, tendo por base nica a cidadania. Dele fazem parte as pol63. A proposta de primazia ao combate pobreza e/ou excluso tem estado largamente presente no
debate poltico desde os anos 1990, defendendo a tese de que cabe ao Estado o combate s situaes
de pobreza absoluta entendida como incapacidade de acesso aos mnimos vitais, em especial de acesso
alimentao.
230
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
ticas de sade e o ensino fundamental. Em que pese o fato do reconhecimento
destas duas polticas enquanto um direito social de carter incondicional ter
sido realizada em momentos diferentes, a partir de distintas trajetrias, elas
identificam-se hoje, no Brasil, com a prpria idia de cidadania social. Assim,
educao fundamental e sade so polticas cujo acesso gratuito assegurado em
carter obrigatrio pelo Estado a todo cidado brasileiro. Para isso, contam com
significativa estabilidade de financiamento, estruturam-se em torno de pactos
federativos e dispem de garantias para seu usufruto pelo cidado refletidas no
apenas na legislao infra-constitucional, como tambm em ampla e ativa fiscalizao dos poderes pblicos, entre eles, do Ministrio Pblico. 64
Entretanto, considerando a cidadania menos como status jurdico e mais
como processo histrico, cumpre ressaltar que atualmente estes direitos sociais
se encontram submetidos a fortes tenses e contradies. De fato, esto ameaados hoje, de um lado, pelo que j foi chamado de americanizao da pobreza:65
devido baixa qualidade dos servios ofertados, a proteo pblica passa a ser
consumida principalmente pelos pobres, dirigindo-se a classe mdia ao mercado para comprar tais servios. Por outro, a garantia de acesso a servios por meio
do reconhecimento de direitos sociais tambm vem sendo contestada por discursos organizados em torno da problemtica da pobreza transformada simplesmente em excluso social. Aps rpida apresentao da estruturao histrica
destas polticas e sua configurao atual, sero discutidos adiante de maneira
no exaustiva estes problemas.
6.1 Estruturao histrica das polticas de sade e ensino fundamental
O atendimento mdico-hospitalar, hoje universalizado, foi durante mais de
40 anos uma garantia restrita aos trabalhadores vinculados ao sistema de previdncia social. Para que se tenha uma idia da limitao da cobertura ento
vigente, em 1960 os segurados da Previdncia Social somavam pouco mais de
7% da populao brasileira.66
A partir da dcada de 1970, a assistncia mdica da Previdncia Social
passou a sofrer alteraes, afastando-se progressivamente do Eixo do Emprego e
assumindo nova configurao. Sucessivas reformas permitiram a ampliao da
cobertura. Assim, em 1974, com o Plano de Pronta Ao (PPA) implementado
64. Cabe lembrar aqui que a Constituio reconhece o dever do Estado no que se refere educao
infantil (creche e pr-escola) e aponta para a progressiva universalizao do ensino mdio gratuito.
Contudo, estes dois nveis no podem ser considerados direitos sociais, carecendo ainda de garantias
para sua oferta obrigatria por parte do Estado.
65. Vianna (1998).
66. Mercadante (2002).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
231
pelo Ministrio da Previdncia Social, os casos de emergncia passaram a ser
atendidos pela rede de servios mdicos da Previdncia Social, independentemente do paciente ser ou no a ela segurado. Esta medida seria explicada
como uma resposta a denncias na imprensa de omisso de socorro, relativa
folga no caixa previdencirio, alm de fazer parte do esforo de legitimao do
regime autoritrio. 67
Anteriormente, em 1971, a Previdncia Social realizou, via Funrural/Prorural,
a incorporao da populao rural tambm aos servios mdico-hospitalares, condicionados, contudo, disponibilidade de recursos oramentrios. Em seguida,
tambm em decorrncia da incorporao ao sistema previdencirio, passaram a
acessar os servios mdicos os autnomos e empregadas domsticas. Em 1975, o
governo federal intervm no sentido de organizar o setor Sade de forma sistmica,
definindo as atribuies do Ministrio da Sade e do Ministrio da Previdncia e
Assistencia Social.68 E em 1976, a instituio do Programa de Interiorizao de
Aes de Sade e Saneamento (Piass) avana, a princpio para o Nordeste e depois de 1979 para todo o pas. Este programa foi um dos precursores na busca de
uma maior articulao entre Previdncia Social, Ministrio da Sade e as secretarias estaduais e municipais de Sade.
na dcada de 1980, porm, com a ampliao das lutas pela democratizao e com a consolidao do Movimento pela Reforma Sanitria, que se afirma a
bandeira da unificao das diferentes redes de prestao de servios de sade, da
universalizao do acesso sade e seu reconhecimento como direito social universal. Nesta dcada, e em especial no perodo da chamada Nova Repblica, sucedem-se medidas no sentido de consolidar a articulao entre os servios prestados
pela rede previdenciria com os sistemas municipais e estaduais de prestao de
servios de sade, afirmando-se os contornos de um atendimento universal.69
A Constituio de 1988 representa a culminncia do processo de construo de
uma nova poltica nacional de sade, instituindo no pas um Sistema nico
de Sade (SUS) cujos princpios so os da universalidade e da integralidade, deslocando-se a poltica da sade para o campo dos direitos do cidado. Organizado
a partir de uma rede regionalizada e hierarquizada e contando com oferta pblica
e privada de servios, o SUS um modelo descentralizado de gesto financiado
pelas trs esferas de governo.
67. Mercadante (2002).
68. Lei no 6229, de 17 de julho de 1975, que dispunha sobre o Sistema Nacional de Sade.
69. criada, em 1980, a Comisso Interinstitucional de Planejamento (Ciplan); em 1982 criado o Plano
de Reorientao da Assistncia Sade no mbito da Previdncia Social (Plano Conasp); em 1984 foram
implantadas, como desdobramento deste plano, as Aes Integradas de Sade (AIS); e em 1987 criado
o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizados de Sade nos Estados (Suds).
232
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
Visando apoiar a estratgia de universalizao dos servios de sade e
reorientar o modelo de prestao de servios, vrias iniciativas foram realizadas
durante a dcada de 1990.70 Talvez a principal estratgia governamental em prol
da implementao de um novo modelo de assistncia em sade tenha sido a
criao do Programa de Sade da Famlia (PSF), em 1994. Seu objetivo ampliar
a cobertura junto s comunidades mais pobres e promover a articulao das aes
assistenciais com as preventivas e teraputicas. Ancorado em um mdico generalista
e apoiado por outros profissionais, dentre os quais se destaca o Agente Comunitrio de Sade (ACS), o PSF pretende identificar e tratar preventivamente um
conjunto amplo de doenas, humanizando o atendimento, propiciando um atendimento regular e garantindo atendimento integral populao.
Outra importante mudana, esta no campo do financiamento e da
descentralizao da gesto, foi a criao, a partir de 1993, de uma estratgia
baseada na habilitao de estados e municpios em estratgias progressivas de
descentralizao e de automatismo nas transferncias de recursos federais (repasses fundo a fundo). Na rea da ateno bsica de sade deve ser citada a
implementao, em 1998, do Piso Assistencial Bsico (PAB), instituindo um
valor per capita mnimo para vincular o clculo das transferncias de recursos
federais aos municpios. O PAB sofreu progressivas mudanas e aperfeioamentos, objetivando conciliar tanto o direito a um valor fixo que pudesse
representar uma garantia mnima ao atendimento bsico em sade, como a
promoo de atendimento em reas consideradas estratgicas, como as aes
preventivas, a vigilncia epidemiolgica e programas especiais. Por fim, cabe
lembrar a promulgao da Emenda Constitucional n 29, de 2000, que determinou a vinculao de recursos para a rea da sade, avanando na definio
de responsabilidade entre as trs esferas de governo.
Se a sade consolidou-se como poltica universal e direito social de cidadania apenas em 1988, na Educao, este processo se deu em outro ritmo. Na
verdade, desde 1891, a educao primria reconhecida como obrigatria. Entretanto, somente na dcada 1930 se organiza no pas um Sistema Nacional de
Educao, a partir de um amplo esforo de regulamentao setorial. Em 1930
criado o Ministrio da Educao e Sade. Nos anos seguintes, sero enfrentados
os desafios de elaborao de um Plano Nacional de Educao, da regulamentao
do financiamento do ensino pblico, da fixao das competncias nos diferentes
nveis de governo e do reconhecimento da gratuidade e obrigatoriedade do ensino primrio.71 At 1946, desenvolve-se um amplo movimento de construo
legal e institucional visando consolidao da estrutura da educao nacional.
70. Sobre este processo, ver Mercadante (2002).
71. Freitag (1980).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
233
Nesse perodo foram criados o Conselho Nacional da Educao, a Comisso
Nacional do Ensino Primrio, o Fundo Nacional do Ensino Primrio, o Instituto
Nacional do Livro, entre outras instituies no campo da educao. A implantao da rede pblica pode ser acompanhada pela progresso acentuada, mesmo que
ainda restrita, das matrculas. Paralelamente, implanta-se o ensino profissionalizante,
voltado para as classes menos privilegiadas, dando corpo a um ensino de carter
dual que objetivava atender separadamente as demandas de formao geral das
classes mdias e das elites, e uma necessidade de preparao da mo-de-obra industrial pela via do ensino profissionalizante. Nesse sentido, perfilam-se a promulgao em 1942 da Lei Orgnica do Ensino Industrial e, em 1943, da Lei
Orgnica do Ensino Comercial, seguidas pela criao dos servios nacionais de
aprendizagem industrial e comercial, o Senai (Servio Nacional de Aprendizagem
Industrial) e o Senac (Servio Nacional de Aprendizagem Comercial).72 Por trs
deste amplo esforo de organizao est a idia de construo da nao, embasando
um projeto de educao para o conjunto da sociedade brasileira, particularmente
central no perodo do Estado Novo.
A nova conjuntura aberta em 1946 com a promulgao da nova Constituio marcada pelo debate em torno da escola pblica versus ensino privado.
A promulgao da Lei de Diretrizes e Bases da Educao Nacional (LDB), em
1961, representou um compromisso entre as duas posies, compromisso que
marca ainda hoje o sistema educacional brasileiro. Em 1967, a nova Constituio amplia a obrigatoriedade do ensino primrio de quatro para oito anos. No
mesmo ano, cria-se o Movimento Brasileiro de Alfabetizao (Mobral), visando
alfabetizar a populao urbana de mais de quinze anos ainda analfabeta. Em
1971, promulgada a reforma do ensino do primeiro e segundo graus, no qual
se destacam a afirmao da profissionalizao como objetivo do ensino mdio, a
introduo do ensino supletivo, e a consagrao da obrigatoriedade do ensino
primrio de oito anos.
A dcada de 1970 marcada por forte expanso do ensino, atingindo no
apenas o primeiro grau, mas tambm os demais nveis. O crescimento das
matrculas foi acompanhado de reformas no sistema de financiamento do sistema educacional, das quais a mais importante certamente foi a chamada
Emenda Calmon,73 de 1983, que estabelecia vinculaes para gastos em edu-
72. Aureliano e Draibe (1989).
73. A Emenda Calmon determinou que o percentual mnimo de aplicao de recursos da Unio na
manuteno e no desenvolvimento do ensino no seria menor que 13% da receita resultante de
impostos, enquanto estados, Distrito Federal e municpios deveriam aplicar no mnimo 25% destes
mesmos recursos.
234
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
cao nos trs nveis de governo. Contudo, mantinha-se uma indefinio no
que se refere s atribuies de cada esfera de governo em relao oferta de
servios em educao.
A Constituio de 1988 ampliou para 18% o valor dos recursos da Unio
vinculados ao ensino, mantendo em 25% o percentual mnimo de aplicao
para estados e municpios. Alm disso, estabeleceu que, nos dez anos subseqentes sua promulgao, um mnimo de 50% dos recursos vinculados
Educao fossem aplicados no ensino fundamental e na erradicao do analfabetismo. Mas a clara definio no que tange responsabilidade pela oferta de
servios educacionais entre as esferas de governo veio com a aprovao da Lei
de Diretrizes e Bases para a Educao (LDB) em 1996. Segundo a nova LDB,
cabe Unio a coordenao da poltica nacional de educao. No tocante
educao bsica, alm da responsabilidade pela normatizao e pelo estabelecimento de um padro, materializada inclusive no estabelecimento de um
custo mnimo por aluno, cabe Unio um papel redistributivo e supletivo.
A oferta do ensino fundamental afirmada como responsabilidade de estados
e, principalmente, de municpios.
A reforma do ensino fundamental contou tambm com inovaes oriundas
da aprovao de emenda constitucional que criou o Fundo de Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizao do Magistrio (Fundef),
tambm em 1996. O Fundef, fundo contbil voltado ao financiamento do ensino
fundamental, reafirma as regras de vinculao institudas pela Constituio Federal, e obriga os entes federados a alocar 60% desses recursos nessa modalidade de
ensino. Ele afirma ainda a responsabilidade de complementao de recursos por
parte da Unio no caso de impossibilidade dos recursos alocados por estados e
municpios alcanarem o valor fixado de um gasto mnimo por aluno.
Dessa forma, cabe ao Ministrio da Educao (MEC) atuar diretamente na
coordenao da poltica nacional para o ensino fundamental, sendo responsvel
pela elaborao dos Parmetros Curriculares Nacionais (PCN), alm de responder por programas especficos que visam melhorar seu acesso e sua qualidade. o
caso do Programa Nacional do Transporte do Escolar (PNTE), do Programa
Nacional de Sade do Escolar (PNSE), do Programa Nacional do Material Escolar (PNME), do Programa Nacional da Merenda Escolar (Pnae) e do Programa
de Manuteno e Desenvolvimento do Ensino Fundamental/Dinheiro Direto
na Escola (PMDE/DDE). So programas federais de execuo descentralizada,
em geral ancorados em valores per capita repassados aos estados e municpios, ou
diretamente s escolas.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
235
Observa-se, assim, que as polticas de educao fundamental e de sade
trilharam, desde ao menos a dcada de 1980, trajetrias similares com a meta
da universalizao do acesso e do seu reconhecimento como direito social.
Entre as caractersticas comuns na execuo destacam-se a descentralizao
associada a atribuies diferenciadas e complementares entre as trs esferas de
governo, a execuo sob responsabilidade ltima da esfera local,74 a vinculao
de receitas garantidoras de maior estabilidade em seu financiamento e a instituio de pisos mnimos per capita como base da transferncia de recursos
federais. Cabe salientar ainda que a construo da nova institucionalidade destas duas polticas foi acompanhada pelo esforo de instituir de forma pactuada
seus instrumentos normativos e regulatrios, envolvendo, em que pesem as
diferenas entre as duas reas, os diversos atores sociais, e buscando o estabelecimento de compromissos entre eles. Por ltimo, cumpre lembrar que estas
polticas contam com substantiva presena do setor privado na proviso dos
servios, e que a regulao deste setor representa um dos pontos fortes de
tenso para ambas.
6.2 Abrangncia e tenses das polticas de sade e educao
O quadro 5 apresenta informaes sobre o conjunto principal de programas que
compem hoje as polticas de sade e educao, assim como apresenta o
percentual mdio do Gasto Social Federal (GSF) realizado em cada poltica.
Observa-se neste quadro que as polticas da sade e educao foram responsveis
por 21% do total do GSF no perodo 1995-2002.75 Os gastos federais referentes Sade representaram 13,7% do GSF, enquanto os programas ligados
Educao representam 7,3%, a includos todos os nveis de ensino e mais a rea
de cultura.
Para fins analticos, importante identificar a participao da esfera nacional nos gastos nestas duas reas. Na sade, as estimativas elaboradas para o ano
de 2002 indicam que o governo federal responsvel por 53% das despesas
pblicas, tendo ficado os estados responsveis por 22%, e os municpios, por
25%.76 Na educao, considerados todos os nveis de ensino, a Unio foi res74. Em ambas as polticas, observa-se tambm a existncia de crticas ao processo de descentralizao,
que teria resultado em uma municipalizao, com o esvaziamento do papel do governo estadual
especialmente no caso da Sade.
75. Embora no se aborde aqui explicitamente a rea de cultura, preciso mencionar que os gastos
federais ali alocados esto considerados neste eixo de polticas sociais.
76. Sistema de Oramentos Pblicos da Sade SIOPS/Ministrio da Sade.
236
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
ponsvel em 2000 por 24,2% dos gastos pblicos, os estados por 46,1%, e os
municpios, por 29,5%. Considerado apenas o ensino fundamental, estes valores so, respectivamente, de 11,9%, 47,2% e 40,9%.77
QUADRO 5
Brasil: abrangncia da ao social do Estado em mbito federal
Polticas organizadas com base nos Direitos Incondicionais de Cidadania
Eixo
estruturante
Direitos
Incondicionais
de Cidadania
Social
Polticas de
mbito federal
% GSF
95/02
1. Sade
13,7
Principais
Programas
1.1 SUS: Atendimento Ambulatorial,
Emergencial, Hospitalar e Farmacutico
1.2 SUS: Preveno e Combate a Doenas
(inclui campanhas pblicas)
1.3 Sade da Famlia
2. Ensino
Fundamental1
1,3
2.1 Ensino Fundamental (Toda Criana
na Escola e Escola de Qualidade
para Todos)
3. Outras
6,0
3.1 Ensino Mdio/Superior/Profissionalizante
3.2 Cultura
Outras
Total
21,0
Fonte: Disoc/Ipea. Elaborao dos autores.
Nota: 1O programa Toda Criana na Escola inclui, entre outras, aes para os programas Dinheiro Direto na Escola,
Transporte Escolar e Distribuio de Livros Didticos.
Apesar da relevncia das informaes sobre o GSF, importante analisar alguns dados sobre a cobertura destas polticas. A progresso favorvel e
contnua dos indicadores de mortalidade infantil e de esperana de vida ao
nascer presentes na tabela 9 permite sustentar no apenas a hiptese dos
efeitos positivos da ampliao da cobertura na rea de sade como tambm
da relativa eficcia de um conjunto importante de polticas e programas na
rea. A disparidade dos indicadores em nvel regional, contudo, se mostra
ainda extremamente elevada. Apesar disso, ambos os indicadores apontam
tendncia convergncia nos anos analisados, tendo as regies Norte e Nordeste reduzido a mortalidade infantil e avanado na esperana de vida ao
nascer em nveis percentuais superiores aos das demais regies do pas.
Os dados da tabela 10 sobre implantao do nmero de equipes do
PSF e do nmero de municpios com PSF implantado ao longo dos ltimos
dez anos tambm so indicadores expressivos de maior acesso da populao
aos servios de sade. Cabe ressaltar a maior presena de equipes do PSF na
regio Nordeste.
77. Castro e Sadeck (2002).
237
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
TABELA 9
Brasil e Grandes Regies: taxa de mortalidade infantil e esperana de vida
ao nascer, 2 1996 a 2000
Taxa de mortalidade infantil
1996
1998
Esperana de vida ao nascer
2000
1996
1998
2000
Brasil
38,0
33,1
28,3
67,6
68,0
68,6
Norte
36,1
34,6
28,9
67,4
67,9
68,5
Nordeste
60,4
53,5
44,9
64,5
65,1
65,8
Sudeste
25,8
22,1
19,1
68,8
69,2
69,6
Sul
22,8
18,7
17,1
70,2
70,6
71,0
Centro-Oeste
25,8
25,6
21,9
68,5
68,9
69,4
Fontes: Ministrio da Sade/Datasus e RIPSA/IDB 2001; IDB2002. Elaborao: Disoc/Ipea.
Notas: 1Mortalidade Infantil: nmero de bitos de crianas com menos de um ano de idade, por mil nascidos vivos.
2
Esperana de Vida ao Nascer: nmero mdio de anos esperado que um recm-nascido viva.
Obs.: Os dados para 1997, 1998 e 1999 so provenientes do IDB-2001 e foram calculados diretamente dos sistemas SIM
e Sinasc, para os estados que atingiram ndice final (cobertura e regularidade do SIM) igual ou superior a 80% e
cobertura do Sinasc igual ou superior a 90%. Os demais dados foram estimados pelo IBGE a partir de mtodos
demogrficos indiretos. Os dados de populao so provenientes do IBGE (contagem populacional e projees
demogrficas preliminares).
TABELA 10
Brasil e Grandes Regies: nmero de equipes e proporo de municpios com o
Programa de Sade da Famlia implantado, 1994-2003
Nmero de equipes do PSF1
Brasil
Norte
Nordeste
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
328
724
847
1.623
3.147
4.945
10.674
13.168
16.698
18.815
12
12
12
172
450
898
914
1.192
1.279
181
396
444
547
1.190
2.079
4.434
5.479
6.699
7.554
Sudeste
60
164
227
695
1.105
1.488
3.097
3.711
4.967
5.767
Sul
75
147
158
225
355
539
1.332
1.881
2.423
2.739
144
325
389
913
1.183
1.417
1.476
2003
Centro-Oeste
Proporo de municpios com o PSF implantado2
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Brasil
1,1
3,0
4,6
10,3
20,3
34,0
56,5
66,3
74,8
80,1
Norte
0,5
0,8
0,8
0,7
22,5
49,7
62,4
61,0
73,1
73,5
Nordeste
1,6
5,2
8,2
9,9
19,9
39,7
61,0
71,3
78,6
83,3
Sudeste
1,0
3,1
4,7
20,4
30,0
39,0
59,5
64,6
70,1
76,6
Sul
1,1
1,7
2,2
3,4
11,0
18,1
41,9
57,1
68,7
76,5
Centro-Oeste
0,2
0,2
0,5
1,8
7,6
17,5
58,5
81,2
94,8
96,3
Fonte: Ministrio da Sade/Secretaria de Polticas de Sade/Departamento de Ateno Bsica. Elaborao: Disoc/Ipea.
Notas: 1Cada equipe do Sade da Famlia atende em mdia 3.450 pessoas.
2
O Distrito Federal est sendo contado como municpio, sendo abrangido pelo PSF a partir de 1997.
Na Educao, o indicador de taxa de freqncia lquida do Ensino Fundamental, ou seja, a proporo de estudantes freqentando aquele nvel de
ensino e a populao total na faixa etria equivalente, corresponde ao apresentado na tabela 11.
238
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
TABELA 11
Brasil e Grandes Regies: taxa de escolarizao do ensino fundamental, segundo
categorias selecionadas, 1992 a 2002
Categorias
Taxa de escolarizao do ensino fundamental (7 a 14 anos)
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
Grandes Regies
Brasil
81,3
82,9
85,4
86,5
88,5
90,9
92,3
93,1
93,7
Norte
82,5
83,6
86,3
86,3
86,6
90,0
91,4
91,9
92,0
Nordeste
69,7
72,6
76,1
78,0
81,9
86,6
89,1
90,4
91,5
Sudeste
88,0
89,1
91,0
91,1
92,3
93,1
93,9
94,6
95,1
Sul
86,8
88,5
90,3
92,1
93,1
94,0
95,0
95,1
95,6
Centro-Oeste
85,8
85,5
88,1
89,8
90,4
93,0
93,3
94,3
93,7
Localizao
Urbana metropolitana
88,7
89,7
91,5
91,6
91,6
93,0
93,5
93,7
94,4
Urbana no metropolitana
84,7
85,9
87,4
88,9
90,2
92,2
93,3
93,7
94,0
Rural
66,4
69,6
74,6
75,7
81,3
86,0
88,9
90,7
91,6
Sexo
Masculino
79,9
81,8
84,3
85,6
87,7
90,5
91,7
92,8
93,3
Feminino
82,7
84,1
86,6
87,4
89,3
91,4
92,9
93,4
94,1
87,5
88,5
90,2
90,6
92,2
93,4
94,2
94,7
94,7
75,3
77,4
80,7
82,3
84,9
88,6
90,5
91,6
92,7
Raa ou cor
Branca
Negra
Fonte: IBGE, Pnad. Elaborao Disoc/Ipea.
Obs.: a) Nas pesquisas de 1992 e 1993 a freqncia escola era investigada apenas para pessoas com cinco anos
ou mais de idade.
b) A Pnad no foi realizada em 1994 e 2000.
c) Raa negra composta de pretos e pardos.
possvel perceber na tabela uma quase universalizao do acesso neste
nvel de ensino. Pode-se tambm observar ali que tal universalizao teve repercusses expressivas na reduo das desigualdades que marcavam o ensino
fundamental ainda no incio da dcada de 1990. Reduziram-se as disparidades
de acesso entre regies, entre reas urbana e rural, assim como as desigualdades entre raas. As diferenas de gnero quanto freqncia no ensino fundamental so totalmente superadas.
Em que pese a universalizao do acesso conquistado pelas polticas de
educao e da sade, um quadro ainda amplo de problemas se configura em
torno delas. Destacam-se aqui dois aspectos: a qualidade dos servios e a
universalizao para os mais pobres.
No que se refere ao ensino fundamental, os problemas relacionados com
qualidade da educao prestada tm sido objeto de amplo debate, intensificado aps a implementao do Sistema Nacional de Avaliao da Educao Bsica (Saeb) em 1990, cujos resultados peridicos apontam para insuficincia
no desempenho de parcela importante dos estudantes avaliados. Outros indi-
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
239
cadores, como os ndices de reprovao, repetncia e evaso escolar, alm dos
de defasagem entre idade do aluno e srie escolar freqentada, apontam tambm, inequivocamente, para os srios problemas que enfrenta hoje o ensino
fundamental no pas.
Na sade, pode-se afirmar que h consenso entre os analistas desta poltica
de que um dos maiores problemas se refere qualidade, em sentido amplo, dos
servios ofertados. Este problema est refletido, principalmente, na baixa capacidade de resoluo dos servios bsicos e na dificuldade de acesso a consultas e
exames especializados. Esta baixa qualidade dos servios tem sido associada
segmentao que estaria ocorrendo quanto ao pblico atendido. A universalizao
da sade e do ensino fundamental no Brasil parece estar se realizando com base
na excluso de parte da classe mdia destes servios. Na Sade, o gasto pblico
limita-se a 48% dos gastos totais na rea, patamar prximo ao dos Estados Unidos, mas bastante inferior ao percentual do gasto pblico com sade em pases
que desenvolveram sistemas universais de acesso. Em outras palavras, observa-se
que menos da metade dos gastos realizados com sade no Brasil est disposio
dos rgos responsveis por realizar a universalizao do acesso sade, ao contrrio dos 96,9% verificados na Inglaterra ou do patamar de 70 a 77% nos casos
da Alemanha, Austrlia, Canad ou Espanha.78 Neste contexto de reduzida participao do gasto pblico em sade, cabe lembrar o crescimento verificado no
sistema privado de sade suplementar, organizado via planos e seguros de sade,
cuja ampliao da adeso representa em boa parte uma procura pela garantia de
maior presteza no acesso aos servios de sade. 79
A cobertura universal em sade e no ensino fundamental est, ainda,
marcada por pblicos segmentados em face da modalidade pblica ou privada
e da qualidade varivel dos servios oferecidos. As polticas de educao e sade representam no Brasil os direitos incondicionais da cidadania social. Seus
objetivos dizem respeito presena da desigualdade como problema constitutivo
das sociedades modernas, movendo o Estado a garantir a ampliao e a
universalizao do acesso a alguns servios sociais. E em torno desta questo
que ainda residem seus maiores desafios.
7 POLTICAS ORGANIZADAS A PARTIR DO EIXO DA INFRA-ESTRUTURA SOCIAL
O quarto eixo de polticas sociais aqui proposto est estruturado em torno do
que considerou-se ser polticas de Infra-Estrutura Social, freqentemente classificadas como polticas urbanas, as quais dizem respeito a um tipo de interveno
78. OMS (2000).
79. Entretanto, os conflitos recorrentes envolvendo os diversos atores do sistema de sade complementar mostram que estas garantias no esto sendo efetivamente realizadas. Ver, a respeito, Reis (2005).
240
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
fortemente carregada de sentido social e que abrangeria as reas de habitao e
saneamento. 80 A maturao institucional tardia dessas duas reas de atuao do
Estado no Brasil, relativamente s demais reas tratadas at aqui, refora a idia
de um movimento diferenciado na trajetria de construo destas polticas.
Em seqncia ao percurso desenvolvido, faz-se nesta seo uma breve
recuperao histrica da montagem das polticas de habitao e saneamento
no Brasil, para depois apresentar alguns dados relativos abrangncia fsica e
financeira de ambas em perodo recente, procurando discutir, ao final, as tenses mais importantes em pauta na atualidade que ainda limitam o potencial
de xito dessas duas polticas pblicas.
7.1 Estruturao histrica das polticas de habitao
e saneamento no Brasil
Em linhas gerais, preciso registrar que ambas as reas habitao e saneamento se estruturaram como polticas pblicas to-somente aps 1964.
Antes disso, inexistiam polticas de escala e escopo nacionais, de modo que as
solues para os problemas habitacionais e de saneamento se davam, em grande medida, no mbito privado.81
No caso da Habitao, ainda havia uma certa vinculao aos IAPs, por
meio dos quais os trabalhadores formalizados de algumas categorias profissionais podiam dispor de esquemas de financiamento para aquisio ou construo da casa prpria.82 J no caso do Saneamento, consideradas aqui to-somente
as atividades de fornecimento de gua e coleta de esgoto, havia apenas investimentos pblicos espordicos, no sistemticos, localizados, sobretudo, nos
grandes centros urbanos, onde os problemas de sade pblica (doenas de
veiculao hdrica, mortalidade infantil etc.) derivados da falta de saneamento
bsico ameaavam as condies de reproduo das populaes locais.
80. A rigor, tambm pode-se considerar o setor de transporte coletivo urbano como parte integrante das
polticas de infra-estrutura social. Embora reconhecendo o seu evidente contedo social, no ser
includo neste trabalho em funo de ser uma poltica de responsabilidade municipal. A respeito, ver
Gomide (2003).
81. Os mutires comunitrios de autoconstruo e a favelizao dos grandes centros urbanos so formas
contundentes de manifestao das solues particulares para o caso da Habitao, assim como as teias
clandestinas de despejo de esgoto e os prprios esgotos a cu aberto nas cidades o so para o caso do
saneamento.
82. A experincia da Fundao da Casa Popular, criada em 1946, foi muito incipiente e no pode nem
mesmo ser considerada o embrio da poltica habitacional que se organizaria a partir do Sistema Financeiro da Habitao/Banco Nacional da Habitao (SFH/BNH) nos anos 1960.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
241
A partir de 1964, quando tem incio o movimento de institucionalizao
das polticas de habitao e saneamento, os mecanismos de financiamento e
de regulao setorial passaram a subordinar a dimenso social destas polticas
a objetivos polticos de natureza econmica e/ou regional pouco transparentes. Isto porque, embora as aes finalsticas das polticas de habitao e
saneamento sejam em si mesmas de proteo e impacto social, ambas esto na
verdade na fronteira entre as polticas sociais e econmicas, tendo sido na prtica
tratadas mais como polticas de crescimento econmico do que propriamente
como polticas de desenvolvimento regional ou social.
Do ponto de vista do financiamento, a criao e a vinculao do FGTS
como principal fonte de recursos para essas reas de infra-estrutura social introduziram o princpio do autofinanciamento como critrio de alocao e seleo
dos projetos, reduzindo com isso o poder redistributivo dessas polticas, situao
que se mantm praticamente inalterada at os dias atuais. Por sua vez, do ponto
de vista dos instrumentos de regulao setorial, o excesso de centralizao decisria
no nvel tecnoburocrtico federal e de ausncia de participao e envolvimento
tanto das populaes como dos gestores locais na definio de estratgias de investimento e de prioridades de gastos acabaram contribuindo para a ineficincia
social dessas polticas, mormente entre 1964 e 1995, quando tem incio um
novo movimento de reorganizao institucional (financeira e de gesto) das polticas de habitao e saneamento.
Uma breve recuperao histrica da montagem da poltica habitacional
no ps-6483 mostra que possvel distinguir trs momentos: 1964-1985, 19861994 e 1995-2002. O perodo 1964-1985 pode ser caracterizado como de
auge e declnio da poltica habitacional formulada e implementada pelo regime militar. Tem-se a criao do Sistema Financeiro da Habitao (SFH), fundado com recursos provenientes da arrecadao do Sistema Brasileiro de
Poupana e Emprstimos (SBPE) e, a partir de 1967, tambm com recursos
do ento criado Fundo de Garantia por Tempo de Servio (FGTS). Os recursos do SBPE (cadernetas de poupana e ttulos imobilirios) destinavam-se ao
financiamento de projetos habitacionais apresentados por construtoras particulares, obedecendo a critrios de mercado. Os recursos do FGTS, por intermdio do Banco Nacional da Habitao (BNH), deveriam financiar projetos
habitacionais de interesse social, j que se tratava de um fundo composto por
contribuies compulsrias, recolhidas pelos empregadores sobre o total de
remunerao devida aos trabalhadores com carteira assinada. Vale notar que,
com isso, o eixo central da poltica habitacional construda no perodo atrelava-se ao mercado de trabalho formal, sendo o FGTS a forma dominante de
83. Santos (1999).
242
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
financiar a compra ou a construo da casa prpria para a classe trabalhadora.
Por tratar-se de um fundo de natureza patrimonial, exige-se sustentao atuarial
intertemporal, motivo pelo qual a utilizao do FGTS para fins redistributivos
(financiamento habitacional para trabalhadores no formalizados ou de baixo
poder aquisitivo) limitada.84
No perodo 1986-1994, a poltica habitacional inexiste como poltica
sistemtica de governo, sendo a extino do BNH em 1986 a prova de que o
setor passava por sria crise institucional e indefinio de rumos.85 Contudo,
parece claro que a idia de que a poltica habitacional [pudesse] ser feita mediante um sistema capaz de se auto-financiar (liberando os recursos do poder pblico
para outros fins) foi praticamente sepultada, e o peso dos programas habitacionais
alternativos, executados em sua maioria com recursos oramentrios e do FGTS, no
total de financiamentos habitacionais, aumentou consideravelmente (Santos, 1999,
p. 18). Apesar disso, houve na prtica poucos avanos em termos da infraestrutura social dirigida aos segmentos sociais e localidades mais vulnerveis,
um vez que tal mudana de orientao da poltica habitacional se confrontava
com as restries fiscais que, desde o incio da dcada de 1980, operavam
como limitador do gasto pblico de pretenso redistributiva.
Diante deste cenrio, ganha especial importncia o perodo de 1995 a
2002 com a tentativa de reconstruo da poltica habitacional em mbito
federal.86 A nova Poltica Nacional de Habitao (1996) dava por esgotado o
modelo anterior, acusando-o de regressivo e insuficiente frente ao dficit
habitacional brasileiro, diagnosticado em 1995 em cerca de cinco milhes de
unidades habitacionais, ou 14,4% do total de domiclios particulares permanentes do pas (Morais, 2002, p. 114-116).87 Desse modo, e de acordo com a
84. Esta observao particularmente relevante quando se constata que 80% dos investimentos em
habitao, saneamento e infra-estrutura urbana foram financiados com recursos do FGTS entre 1995 e
2001 (Morais, 2002, p. 116).
85. A partir desta data, a poltica habitacional pulverizada por vrios rgos governamentais. O Banco
Central (Bacen) assume as funes normativas e fiscalizadoras, enquanto a Caixa Econmica Federal (CEF)
passa condio de agente financeiro do SFH e gestor do FGTS.
86. A habitao, reconhecida como direito social pela Emenda Constitucional n 26, de 14 de fevereiro
de 2000, ainda carece de regulamentao para afirmar-se nesta base.
87. Este dficit representou algo como 5,3 milhes de unidades habitacionais em 1999, ou 12,3%
do total de domiclios particulares permanentes do pas, conforme pode ser visto no grfico 5
adiante, na subseo 7.2. Deste total, 71,3% era o tamanho do dficit habitacional urbano e 28,7%
o dficit habitacional rural. Ainda em relao ao total, relevante mencionar que 92,4% do dficit
habitacional estava concentrado em 1999 na faixa populacional de renda domiciliar per capita at
trs salrios mnimos, sendo de 99,3% o dficit habitacional concentrado na faixa de populao at
dez salrios mnimos.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
243
estratgia social mais geral encaminhada ao longo da dcada de 1990, o novo
modelo proposto buscava assentar-se sobre quatro pilares: i) aumento do grau
de focalizao do gasto pblico oramentrio (subsidiado ou a fundo perdido)
sobre a faixa da populao com renda igual ou inferior a trs salrios mnimos
mensais, e financiamento de longo prazo com recursos do FGTS para a faixa da
populao com renda entre trs e doze salrios mnimos mensais; ii) reforo na
estratgia de descentralizao das polticas habitacionais para as esferas estaduais
e municipais; iii) sofisticao dos mecanismos de participao, deliberao e controle social sobre a alocao de recursos e definio de prioridades; e iv) impulso
estratgia de mercado (privatizao) para o atendimento populao com renda acima de 12 salrios mnimos.
Os programas pensados para reestruturar o setor habitacional foram ento
os seguintes: i) Habitar-Brasil (cuja nomenclatura atual Morar Melhor), financiado com recursos fiscais do OGU, e Pr-Moradia (a nomenclatura atual
Nosso Bairro), financiado com recursos do FGTS, ambos dirigidos s populaes de baixa renda (at trs salrios mnimos mensais) e voltados sobretudo
melhoria das unidades habitacionais existentes (reduo do dficit habitacional
qualitativo); ii) Carta de Crdito (CEF/FGTS) disponibilizvel diretamente ao
interessado (entre trs e doze salrios mnimos mensais) em construir, reformar
ou comprar imvel prprio, caracterizada por oferecer um crdito subsidiado,
pois embora o FGTS seja um fundo cujo patrimnio deva ser preservado, pratica taxas de juros inferiores s taxas de mercado; e iii) programas destinados
regulamentao e ao aprimoramento do mercado habitacional privado, voltado
para a populao com renda superior a doze salrios mnimos mensais.88
No tocante s especificidades do setor Saneamento, v-se que tambm esta
rea se estrutura como poltica pblica de escala nacional apenas no perodo
militar, ps-1964. Tal como na rea de habitao, possvel dividir a histria
do setor saneamento nos mesmos trs subperodos: 1964-1985, 1986-1994,
1995-2002. 89
88. Entre tais programas, destacavam-se: o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade Habitacional,
a criao do Sistema Nacional de Certificao e do Sistema Financeiro Imobilirio, para captao de
poupana de longo prazo, alm de medidas visando legislar sobre o uso do solo e questes ambientais.
89. Dois pontos em comum entre habitao e saneamento permitem a utilizao dos mesmos trs
subperodos para resgatar os principais traos de cada uma das reas. Primeiro, o fato de que ambas se
viabilizaram financeiramente tendo o FGTS como fonte principal de recursos. Segundo, que os dois
setores passaram por problemas institucionais semelhantes ao longo do tempo, como a extino do
BNH, que era o rgo gestor do FGTS, em 1986. Depois, o perodo de crise e indefinio de rumos que
marcou o subperodo 1986-1994. E, finalmente, a tentativa de reconstruo institucional e financeira de
ambas as polticas no subperodo 1995-2002. Para uma viso geral do setor saneamento no Brasil em
perodo recente, ver os trabalhos reunidos na pesquisa coordenada pelo Ipea (1999).
244
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
A primeira fase, de estruturao institucional, marcada pelo lanamento do Plano Nacional de Saneamento (Planasa) em 1971, por meio do qual se
organiza a ao estatal no setor. A engenharia financeira previa ser o FGTS a
fonte principal de recursos, sob gesto centralizada do BNH, mas com uma
estratgia descentralizada de execuo, que pressupunha a criao de companhias estaduais responsveis pelas concesses municipais de servios pblicos
de saneamento. Alm do FGTS, o setor saneamento tambm contava, ainda
que em menor medida, com recursos fiscais do OGU e com parte dos recursos
provenientes do PIS/Pasep sob comando do BNDES. Neste primeiro
subperodo, houve uma grande expanso dos servios de saneamento, com
nfase, sobretudo, no abastecimento de gua. Os servios de coleta e tratamento de lixo e de esgotos industriais e sanitrios estiveram sempre um degrau abaixo da ordem de prioridades em saneamento, vindo a converter-se em
problema ambiental e a ameaar a qualidade dos recursos hdricos disponveis.90 Outros problemas consolidados nesta primeira fase foram a regressividade
social da oferta dos servios, que se manifestaria nas amplas desigualdades
regionais e por faixas de renda quanto ao acesso aos servios bsicos, problemas
de titularidade e responsabilidade entre estados e municpios na prestao de
servios de saneamento, e, por ltimo, mas sem esgotar o assunto, problemas
ligados engenharia institucional e financeira do setor.
Este conjunto de problemas se veria agravado na segunda fase do setor
saneamento no Brasil, entre 1986 e 1994. Tal qual ocorreu com o setor habitao: a extino do BNH em 1986 e a transferncia da gesto do FGTS para a
CEF reduziram o status da poltica nacional de saneamento e engendraram uma
prolongada crise institucional e de gerenciamento poltico no setor. Por sua vez,
a crise econmica da dcada de 1980, as restries fiscais dela advindas e os
riscos de dilapidao patrimonial do FGTS, oriundos da desestruturao do
mercado de trabalho (informalizao das relaes contratuais, precarizao das
ocupaes e queda de rendimentos em geral), comprometeram severamente a
capacidade de financiamento das aes de saneamento bsico no perodo. 91
Por todo o exposto, no de estranhar as dificuldades encontradas pelos
governos recentes em tentar construir uma nova arquitetura institucional e
financeira para o setor, iniciativas que marcariam o terceiro subperodo, entre
90. Este parece ser um problema estrutural da forma como foi disposto o setor saneamento. Ver, a
respeito, Fagnani (1997).
91. Esta informao pode se comprovada pelo fato de que no perodo de investimentos mais intensos
no setor, durante a dcada de 1970, os investimentos mdios anuais alcanaram a taxa de 0,34% do
PIB. Nos anos 80, a taxa caiu para 0,28%, e na dcada de 90, para 0,13%. O ano com maior taxa
de investimentos 1981, com 0,41%, e o pior, 1994, com 0,07%. (Pena e Abicalil, 1999, p. 119).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
245
1995 e 2002. Assim como sugerido para o setor habitao, os princpios gerais utilizados na montagem de uma nova estratgia social nos anos 1990
(aumento do grau de focalizao do gasto pblico; reforo na estratgia de
descentralizao fiscal das polticas para as esferas estaduais e municipais; sofisticao dos mecanismos de participao, deliberao e controle social sobre
alocao de recursos e definio de prioridades; impulso privatizao) tambm tentariam ser aplicados ao setor saneamento.
Para tanto, a nova Poltica Nacional de Saneamento estruturou-se nesta
fase a partir do Programa de Modernizao do Setor Saneamento (PMSS), que
se propunha a reorganizar o papel do setor pblico na conduo das aes de
saneamento, tendo por base os princpios aqui apontados.92 Os principais
programas finalsticos foram:
no mbito do Plano Plurianual (PPA) 1996-1999: i) o Pr-Saneamento, financiado com recursos do FGTS e contrapartidas estaduais e municipais, destinava-se prestao dos servios de abastecimento de gua,
drenagem urbana, tratamento de esgoto sanitrio e de resduos slidos
urbanos, todos estes servios prestados s famlias com rendimentos de
at doze salrios mnimos; e ii) o Programa de Ao Social em Saneamento (Pass), financiado com recursos fiscais do OGU e contrapartidas estaduais e municipais, tinha por meta prover os servios bsicos de
saneamento (gua, esgoto e lixo) exclusivamente s regies urbanas de
maior concentrao de pobreza e mortalidade infantil, nos municpios
selecionados poca pelo Programa Comunidade Solidria;93
no mbito do PPA 2000-2003: i) o Saneamento Vida, financiado com
recursos do FGTS e contrapartidas estaduais e municipais, visava ampliar
a cobertura e melhorar o atendimento dos servios de saneamento bsico
em municpios com at 75 mil habitantes; e ii) o Saneamento Bsico,
financiado com recursos fiscais do OGU, objetivava apoiar aes de saneamento em municpios com at 20 mil habitantes, segundo critrios
epidemiolgicos.
92. Alm do PMSS, havia tambm mais trs programas destinados reestruturao do setor saneamento: Programa de Qualidade da gua (PQA), Programa Nacional de Controle ao Desperdcio da gua
(PNCDA) e Programa de Apoio Gesto de Resduos Slidos (Progest).
93. Um terceiro programa finalstico, mas de menor vulto financeiro e abrangncia populacional, foi o
Prosege (Programa de Ao Social em Saneamento). Para um detalhamento da forma de funcionamento
dos programas em saneamento e seus principais resultados no perodo 1995-1998, ver os captulos de
Calmon et alii e de Pena e Abicalil, ambos em Ipea (1999).
246
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
7.2 Abrangncia atual e tenses das polticas de habitao e saneamento
O quadro 6 apresenta a situao atual das polticas de infra-estrutura social no
Brasil, procurando destacar informaes relativas aos principais programas em
cada uma das reas, bem como o percentual de gasto social federal envolvido.
Inicialmente, v-se que as reas de habitao e saneamento consumiram somente 3,2% do GSF no perodo 1995-2002. Este um percentual de gasto comparvel, em magnitude, ao gasto com o conjunto de polticas de assistncia social
e combate pobreza, conforme apontado em sees anteriores. De fato, neste
perodo, uma srie de fatores pode explicar tal comportamento do gasto pblico em reas to importantes para o bem-estar social.
QUADRO 6
Brasil: abrangncia da ao social do Estado em mbito federal
Polticas organizadas a partir da produo de infra-estrutura social1
Eixo
estruturante
Polticas de
mbito federal
1. Habitao2
% GSF
95/02
2,3
Principais
Programas
1.1 Infra-Estrutura Urbana
1.2 Morar Melhor e Nosso Bairro
Infra-Estrutura
Social
2. Saneamento3
0,9
2.1 Saneamento Bsico e
Saneamento Vida
2.2 Pr-gua e Infra-Estrutura
Total
3,2
Fonte: Disoc/Ipea. Elaborao dos autores.
Notas: 1Ano de referncia 2002. Inclui polticas com claros impactos sociais, fundados em Direitos Coletivos Difusos.
2
Inclui aes de urbanismo, segundo metodologia do GSF por rea de atuao.
3
Inclui aes de meio ambiente, segundo metodologia do GSF por rea de atuao.
Ainda de acordo com o aqui relatado, h um histrico de contingenciamentos fiscais e financeiros que vem desde pelo menos o incio dos anos 1980
e afeta particularmente as reas de infra-estrutura social j vitimadas por heranas institucionais e de gesto poltica complicadas. O resultado geral do
quadro 6 deve no entanto ser qualificado com a informao de que a trajetria
de recuperao dos gastos em habitao e saneamento verificada no perodo
1995-1998 foi interrompida no perodo seguinte (1999 a 2002) por conta
do aprofundamento das restries fiscais decorrentes da crise cambial de 1998
e das clusulas de supervit primrio negociadas com o Fundo Monetrio
Internacional (FMI).
Assim, ao se falar especificamente da rea de habitao, importante ter
claro que, a despeito das novas estruturas institucionais e de financiamento
montadas entre 1995 e 1998, foram limitados os impactos sociais dos programas direcionados aos segmentos mais vulnerveis da populao. Embora no
perodo 1995-1998 o Pr-Moradia tenha contabilizado atendimento a 285
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
247
mil famlias e o Habitar-Brasil tenha atendido 437,5 mil famlias, apenas 24,2%
delas foram contempladas com novas moradias. Ou seja, 75,5% das famlias atendidas pelos programas Pr-Moradia e Habitar-Brasil foram na verdade beneficiadas com obras de urbanizao em geral, urbanizao de favelas ou melhoria
habitacional e infra-estrutura urbana, aes que certamente colaboram para reduzir o dficit habitacional qualitativo, mas foram insuficientes para resolver o problema do dficit quantitativo.94 J no perodo posterior a 1999, assistiu-se a uma
quase paralisia nos investimentos habitacionais de maior interesse social, posto
que as restries fiscais tornaram-se mais severas para a economia como um todo e
acarretaram um forte contingenciamento das linhas de crdito antes destinadas
cobertura dos dficits de habitao para as populaes de baixa renda.95
Como balano geral da rea de habitao na dcada de 1990, observa-se pelo grfico 5 que, embora tenha havido uma pequena diminuio
relativa dos dficits habitacionais quantitativo medidos sobre o total de
domiclios particulares permanentes, com reduo de 14,2% para 12,3%
entre 1992 e 1999 e qualitativo medido apenas pelo adensamento
domiciliar, com reduo de 10% para 7,1% entre 1992 e 1999 , houve
uma sensvel piora em termos do peso do aluguel na renda domiciliar, que
subiu de 15,2% em 1992 para 27,4% em 1999, e do percentual de domiclios que comprometem mais que 30% da sua renda com aluguel, que
sofreu elevao de 12,1% em 1992 para 35,6% em 1999.
Somadas s informaes anteriores as de que, primeiro, o dficit
habitacional quantitativo na verdade aumentou em termos absolutos, passando de 4,9 milhes em 1992 para algo como 5,3 milhes de unidades
habitacionais em 1999, e de que, segundo, o dficit qualitativo medido pela
precariedade das moradias e inadequao da infra-estrutura urbana considervel96 tem-se ento um quadro ainda crtico da situao habitacional brasileira, sobretudo para a populao de mais baixa renda.
94. Ver dados completos de cobertura desses programas habitacionais em Santos (1999), Morais (2002)
e Zamboni (2004).
95. Apenas para se ter uma idia do significado do contingenciamento fiscal no perodo 1999-2002,
observe-se que durante esses anos os recursos do FGTS aplicados em aes direcionadas para a
populao de at 3 s.m. passaram a representar cerca de 5% do total de financiamentos habitacionais do
Fundo e praticamente cessaram as contrataes no Pr-Moradia. (Zamboni, 2004, p. 10)
96. Morais (2002).
248
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
GRFICO 5
Brasil: indicadores habitacionais, 1992-1999
45
40
Em %
35
30
25
20
15
10
5
0
1992
1993
1995
1996
Anos
1997
1998
1999
Peso do aluguel na renda
Domiclios com mais de 3 pessoas por dormitrio
Domiclios que gastam mais de 30% da renda com aluguel
Dficit habitacional/domiclios part. permanentes
Fonte: IBGE, Pnad. Elaborao: Polticas Sociais: acompanhamento e anlise, n. 4, 2002 (Ipea).
A soluo desses problemas deve levar em conta a possibilidade de se
construir um novo arranjo institucional e financeiro para o setor tal, que o
princpio do autofinanciamento para a compra ou construo da casa prpria
seja aplicado de modo progressivo s camadas de mais alta renda.97
No caso do setor Saneamento, tambm foram limitados os impactos sociais obtidos a partir das novas estruturas institucionais e de financiamento
organizadas entre 1995 e 1998. Pelo grfico 6, embora os servios de saneamento bsico (coleta de lixo, abastecimento de gua e tratamento de esgoto
sanitrio) tenham apresentado performance positiva entre 1992 e 2002, persistem carncias e desigualdades de vrias ordens. Do ponto de vista da prestao de servios, chama ateno o fato de o esforo no tratamento de esgoto
ainda permanecer num nvel de cobertura bastante inferior aos demais servios (faixa de 75% de cobertura nacional contra 90% para abastecimento de
gua, ao longo da dcada de 1990).
97. Ou seja, trata-se de reafirmar que a utilizao de fontes de natureza fiscal a fundo perdido no
financiamento de polticas sociais no Brasil a nica capaz de atender a situaes crticas de pobreza.
(Fagnani, 1999, p. 170).
249
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
GRFICO 6
Brasil: indicadores de saneamento bsico, 1992-2002
100
95
% De cobertura
90
85
80
75
70
65
60
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2002
Anos
Abastecimento gua
Esgoto sanitrio
Coleta lixo
Fonte: IBGE, Pnad. Elaborao: Polticas Sociais: acompanhamento e anlise, n. 4, 2002 (Ipea).
Informaes sobre o dficit quantitativo dos servios para 1999 indicam
que dos 42,9 milhes de domiclios particulares permanentes existentes nas
reas urbanas e rurais do pas, aproximadamente 10,2 milhes no haviam
sido atendidos por rede geral de gua (sendo 80,9% na rea rural); 11,5 milhes no possuam servios de esgotamento sanitrio ou fossa sptica (50,7%
na rea rural); e 8,6 milhes no dispunham de servio de coleta direta ou
indireta de lixo (80,4% na rea rural). (Calmon, 2001, p. 113-114).
Se focalizado o perodo 1995-1998, a despeito das 1.202 operaes de
saneamento contratadas pelo programa Pr-Saneamento, beneficiando cerca
de 3,7 milhes de famlias no Brasil, tem-se uma elevada concentrao regional de recursos. H menor participao do Norte, Nordeste e Centro-oeste
(34,2%), regies estas que apresentam maior dficit percentual na cobertura
de servios, em face das regies Sul e Sudeste (65,7%).98 J com relao ao
PASS, apesar dos recursos fiscais aportados serem de apenas R$ 1,5 milho no
perodo 1995-1998, parece ter havido um bom aproveitamento geral, a julgar
pelo fato de que a maior parte das obras contratadas estava concluda ou em
andamento em 1998, beneficiando aproximadamente 1,7 milho de famlias.
Dado o desenho institucional do programa, houve uma melhor distribuio
regional dos recursos e obras realizadas, com favorecimento relativo da regio
Nordeste, que absorveu 45% dos recursos totais do programa.99
98. Calmon et alii (1999, p. 21).
99. Calmon et alii (1999, p. 28).
250
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
O desempenho fsico, financeiro e social de ambos os programas no perodo
1999-2002 ficou bem abaixo das metas previamente estabelecidas. No mbito
de negociaes entre o FMI e o governo brasileiro ao final de 1998, por ocasio da
obteno de emprstimos externos para fazer frente crise cambial eminente,
resolues do Conselho Monetrio Nacional contingenciaram recursos fiscais
originalmente destinados a vrias polticas pblicas, sendo as de infra-estrutura
social uma das mais atingidas. No caso do programa Saneamento Vida, no foi
permitido efetivar nenhuma nova contratao para o exerccio financeiro de 2000,
enquanto no caso do programa Saneamento Bsico conseguiu-se empenhar apenas 57% do total previsto para aquele ano.100
Tais informaes reforam a idia de que vigora de fato uma certa subordinao das polticas sociais em geral, e destas de infra-estrutura social em
particular, aos ditames da poltica macroeconmica restritiva, sobretudo a partir
de 1999, quando o imperativo fiscal se converte na principal poltica de governo, sob a qual se devem sujeitar todas as demais. Se correta, tal concluso
significaria assumir uma postura pessimista quanto s possibilidades de reverso no curto prazo do quadro de desigualdades que domina a estrutura social
brasileira, sobretudo no que tange ao acesso das localidades e populaes mais
vulnerveis aos bens e servios bsicos de habitao e saneamento.
8 CONSIDERAES FINAIS
Neste captulo, um conjunto amplo de questes foi levantado, no intuito de
fornecer uma viso abrangente embora no exaustiva acerca da trajetria
de montagem do aqui chamado de Sistema Brasileiro de Proteo Social (SBPS),
de sua dinmica atual, bem como de algumas das tenses e contradies que
permeiam os debates sobre a questo social assim como as polticas sociais
brasileiras. A fim de unir as dimenses terica e histrica do SBPS, foram
utilizados como recurso de anlise a idia dos Eixos Estruturantes da Poltica
Social. Ao se optar por tal critrio, a inteno era e a de test-los como
critrio de demarcao analtica, destinados a explicar o agrupamento por semelhana das diversas polticas sociais, segundo as motivaes especficas que lhes
deram origem, mas tambm de acordo com seus princpios de acesso adotados
ao longo do tempo.
Embora a anlise do SBPS em um momento qualquer expresse necessariamente o retrato de um dado perodo e as circunstncias particulares de composio e status das diversas polticas sociais, ela (a classificao por eixos) possui em
si mesma uma proposta dinmica. Em outros termos, apesar de ser uma fotogra100. Calmon (2001, p. 115).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
251
fia do SBPS, a classificao das polticas sociais por eixos estruturantes no pretende ser uma anlise esttica. Ao contrrio, busca permitir um exerccio de
reclassificao das polticas medida que mudem de status, vale dizer, medida
que o seu fundamento explicativo se transforme com a prpria transformao de
sentido que a sociedade lhe atribui e dos riscos coletivos e situaes de
vulnerabilidade social que a mesma sociedade procure proteger.
Os quatro eixos de classificao propostos do Emprego e do Trabalho,
da Assistncia Social e Combate Pobreza, da Cidadania Social e da InfraEstrutura Social no devem, assim, ser lidos de forma estanque, mas sim
como um conjunto de situaes que vo se formando ao longo do processo
histrico de desenvolvimento dos sistemas nacionais de proteo social, cuja
fotografia em dado momento no , vale ratificar, o resultado final, mas simplesmente parte de um processo dinmico e contraditrio de construo.
Dessa forma, para a compreenso do processo de organizao do SBPS e de
seu quadro atual, necessrio levar em considerao no os casos isolados de
proviso de proteo social em qualquer de suas dimenses , tampouco as
experincias de atendimento social de origem meramente privada ou filantrpica, mas sim os casos que extrapolam para uma dimenso coletiva e pblica dos
problemas de proteo social, a partir dos quais se organiza um conjunto de
regras e normas de conduta para enquadramento e seleo das diversas situaes
pessoais. Neste momento, uma institucionalidade pblica de natureza estatal
ganha forma e densidade, transpirando compromissos polticos em torno da
questo da regulao das condies de proteo e reproduo da vida social.
Atendo-se experincia brasileira de construo de um sistema de proteo
social, possvel identificar certa precedncia histrica na sua montagem, que vai
do Eixo do Emprego e do Trabalho para o Eixo da Infra-Estrutura Social, passando pelos Eixos da Cidadania Social-Incondicional e da Assistncia Social.
As polticas sociais derivadas da insero das pessoas no mundo do trabalho
e dentro deste, no assalariamento so a matriz original a partir da qual tem
incio o processo moderno de construo do SBPS. O assalariamento formallegal, sancionado pelo Estado, foi e em grande medida continua sendo a porta
de entrada das pessoas na proteo social, tanto no que se refere cobertura de
riscos sociais derivados das atividades laborais (seguro contra acidentes de trabalho, seguro-desemprego, auxlio-maternidade etc.), como no que diz respeito a
situaes de inatividade.
Paulatinamente, contudo, forma-se, como decorrncia da natureza heterognea e pouco aderente do mercado de trabalho brasileiro ao modelo
meritocrtico-contributivo, um movimento gradual de ampliao da proteo
social no sentido de contemplar situaes de trabalho no atreladas lgica
252
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
estrita do assalariamento formal. o caso do direito previdncia para os
trabalhadores oriundos do mundo rural, bem como o de algumas polticas de
proteo ao trabalhador (intermediao de mo-de-obra, qualificao profissional e concesso de microcrdito popular) e das polticas de orientao agrria
e fundiria. Tambm nestes casos, a referncia da poltica ou o critrio de
justia para a proviso de proteo social a comprovao de vinculao
passada, presente ou futura das pessoas ao mundo do trabalho socialmente
til, em suas variadas e heterogneas formas.
Ainda h, evidentemente, um vazio de proteo social para um segmento
expressivo de pessoas em idade ativa, pertencentes ao mundo de atividades urbanas ou no-agrcolas. o caso dos desempregados involuntrios e tambm
daqueles inativos pelo desalento, para os quais inexistem mecanismos de transferncia de renda temporria, nos moldes de um seguro-desemprego. tambm
o caso dos trabalhadores assalariados informais (ou no registrados, portanto,
no contributivos), assim como dos autnomos e pequenos empregadores no
contribuintes, alm daqueles que se declaram na construo para o prprio uso
ou na produo para o autoconsumo, todos das zonas urbanas, para os quais no
h direitos previdencirios de qualquer tipo.
No caso destas categorias, a proteo social de que se dispe atualmente, na
forma de transferncia de renda, depende da comprovao no do exerccio
passado, presente ou futuro de qualquer trabalho socialmente til. Depende, ao
contrrio, da comprovao de incapacidade para o trabalho caso dos invlidos ou
idosos associada extrema pobreza ou da insuficincia de renda proveniente do
trabalho realizado caso da populao economicamente ativa abaixo de uma linha
hipottica de pobreza. Em suma, a proteo social sob a forma de renda monetria
depende da comprovao da pobreza como situao duradoura de vida.
A organizao de redes privadas de proteo social vinculadas condio
de pobreza e outras vulnerabilidades sociais especficas de origem antiga,
e sua estruturao como parte integrante de um sistema de proteo social se
confunde com a prpria histria da filantropia no pas. Mesmo quando o
Estado se voltou para a assistncia social, o fez prioritariamente para apoiar
o atendimento a grupos vulnerveis realizados por entidades privadas. De fato,
a assistncia social como poltica de Estado um componente novo no SBPS,
resultado das mudanas instauradas pela Constituio de 1988.
a partir da Lei Orgnica da Assistncia Social (Loas, 1993) que comeam a se efetivar direitos no campo da assistncia social, os quais so de aplicao
nacional e carter universal (pblico, gratuito, e de natureza no-contributiva).
Tais direitos, porm, ainda esto restritos aos chamados Benefcios de Prestao
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
253
Continuada (BPC), que se aplicam a pessoas portadoras de deficincias e idosos
maiores de 65 anos de idade, desde que residentes em domiclios de renda per
capita inferior a um quarto de salrio mnimo.
A proliferao de bolsas monetrias para a populao economicamente ativa abaixo de certa linha de pobreza um benefcio de origem ainda mais recente, de aplicao focalizada, que se explica e se estrutura a partir de uma poltica
de governo, tendo por substrato a condio de pobreza ou vulnerabilidade social
dos beneficirios. Sua natureza ainda temporria e instvel, e no representa
um direito proteo advindo de uma poltica nacional de assistncia social.
Os beneficirios destes programas, antes de cidados em sentido laico, so seus
clientes preferenciais. H, portanto, uma diferena de status entre o pblico-alvo
das polticas e programas de assistncia social, tais como montadas e dirigidas
atualmente no SBPS. Este hibridismo marca distintiva do estgio atual de
maturao do eixo de polticas de assistncia social, segurana alimentar e combate pobreza no pas.
H um terceiro eixo estruturante de polticas sociais no Brasil que remete
idia dos direitos incondicionais de cidadania social. Embora partindo de
movimentos histricos e sociais distintos, sade pblica e ensino fundamental
so duas reas de polticas que aos poucos foram adquirindo status independente dentro do SBPS. A motivao especfica em cada um destes casos no
provm da vinculao das pessoas com o mundo do trabalho, tampouco se
resume s camadas mais pobres da populao.
Em paralelo e talvez como forma de manifestao ao desenvolvimento e aperfeioamento das democracias ocidentais, sade pblica e ensino fundamental foram se consolidando enquanto polticas de proteo necessrias e
indispensveis plena realizao da cidadania social. Pode-se afirmar de um
direito incondicional (ou pleno) de cidadania social pois no se exige nada do
habitante de um pas, para o gozo daqueles direitos, alm do seu prprio
pertencimento quela comunidade nacional.
Os nicos critrios de elegibilidade para qualquer pessoa acessar as polticas de sade pblica e ensino fundamental dentro do SBPS so, assim, o
pertencimento nao e o reconhecimento estatal de sua cidadania. Se no
mais em face do acesso, em torno de seus objetivos ltimos fornecer oportunidades e garantias mnimas, sob a forma de servios, a todos os cidados
que se encontram hoje seus principais problemas.
Por fim, h um eixo de interveno no campo do SBPS aqui chamado de
infra-estrutura social. Ao contrrio dos direitos proteo provenientes da
vinculao das pessoas com o mundo do trabalho, dos direitos das pessoas
254
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
assistncia social e dos direitos incondicionais de cidadania, que so todos,
independentemente das suas motivaes especficas, aplicveis individualmente, ou de apropriao individual, os direitos ligados infra-estrutura social
(habitao e urbanismo, saneamento e meio ambiente) so de apropriao
coletiva, ou melhor, de aplicao ou materializao sobretudo social.
Em geral, a considerar-se as polticas pblicas de habitao e urbanismo e saneamento e meio ambiente como atividades destinadas no a
pessoas particulares, mas a coletivos de pessoas, tem-se uma situao que diz
respeito a direitos sociais coletivos ou difusos. Em outros termos, quando o
Estado se decide por uma poltica de habitao e/ou saneamento, o resultado
concreto so conjuntos habitacionais urbanizados e estaes de tratamento de
gua e esgoto. Os acessos por ruas e avenidas so necessariamente de uso coletivo, assim como o usufruto dos servios de urbanismo (o asfalto, os calamentos, a luz eltrica etc.). Ainda que cada pessoa ou famlia tenha sua residncia
e pague sua prpria conta de luz e gua, o fato que a criao desta complexa
infra-estrutura social s foi possvel fiscal e materialmente porque existia
uma demanda coletiva previamente estruturada. Do ponto de vista deste eixo
de polticas de infra-estrutura social, demandas por habitao e saneamento
no podem ser atendidas seno coletivamente. Solues individuais por habitao e saneamento apenas podem ser encontradas e explicadas na esfera dos
mercados privados, portanto, fora do mbito das polticas aqui denominadas
como de infra-estrutura social.
No que diz respeito ao SBPS, embora de origem histrica antiga no Brasil,
as polticas de habitao e saneamento apenas se institucionalizaram como polticas pblicas nos anos 1970. Problemas de ordem institucional e econmica,
contudo, produziram uma certa desarticulao das mesmas ao longo dos anos
1980 e na primeira metade dos anos 1990. De modo que a tentativa de
reordenao institucional e econmica dessas polticas em perodo recente apenas confirma o seu carter tardio e ainda perifrico dentro do processo de montagem do SBPS.
Em resumo: o SBPS pode ser compreendido como um conjunto de polticas sociais que se originam, se desenvolvem e se agrupam em quatro diferentes eixos estruturantes das polticas sociais, conforme resumido adiante.
O emprego assalariado contributivo e, mais recentemente, o trabalho socialmente til, mas no necessariamente assalariado, em suas mais variadas e
heterogneas formas: poltica previdenciria contributiva (assalariados do
setor privado, funcionrios pblicos estatutrios e militares), poltica
previdenciria parcial e indiretamente contributiva (segurados especiais
em regime de economia familiar rural), polticas de proteo ao trabalha-
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
255
dor assalariado formal (abono salarial e seguro-desemprego), polticas
de proteo ao trabalhador em geral (intermediao de mo-de-obra,
qualificao profissional e concesso de microcrdito produtivo popular), e polticas agrria e fundiria.
A assistncia social, a segurana alimentar e o combate direto pobreza:
poltica nacional de assistncia social (BPC para idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais, abaixo de certa linha monetria de pobreza, programas e aes especiais para crianas e jovens em situao de
risco social), aes de segurana alimentar (merenda escolar, aes
emergenciais como a distribuio de cestas bsicas etc.), e aes de
combate direto pobreza (Programa Fome Zero, cujo carro-chefe o
Programa Bolsa Famlia, de transferncia direta de renda sujeita a
condicionalidades).
A cidadania social incondicional: poltica nacional de sade pblica,
que se organiza a partir do SUS e o conjunto de programas que lhe diz
respeito, e poltica nacional para o ensino fundamental.
A infra-estrutura social: polticas nacionais de habitao, inclusive aes
de urbanismo, e saneamento bsico, inclusive aes de meio ambiente.
Para alm de um mero recurso de anlise, acredita-se que a utilizao dos
Eixos Estruturantes das Polticas Sociais ajuda a clarificar os termos do debate
corrente sobre a temtica no Brasil. Ao evidenciar as tenses e contradies
fundamentais em torno de cada eixo de polticas, e entre os diferentes eixos,
tem-se facilitada a compreenso acerca das dinmicas que regem as polticas
sociais, assim como dos diversos discursos e projetos em disputa. Considera-se
que esforos nesse sentido so cada vez mais necessrios, visando contribuir
para o debate acerca das reformas do SBPS, componente fundamental na construo de um Estado mais democrtico e uma sociedade menos desigual.
256
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ABRANCHES, Srgio. Questo social, previdncia e cidadania no Brasil. In:
GOMES, ngela (Org.). Trabalho e previdncia: 60 anos em debate. Rio de
Janeiro: FGV/CPDOC, 1992.
ARAJO, Rosa Maria. O batismo do trabalho. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira, 1981.
ARRETCHE, Marta. Emergncia e desenvolvimento do Welfare State: teorias
explicativas. BIB, n. 39. Rio de Janeiro, 1995.
________. Estado federativo e polticas sociais: determinantes da descentralizao.
So Paulo: Fapesp/Revan, 2000.
AURELIANO, L.; DRAIBE, S. A especificidade do Welfare State brasileiro.
Economia e Desenvolvimento, n. 3. Braslia: Cepal, 1989.
BOSCHETTI, Ivanete. Assistncia social no Brasil: um direito entre originalidade e conservadorismo. 2 ed. Braslia: GESST/UnB, 2003.
CALMON, K. Saneamento: os desafios atuais. Polticas Sociais: acompanhamento e anlise, n. 3. Braslia: Ipea, 2001.
CALMON, K. et al. (1999). Saneamento: as transformaes estruturais em
curso na ao governamental: 1995/1998. IPEA. Infra-estrutura: perspectivas de reorganizao; saneamento. Braslia: Ipea, 1999.
CARVALHO, Marilda. Relaes sociais e servio social no Brasil. So Paulo:
Cortez, 1982.
CASTEL, Robert. Les mtamorphoses de la question sociale. Paris: Fayard,
1995.
CASTRO, J. A. et al. Anlise da evoluo e dinmica do gasto social federal:
1995-2001. Braslia: Ipea, 2003 (Texto para discusso, n. 988).
DELGADO, G.; CARDOSO Jr., J. C. A universalizao de direitos sociais no
Brasil: a previdncia rural nos anos 90. Braslia: Ipea, 2000.
DONZELOT. Linvention du social. Paris: Seuil, 1994.
DRAIBE, Snia. Social policy in a development context: the case of Brazil.
Santiago: Unrisd, 2003 (mimeo).
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
257
________. A experincia brasileira recente de reforma dos programas sociais.
Socialis, v. 5. 2001.
________. A poltica brasileira de combate pobreza. In: VELLOSO, Joo
Paulo (Coord.). O Brasil e o mundo no limiar do novo sculo. So Paulo: Jos
Olympio Editora, 1998.
________. As polticas sociais brasileiras: diagnsticos e perspectivas. Para a
dcada de 90: prioridades e perspectivas de polticas pblicas. Braslia, Ipea/
Iplan,1989.
________. Brasil, 1980-2000: proteo e insegurana sociais em tempos difceis. Santiago, 2002.
DRAIBE, Snia; CASTRO, M. H.; AZEREDO, B. O sistema de proteo
social no Brasil. Campinas: Nepp, 1991 (mimeo).
ESPING-ANDERSEN, Costa. Les trois mondes de lEtat-providence. Paris:
Puf, 1999.
EWALD, Franois. Lhistoire de ltat Providence. Paris: Grasset, 1986.
FAGNANI, E. Ajuste econmico e financiamento da poltica social brasileira:
notas sobre o perodo recente 1993/1998. Economia e Sociedade, n. 13. Campinas: IE/Unicamp, 1999.
FERNANDES, M. A. et al. Dimensionamento e acompanhamento do gasto
social federal, 1994-1996. Braslia: Ipea, 1998 (Texto para discusso, n. 547).
FERRANTE, V. L. FGTS: Ideologia e Represso. So Paulo: tica, 1978.
FONSECA, Ana Maria. Famlia e poltica de renda mnima. So Paulo:
Cortez, 2001.
FREITAG, Brbara. Escola, estado e sociedade. So Paulo: Moraes, 1980.
GOMES, ngela Maria de Castro. A inveno do trabalhismo. Rio de Janeiro: Relume Dumar, 1994.
________. Burguesia e trabalho: poltica e legislao social no Brasil, 19171937. Rio de Janeiro: Campus, 1979.
GOMIDE, A. Transporte urbano e incluso social: elementos para polticas
pblicas. Braslia: Ipea, 2003 (Texto para discusso, n. 960).
258
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
HOCHMAN, Gilberto. A era do sanemento: as bases da poltica de sade
pblica no Brasil. So Paulo: Hucitec/Anpocs, 1998.
IPEA. Infra-estrutura: perspectivas de reorganizao; saneamento. Braslia:
Ipea, 1999.
IPEA/SEDH/MRE. A segurana alimentar e nutricional e o direito humano
alimentao no Brasil. Braslia, 2002.
_______. Movimentos sociais e crise politica em Pernambuco: 1955-1968.
Recife: Fundao Joaquim Nabuco, Editora Massangana, 1990.
JACCOUD, Luciana. Pauvret, dmocratie et protection sociale au Brsil.
Tese de Doutoramento. Paris: EHESS, 2002.
JOIN-LAMBERT, Marie Thrse. Politiques sociales. Paris: Fundation
Nationale des Sciences Politiques/Dalloz, 1994.
LAMOUNIER, Bolvar. Rui Barbosa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
MALLOY, James. Poltica de previdncia social no Brasil. Rio de Janeiro:
Graal, 1986.
MDS. Anlise comparativa de programas de proteo social: 1995-2003.
MDS, abr. 2004.
MERCADANTE, Otvio (Coord.). et al. Evoluo das polticas e do sistema
de sade no Brasil. In: FINKELMAN, Jacobo (Org.). Caminhos da sade
pblica no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002.
MESTRINER, Maria Luiza. O estado entre a filantropia e a assistncia social.
So Paulo: Cortez, 2001.
MORAIS, M. P. Breve diagnstico sobre o quadro atual da habitao no Brasil. Polticas Sociais: acompanhamento e anlise, n. 4, Braslia: Ipea, 2002.
OLIVEIRA, J. A.; TEIXEIRA, S. F. Previdncia Social: 60 anos de histria da
Previdncia no Brasil. Petrpolis: Vozes/Abrasco, 1989.
OMS. Informe sobre la salut em el mundo. Genebra: Organizao Mundial
da Sade, 2000.
PAOLI, Maria Clia. Empresas e responsabilidade social: os enredos da cidadania no Brasil. In: SANTOS, Boaventura (Org.). Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilizao Brasileira, 2002.
Polticas Sociais no Brasil: Organizao, Abrangncia e Tenses da Ao Estatal
259
PENA, D. S.; ABICAIL, M. T. Saneamento: os desafios do setor e a poltica
nacional de saneamento. IPEA. Infra-estrutura: perspectivas de reorganizao;
saneamento. Braslia: Ipea, 1999.
POCHMANN, M. A dcada dos mitos: o novo modelo econmico e a crise
do trabalho no Brasil. So Paulo: Contexto, 2001.
_______. O trabalho sob fogo cruzado. So Paulo: Contexto, 1999.
PROCACCI, Giovanna. Ciudadanos pobres, la ciudadania social y la crisis de
los Estados Del Bienestar. In: SOLEDAD, Garcia; STEVEN, Lukes. (Comps.).
Ciudadana: Justicia Social, Identidad y Participation. Siglo XXI. Madrid,
1999.
_______. Gouverner la misre. Paris: Seuil, 1993.
REIS, Elisa. Processos e escolhas: estudos de sociologia poltica. Rio de Janeiro: Contracapa, 1998.
ROSANVALLON, Pierre. A nova questo social. Braslia: Instituto Teotnio
Vilela, 1998.
_______. Ltat en France. Paris: Seuil, 1990.
SANTOS, C. H. Polticas federais de habitao no Brasil: 1964-1998. Braslia:
Ipea, 1999 (Texto para discusso, n. 654).
SANTOS, W. G. Cidadania e justia: a poltica social na ordem brasileira. Rio
de Janeiro: Ed. Campus, 1987.
_______. Razes da desordem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.
SCHWARZER, Helmut; QUERINO, Ana Carolina. Benefcios sociais e pobreza: programas no contributivos da seguridade social brasileira. Braslia:
Ipea, 2002 (Texto para discusso, n. 929).
SHWARZER, H; PAIVA, L. H.; SANTANA, R. F. Cobertura previdenciria:
evoluo 1999-2002 e aperfeioamento metodolgico. Informe de Previdncia Social, v. 16, n. 5. Braslia: MPAS, maio de 2004.
VIANNA, Luiz Werneck. Liberalismo e sindicato no Brasil. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 1978.
VIANNA, Maria Lcia Werneck. A emergente temtica da poltica social na
bibliografia brasileira. BIB, n. 28. 1989.
260
Jos Celso Cardoso Jr. e Luciana Jaccoud
VIANNA, M. L. W.; SILVA Interpretao e Avaliao da Poltica Social no
Brasil: uma bibliografia comentada. In: Cepal/MPAS. Poltica social em tempo de crise, Vol. III, Braslia, 1989.
YAZBECK, Maria Carmelita. A poltica social brasileira nos anos 90: a
refilantropizao da questo social. Cadernos ABONG. So Paulo, 1995.
ZAMBONI, M. O financiamento habitacional pelo setor pblico federal:
1990-2002. Braslia: Ipea, 2004 (mimeo).
Você também pode gostar
- Politicas Publicas de Saude PDFDocumento15 páginasPoliticas Publicas de Saude PDFbombeiro_snu100% (2)
- Apostila Organização de Gabinete ParlamentarDocumento112 páginasApostila Organização de Gabinete Parlamentarricardosmyllie100% (3)
- Artigo - Defesa No Inquérito Policial - Marta Cristina Cury Saad GimenesDocumento26 páginasArtigo - Defesa No Inquérito Policial - Marta Cristina Cury Saad GimenesRomeu alexanderAinda não há avaliações
- 4 - Mapas Mentais - Direito Constitucional (MARCELO AMORIM)Documento84 páginas4 - Mapas Mentais - Direito Constitucional (MARCELO AMORIM)Marcelo Amorym100% (2)
- Ebook Saude Coletiva Un1Documento36 páginasEbook Saude Coletiva Un1Pedro Atuan100% (1)
- CapacitaSUAS - Assistência Social, Política de Direitos À Seguridade SocialDocumento144 páginasCapacitaSUAS - Assistência Social, Política de Direitos À Seguridade SocialVinicius CescaAinda não há avaliações
- Carderno Suas Volume 1 Estado,-Politicas-Sociais-E-Implementação-Do-Suas Carmelita Yazbek PDFDocumento49 páginasCarderno Suas Volume 1 Estado,-Politicas-Sociais-E-Implementação-Do-Suas Carmelita Yazbek PDFEliane Macedo100% (1)
- Serviço Social - pesquisas sobre demandas fundamentais: Volume 1No EverandServiço Social - pesquisas sobre demandas fundamentais: Volume 1Ainda não há avaliações
- Encontro entre Suas e Sinase: a medida socioeducativa em meio aberto no CEDECA SapopembaNo EverandEncontro entre Suas e Sinase: a medida socioeducativa em meio aberto no CEDECA SapopembaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Estado e Política Social - YazbekDocumento23 páginasEstado e Política Social - Yazbekhugo100% (1)
- Yazbek, Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisDocumento22 páginasYazbek, Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisAnaPaula PereiraAinda não há avaliações
- LIMA, Jairo. Emendas Constitucionais InconstitucionaisDocumento138 páginasLIMA, Jairo. Emendas Constitucionais InconstitucionaisPedro Miranda100% (3)
- Centros de Referência Da Assistência Social - CRAS Materializações e Contradições Da Política Nacional de Assistência SocialDocumento19 páginasCentros de Referência Da Assistência Social - CRAS Materializações e Contradições Da Política Nacional de Assistência SocialRafaelSoaresAinda não há avaliações
- Avaliação Final Lobato NOVEDocumento20 páginasAvaliação Final Lobato NOVEAnalice CárdenasAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Do Assistencialismo À Política Pública de Assistência SocialDocumento9 páginasMódulo 1 - Do Assistencialismo À Política Pública de Assistência SocialLuis C T MirandaAinda não há avaliações
- 123 375 1 PBDocumento24 páginas123 375 1 PBMelyssa Motta da SilvaAinda não há avaliações
- Carderno Suas Volume 1 Estado,-Politicas-Sociais-E-Implementação-Do-Suas Carmelita Yazbek PDFDocumento49 páginasCarderno Suas Volume 1 Estado,-Politicas-Sociais-E-Implementação-Do-Suas Carmelita Yazbek PDFPaulo Cezar MacedoAinda não há avaliações
- Previdência Caderno de Saúde PúblicaDocumento18 páginasPrevidência Caderno de Saúde PúblicaLaila DomithAinda não há avaliações
- Yazbek Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisDocumento22 páginasYazbek Maria Carmelita. Estado e Políticas SociaisTailane FerreiraAinda não há avaliações
- Mundo Unifor 2019Documento5 páginasMundo Unifor 2019Arquivos Rastros UrbanosAinda não há avaliações
- Ekeys, DESAFIOS ATUAIS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICADocumento14 páginasEkeys, DESAFIOS ATUAIS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO POLÍTICA PÚBLICAVeraFariasBastosAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade e Políticas Proteção Social 1Documento26 páginasVulnerabilidade e Políticas Proteção Social 1Vanessa Rodrigues E SouzaAinda não há avaliações
- Instrumento de Avaliação InssDocumento14 páginasInstrumento de Avaliação InssMônica FerrazAinda não há avaliações
- SUAS PublicaçãoDocumento21 páginasSUAS PublicaçãoLeandro Luis de SouzaAinda não há avaliações
- A Relação Questão Social, Políticas Sociais e Intervenção Profissional.Documento12 páginasA Relação Questão Social, Políticas Sociais e Intervenção Profissional.antoniapenhamAinda não há avaliações
- Proteção Social - FJP (2021)Documento28 páginasProteção Social - FJP (2021)Victor NeivaAinda não há avaliações
- As Interfaces Da Assistências Social: Destaque À Relação Com A Política de TransportesDocumento14 páginasAs Interfaces Da Assistências Social: Destaque À Relação Com A Política de TransportesNatalia FigueiredoAinda não há avaliações
- Introdução Do Sistema Unico de Assistencia SocialDocumento38 páginasIntrodução Do Sistema Unico de Assistencia SocialLuciana de OliveiraAinda não há avaliações
- Asileiro de Protecao Social Nao Contributiva Aldaiza SposatiDocumento44 páginasAsileiro de Protecao Social Nao Contributiva Aldaiza SposatiJanicelemosAinda não há avaliações
- Universalidade ExcludenteDocumento3 páginasUniversalidade ExcludentetalvaroAinda não há avaliações
- 2022 Estrategia de Hegemonia Na Assistência SocialDocumento16 páginas2022 Estrategia de Hegemonia Na Assistência SocialWilliam Azevedo de SouzaAinda não há avaliações
- A Centralidade Da Família Na Política de Assistência SocialDocumento13 páginasA Centralidade Da Família Na Política de Assistência SocialTâmaraAinda não há avaliações
- Sus e Suas Texto Centralidade Da FamiliaDocumento17 páginasSus e Suas Texto Centralidade Da FamiliaBlederson SantosAinda não há avaliações
- A Trajetória Da Assistencia Social Como Direito PDFDocumento23 páginasA Trajetória Da Assistencia Social Como Direito PDFAlexandreAinda não há avaliações
- A Seguridade Social Na Perspectiva Ampliada e A Atuação Profissional Do Assistente Social PDFDocumento30 páginasA Seguridade Social Na Perspectiva Ampliada e A Atuação Profissional Do Assistente Social PDFRosilene TavaresAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Ana Maria BragaDocumento3 páginasEstudo Dirigido Ana Maria BragaPEPDKZ OFFICIALAinda não há avaliações
- Caderno Modelo Brasileiro de Protecao Social Nao Contributiva Aldaiza SposatiDocumento44 páginasCaderno Modelo Brasileiro de Protecao Social Nao Contributiva Aldaiza SposatiBruna CléziaAinda não há avaliações
- Gestão SocialDocumento59 páginasGestão Socialmarcelo marroqueAinda não há avaliações
- Faleiros Livro Cap 4Documento21 páginasFaleiros Livro Cap 4TakamatsuBakufuAinda não há avaliações
- Redes de Protecao CADocumento9 páginasRedes de Protecao CANadini TovarishAinda não há avaliações
- JACCOUD. Protecao-Social-No-Brasil-Debates-E-DesafiosDocumento31 páginasJACCOUD. Protecao-Social-No-Brasil-Debates-E-DesafiosJuliana BetatAinda não há avaliações
- CapacitaSUAS Caderno 1Documento144 páginasCapacitaSUAS Caderno 1Luciana LopesAinda não há avaliações
- APS - Políticas PúblicasDocumento13 páginasAPS - Políticas PúblicasAlyce KellyAinda não há avaliações
- Curso - Introdução Ao Sistema Único de Assistencia SocialDocumento48 páginasCurso - Introdução Ao Sistema Único de Assistencia SocialKarol VersianiAinda não há avaliações
- A Assistência Social No Brasil À Luz Da Constituição de 1988 e Da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)Documento15 páginasA Assistência Social No Brasil À Luz Da Constituição de 1988 e Da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)Serviço Social para ConcursosAinda não há avaliações
- A Psicologia No SUAS - Interdisciplinaridade Nos Cotidianos de TrabalhoDocumento18 páginasA Psicologia No SUAS - Interdisciplinaridade Nos Cotidianos de TrabalhogeisyraianydiasAinda não há avaliações
- Quiz Política SocialDocumento21 páginasQuiz Política SocialIsabelle NogueiraAinda não há avaliações
- Módulo 1 - Do Assistencialismo À Política Pública de Assistência SocialDocumento15 páginasMódulo 1 - Do Assistencialismo À Política Pública de Assistência SocialMarigold GuimarãesAinda não há avaliações
- Previdencia Silvio - Trab FormatadoDocumento8 páginasPrevidencia Silvio - Trab FormatadoIsadora Marcela Borges dos SantosAinda não há avaliações
- Distribuição de Renda e CrescimentoDocumento26 páginasDistribuição de Renda e CrescimentoCarlos EmanuelAinda não há avaliações
- BEHRING - Texto Previdência - Behring, Elaine. Seguridade Social No Brasil. Perspectivas e Interfaces PDFDocumento14 páginasBEHRING - Texto Previdência - Behring, Elaine. Seguridade Social No Brasil. Perspectivas e Interfaces PDFMarisa FrotaAinda não há avaliações
- Apostila-Gestao Do Sistema Unico de Assistencial Social SUASDocumento158 páginasApostila-Gestao Do Sistema Unico de Assistencial Social SUASRosyleni MoraesAinda não há avaliações
- Universidade Estadual Da ParaíbaDocumento5 páginasUniversidade Estadual Da ParaíbaAna CarolinaAinda não há avaliações
- 1-Curso - Seguridade SocialDocumento17 páginas1-Curso - Seguridade SocialSuerda RorizAinda não há avaliações
- Resumo de Psicologia e Políticas PúblicasDocumento12 páginasResumo de Psicologia e Políticas PúblicasMayara MendesAinda não há avaliações
- Estado Gerencial e o Serviço SocialDocumento13 páginasEstado Gerencial e o Serviço SocialThais MeloAinda não há avaliações
- POLITICAS SOCIAIS E A INTERSETORIALIDADE - Unidade 01Documento23 páginasPOLITICAS SOCIAIS E A INTERSETORIALIDADE - Unidade 01Secretaria Executiva 2023Ainda não há avaliações
- Descentralização PDFDocumento13 páginasDescentralização PDFEster TorettaAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Política Social IDocumento3 páginasEstudo Dirigido - Política Social IYURI CARVALHO MACHADOAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Controle Social e Gestão PúblicaDocumento16 páginasArtigo Sobre Controle Social e Gestão PúblicaKarla SantosAinda não há avaliações
- 341-Texto Do Artigo-2842-1-10-20150813Documento23 páginas341-Texto Do Artigo-2842-1-10-20150813Rovana PatrocinioAinda não há avaliações
- PTG 5 SemDocumento14 páginasPTG 5 SemGhellem PiresAinda não há avaliações
- Relativização dos Direitos Sociais na perspectiva das crises econômicasNo EverandRelativização dos Direitos Sociais na perspectiva das crises econômicasAinda não há avaliações
- Método Altadir de Planificação PopularDocumento23 páginasMétodo Altadir de Planificação PopularAnderson Cristopher Dos SantosAinda não há avaliações
- DireitocidadaniaeparticipacaoDocumento139 páginasDireitocidadaniaeparticipacaoAnderson Cristopher Dos SantosAinda não há avaliações
- Para Aprender Politicas Publicas - Unidade 01 PDFDocumento25 páginasPara Aprender Politicas Publicas - Unidade 01 PDFAnderson Cristopher Dos Santos100% (2)
- O Donnell Poliarquias e A InefetividadeDocumento26 páginasO Donnell Poliarquias e A InefetividadeSândalo JuniorAinda não há avaliações
- ALA-HARJA, Marjukka. HELGASON, Sigudur. em Direção Às Melhores Práticas de Avaliação PDFDocumento56 páginasALA-HARJA, Marjukka. HELGASON, Sigudur. em Direção Às Melhores Práticas de Avaliação PDFAnderson Cristopher Dos SantosAinda não há avaliações
- Aula 02 - Planejamento Sim e Não PDFDocumento15 páginasAula 02 - Planejamento Sim e Não PDFAnderson Cristopher Dos SantosAinda não há avaliações
- Discriminação Contra Minorias Sexuais, Religião e o Constitucionalismo Pós-88Documento24 páginasDiscriminação Contra Minorias Sexuais, Religião e o Constitucionalismo Pós-88Alexandre Melo Franco BahiaAinda não há avaliações
- 1.direito Proce - Penal - Lucia SenaDocumento151 páginas1.direito Proce - Penal - Lucia SenaOtacio CandidoAinda não há avaliações
- Dou 20.03.2024Documento12 páginasDou 20.03.2024lorranyyaranaAinda não há avaliações
- Direito ConstitucionalDocumento38 páginasDireito ConstitucionalRaquelAinda não há avaliações
- Isolada Avan Dir Ind Trab Aulas 03 e 04Documento17 páginasIsolada Avan Dir Ind Trab Aulas 03 e 04Sthefani Cristine Gonçalves GodinhoAinda não há avaliações
- Agenersa - ConteudoDocumento7 páginasAgenersa - ConteudoFabiana Tomassoni CoelhoAinda não há avaliações
- Livro Direito Constitucional EcologicoDocumento497 páginasLivro Direito Constitucional Ecologicopedro98927Ainda não há avaliações
- Edital-Dpu-Se 2023Documento13 páginasEdital-Dpu-Se 2023ricardo9costa-5Ainda não há avaliações
- Aula Potencial - Direito ConstitucionalDocumento29 páginasAula Potencial - Direito ConstitucionalBrenda BarataAinda não há avaliações
- O Ressurgimento Da Cláusula - Suassuna - 2018Documento61 páginasO Ressurgimento Da Cláusula - Suassuna - 2018Luana PetrisAinda não há avaliações
- ADI 5163 - Ofício CDH Alego Ao PGR - Peça 2Documento6 páginasADI 5163 - Ofício CDH Alego Ao PGR - Peça 2marcus fidelisAinda não há avaliações
- Edital 001-2018 Manual Do Candidato - Dae AraraquaraDocumento49 páginasEdital 001-2018 Manual Do Candidato - Dae AraraquaraMyllena ValerioAinda não há avaliações
- Exercício Da Aula Online Ética e LegislaçãoDocumento12 páginasExercício Da Aula Online Ética e LegislaçãoLazara cssilva0% (1)
- Aula 01 Aptidao Fisica e Qualidade de Vida ArlindoDocumento8 páginasAula 01 Aptidao Fisica e Qualidade de Vida ArlindoLeonardo de Arruda DelgadoAinda não há avaliações
- Proposta Curricular Do Estado Da ParaibaDocumento14 páginasProposta Curricular Do Estado Da ParaibaRosenilson Araújo RodriguesAinda não há avaliações
- 35 Av ExercícioDocumento11 páginas35 Av ExercíciofelixbrfrAinda não há avaliações
- Guia Técnico Gestão Energética MunicipalDocumento134 páginasGuia Técnico Gestão Energética MunicipalengclaudiomtAinda não há avaliações
- Ekeys, O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA GESTÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR LIMITES, POSSIBILIDADES E DESAFIOSDocumento15 páginasEkeys, O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL NA GESTÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR LIMITES, POSSIBILIDADES E DESAFIOSRayssa Damasceno BrasileiroAinda não há avaliações
- Direito Constitucional - Nathalia MassonDocumento69 páginasDireito Constitucional - Nathalia MassonDébora RibeiroAinda não há avaliações
- Revista Opiniao Juridica 13 Edt - Artigo OdisseiaDocumento448 páginasRevista Opiniao Juridica 13 Edt - Artigo OdisseiaLuiz PereiraAinda não há avaliações
- Manual Do Promotor de Justica Da Infancia InternetDocumento289 páginasManual Do Promotor de Justica Da Infancia InternetJoanethoAinda não há avaliações
- Edital-Verticalizado - PMDF - SoldadoDocumento74 páginasEdital-Verticalizado - PMDF - SoldadoJefferson SouzaAinda não há avaliações
- cns109 Professor de Educacao Basica Peb Lingua Inglesacns109 Tipo 1Documento12 páginascns109 Professor de Educacao Basica Peb Lingua Inglesacns109 Tipo 1deborahAinda não há avaliações
- 04 Direito ConstitucionalDocumento287 páginas04 Direito ConstitucionalNildo AlvesAinda não há avaliações
- 02 - Constituição Conceito - Cap - 02Documento12 páginas02 - Constituição Conceito - Cap - 02Fernando Trindade CostaAinda não há avaliações
- Edital de Abertura N 01 2023Documento69 páginasEdital de Abertura N 01 2023Ademir Gomes Jr.Ainda não há avaliações