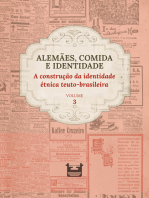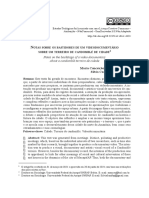Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Terras Tradicionalmente Ocupadas Alfredo Wagner Berno de Almeida
Enviado por
Julianopoeta Moreno0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
33 visualizações10 páginasO documento discute o conceito de terras tradicionalmente ocupadas e como categorias jurídicas existentes como "imóvel rural" e "estabelecimento" não capturam adequadamente essa realidade. Também aborda como o conceito de "população tradicional" evoluiu para designar novas identidades coletivas depois da Constituição de 1988, exigindo novos instrumentos jurídicos para reconhecê-las.
Descrição original:
indigena
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute o conceito de terras tradicionalmente ocupadas e como categorias jurídicas existentes como "imóvel rural" e "estabelecimento" não capturam adequadamente essa realidade. Também aborda como o conceito de "população tradicional" evoluiu para designar novas identidades coletivas depois da Constituição de 1988, exigindo novos instrumentos jurídicos para reconhecê-las.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
33 visualizações10 páginasTerras Tradicionalmente Ocupadas Alfredo Wagner Berno de Almeida
Enviado por
Julianopoeta MorenoO documento discute o conceito de terras tradicionalmente ocupadas e como categorias jurídicas existentes como "imóvel rural" e "estabelecimento" não capturam adequadamente essa realidade. Também aborda como o conceito de "população tradicional" evoluiu para designar novas identidades coletivas depois da Constituição de 1988, exigindo novos instrumentos jurídicos para reconhecê-las.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
CONCEITO DE TERRAS TRADICIONALMENTE OCUPADAS
(PALESTRA – SEMINÁRIO SOBRE QUESTÕES INDÍGENAS)
Alfredo Wagner de Almeida
Antropólogo da Universidade Federal Fluminense
O conceito de terras tradicionalmente ocupadas não é encontrado nos órgãos
fundiários, não é encontrado nos órgãos que tratam de terras indígenas, não é
encontrado no Conselho que trata de populações tradicionais. O conceito de “terras
tradicionalmente ocupadas” é uma expressão que é uma figura jurídica, tem uma
força distintiva com relação a terras e memoriais, por quanto há uma ruptura com a
própria idéia de datação, mas, essa expressão não é uma categoria acionada
censitariamente. Quer dizer, não é uma categoria que nos possibilite instrumentos e
saberes práticos para se entender a estrutura agrária. Esse dado é importante.
Quais são as categorias, na sociedade brasileira, que explicam a estrutura
agrária, que nos possibilitam conhecimentos acerca da estrutura agrária? Uma
categoria é a categoria imóvel rural. A categoria de imóvel rural é própria das
estatísticas cadastrais, é uma categoria própria do Instituto de Colonização e
Reforma Agrária, o INCRA, e é utilizada para efeitos de arrecadação do ITR. Então,
o conceito de imóvel rural é uma categoria a partir da qual se produz conhecimento
quantitativo, se produzem estatísticas.
A outra categoria é estabelecimento. O estabelecimento é uma categoria do
IBGE, é uma categoria do Censo Agro-Pecuário. Então, ela não define uma unidade
de propriedade. Ela é uma unidade de exploração. Ou seja, dentro do mesmo
domínio, dentro de uma mesma propriedade, você pode ter vários
estabelecimentos. Então, não são estatísticas compatíveis. Não há uma
compatibilização entre estabelecimento e imóvel rural. E são também categorias
jurídico formais que são incorporadas nos processos que estão em tramitação.
Quando nós falamos de terras tradicionalmente ocupadas, nós percebemos
que há um descompasso entre as duas categorias censitárias – o estabelecimento e
o imóvel rural – e as realidades empiricamente observadas de situações locais, de
realidades localizadas, de processos passíveis de verificação. Então, há um
descompasso e essas categorias não servem para identificar terras tradicionalmente
ocupadas. Como posse de propriedade, nós não definimos isso. Com exploração
em comunidades de domínio, nós não conseguimos perceber. Então, há uma
dificuldade – e esse é um desafio para os senhores operadores de direito – em
perceber quais são os instrumentos adequados para identificarmos as terras
tradicionalmente ocupadas.
De que ordem seriam esses instrumentos? Se eles não são os jurídicos
disponíveis, como é que os operadores do direito se apropriam de outros
conhecimentos para poder interpretar essas situações, para poder dar o conteúdo a
essas situações? Vamos recorrer a quê? Essa é uma pergunta a ser colocada.
Desde a Constituição de 1988, tem havido uma institucionalização do termo
“populações tradicionais”, inclusive, no Ministério do Meio Ambiente, foi criado o
Conselho Nacional de Populações Tradicionais – CNPT. Esse Conselho
praticamente restringiu sua ação aos chamados extrativistas. Ele elegeu o Projeto
das Reservas Extrativistas. Então, a leitura do termo “populações tradicionais” é
que, em primeiro lugar, esse tradicional não se opõe necessariamente ao moderno,
ele não significa um atraso, ele não é um resíduo, não é um vestígio, não é um
remanescente, mas, se constitui numa nova categoria operacional que o aparato do
Estado utiliza para entender situações concretas. Então, a criação do CNPT é uma
institucionalização de um termo. Nesse sentido, população tradicional é diferente de
populações biológicas e tem uma naturalização porque ela foi desnaturalizada da
sua categoria de origem. O próprio termo “população” vem da biologia. Utilizar esse
termo para determinar agentes sociais, em princípio, seria complicado porque é um
termo contaminado. Está no inconsciente coletivo nosso pensar o tradicional como
se opondo ao moderno, o tradicional como um vestígio do passado, o tradicional
como um atraso. Entretanto, na nossa figura de direito, aparece como um
instrumento moderno, como um instrumento pós-Constituição de 88. Isso recoloca,
por assim dizer, essa expressão “população tradicional” porque ela se coloca como
um patrimônio intangível. É algo que é imaterial, que tem um elemento simbólico,
mas, por força do direito, tem que ser materializado, tem que ser aplicado, tem que
identificar áreas, identificar situações empiricamente observáveis. Então, há uma
situação que teria que ser melhor trabalhada em termos de instrumento.
No caso de população tradicional, depois da Constituição de 88, um elemento
que nos leva a uma reflexão mais detida é a dimensão política adquirida pela
expressão. Contra a despolitização positivista que via o tradicional como algo
extemporâneo, como algo do passado, esse tradicional tem que ser interpretado.
Ele tem que passar por um processo de resignificação. Essa re-significação do
tradicional implica numa politização dessa forma de conhecimento. Por isso, se
separou do imemorial. O imemorial era um recuo a uma origem indefinida. As terras
imemoriais, que constituíam a figura jurídica anterior, eram um recuo indefinido.
Agora, o tradicional é passível de datação. E um dos aspectos em que essa
dimensão política ganha muito corpo, nessa politização do tradicional, é que essa
expressão genérica surge – através do Conselho Nacional de Populações
Tradicionais, ou através das formas reconhecimento de terras indígenas – como
uma expressão para designar o advento de identidades coletivas, a partir de 88. Eu
vou tentar explicar o que são essas identidades. É por isso que vem a politização
dessa forma de conhecimento e é por isso que esse simbólico deixa de ser um
patrimônio meramente intangível e passa a ser um patrimônio que constitui um
capital de relações políticas. Esse advento da identidade coletiva chama a atenção
para um novo padrão de relação política que está surgindo na sociedade brasileira.
Isso envolve os povos indígenas, envolve o que antes se chamava de camponeses,
o que antes se chamava meramente de extrativistas, e se chega numa dimensão
em que novos agentes sociais aparecem com as designações que eles próprios se
auto-atribuem. É o elemento da auto-atribuição aparecendo na sociedade brasileira.
Isso data de 1985, depois se fortalece em 88. Depois, nós temos o advento dos
novos movimentos sociais. São movimentos que têm raízes sociais profundas,
raízes locais profundas, têm uma consciência ecológica, têm um critério político
organizativo, repousam num fator étnico. Esse tipo de identidade coletiva que se
objetiva em movimentos, depois de 88 diz respeito a seringueiros, diz respeito a
quebradeira de coco babaçu, diz respeito a castanheiro, a ribeirinhos, pescadores,
quilombolas, ou seja, é um conjunto de termos que antes, na nossa história, não
designavam identidades coletivas, senão, de uma referência historicista. Agora,
passaram a designar identidades objetivadas
em movimentos.
Essa passagem traz uma nova dimensão para o conceito de tradicional. Num
primeiro momento, esse conceito de tradicional esteve amarrado ao biologismo. Era
uma idéia que o tradicional se prendia ao quadro natural. Era uma idéia muito forte
no nosso inconsciente. Ao se pensar a população tradicional, imagina-se logo um
mundo rural, cria-se um dualismo rural-urbano e se joga tudo para o quadro natural.
Até se nós formos pensar, vários livros escolares sempre mostravam essas figuras.
Para Amazônia, por exemplo, era a figura de um seringueiro com uma espingarda
atravessada, cortando a árvore. Para o Meio-Norte, para o Maranhão e Piauí, era
uma quebradeira, batendo o coco babaçu. Para o sul, é um gaúcho. Ou seja,
trabalhava-se sempre com figuras típicas. Agora, se tem uma ruptura com esse
biologismo porque essas figuras típicas passam a ser figuras do Direito. Elas têm
que ser trabalhadas pelos operadores do Direito para se reconhecer uma dimensão
de existência coletiva que, até então, tinha sido ignorada, tinha sido mantida sob
uma invisibilidade social. Então, o instrumento do Direito para o reconhecimento
dessas populações exige de cada um de vocês, que são os operadores de direito,
um novo instrumento na bagagem de vocês para identificar essas situações. Não dá
para vocês continuarem trabalhando com a idéia de figuras típicas, não dá para
vocês trabalharem com biologismo. No biologismo, essas figuras estão amarradas à
natureza. O seringueiro não se separa da árvore. A quebradeira não se separa da
palmeira. O índio não se separa da floresta. Esse advento da identidade coletiva
promove uma ruptura porque ele separa o homem da natureza. Esses agentes
sociais passam a ter uma existência política separada da natureza. Essa separação
do quadro natural é uma ruptura do biologismo.
Simultaneamente, no plano do conhecimento, na maneira como a antropologia
dialoga com o conhecimento jurídico, é uma ruptura com o geografismo. O
geografismo e o biologismo são fontes do positivismo porque são de realidades
empiricamente observadas, verificadas e constatadas. É tudo aquilo que se pode
provar, é tudo aquilo do campo das evidências. Então, a ruptura com o biologismo e
com o geografismo é uma maneira de se romper com o positivismo hoje. A partir de
88, faz-se necessário que você disponha de instrumentos que sejam capazes de
romper simultaneamente com essas dimensões de conhecimento que são aquelas
que nos levam a ver simplesmente a idéia de população tradicional. O convite é
para se repensar esse sentido de tradicional, e com novos instrumentos – ruptura
com o biologismo e ruptura com o geografismo.
Uma idéia que está também muito vinculada ao tradicional são situações
empiricamente observadas e que nos levam a proceder a uma diferença entre
território e terra. A terra é o recurso natural – recurso hídrico, recurso florestal,
recurso de solo, recurso do subsolo. O território incorpora a identidade coletiva.
Nesse sentido, o Professor João Pacheco nos deu uma contribuição conceitual
grande porque ele nos possibilitou ter acesso a um outro conceito que é o processo
de territorialização, que se coaduna com a situação que nós estamos trabalhando
hoje. Todos nós, antropólogos e operadores do Direito, estamos testemunhando
que os instrumentos que estão sendo alterados são dinâmicos. De 88 para cá, são
poucos anos para se pensar em mudanças de instrumentos de percepção científica,
mas, são suficientes para nós constatarmos que os instrumentos que estão sendo
alterados são dinâmicos. Então, em vez de procedermos a uma mera separação
entre terra e território, é importante trabalharmos com a idéia de processos de
territorialização, é importante recorrermos a formas para percebermos o que é
significante para esses agentes sociais que estão invocando uma existência
coletiva. Antes, eles tinham uma existência individual, amarrada com a natureza.
Agora, eles estão com uma ruptura com essas imagens do nosso passado e estão
se colocando como sujeitos. De certa forma, nós voltamos a uma dificuldade do
conhecimento jurídico do final do séc. XIX, diante da escravidão.
O que é que ocorre no final do séc. XIX? Era uma passagem de escravo como
coisa para escravo como sujeito? É esse processo que nós estamos assistindo
agora, de atomização para uma existência coletiva? É legítimo estabelecermos esse
paralelo? O que é que ocorre no fim do séc. XIX. Nesse período, o conhecimento
jurídico foi o conhecimento mais vigoroso para nós entendermos esses processos
de territorialização. Em primeiro lugar, porque o juristas estudaram a lógica da
grande propriedade e seus efeitos sobre a sociedade brasileira. Rui Barbosa, no
Parecer 48ª, de 1884, faz um paralelo entre o Brasil e a Jamaica. Ele mostra como a
pequena produção voltada para produzir alimentos, na Jamaica, constitui uma
alternativa econômica importante e de inserção desses indivíduos na sociedade. Ele
mostra como, na sociedade brasileira, isso não estava estendido ao escravo. No
nosso processo de Abolição, o escravo não passou a sujeito. Nos Estados Unidos,
como processo de Abolição da Escravatura, se formou um campesinato negro. Ele é
forte até hoje, tem as suas instituições, disputa recursos do governo juntamente com
os demais agricultores, mas eles são etnicamente distintos. Eles são “black
farmers”, têm um distintivo. Então, nos Estados Unidos, com a Abolição da
Escravatura, se deu um corte muito forte nesse sentido. Na sociedade brasileira, Rui
Barbosa chama a atenção que isso não estava ocorrendo dessa maneira. Aqui, foi
sempre sob a lógica da grande propriedade. Era uma grande propriedade apoiada
no monopólio da terra, na forma de trabalho escravo e na monocultura. O Rui
Barbosa faz essa comparação com a Jamaica. O Joaquim Nabuco mostra a
importância dessa transição de criar uma camada de proletários livres. E não é só o
Joaquim Nabuco que está nesse esforço. O próprio Silvio Romero diz que Brasil não
proletariado industrial e precisa criar proletariado rural porque precisa haver uma
transição porque precisava acabar com a escravidão. Um outro jurista que trabalha
essa transição é o Perdigão Malheiros. Todos esses três juristas são parlamentares.
Aliás, o Rui Barbosa e o Perdigão Malheiros se opõem entre si. São duas visões
jurídicas distintas do fenômeno da escravidão e da transição econômica da
escravidão para uma sociedade chamada livre. Então, esses autores nos permitem
pensar que, no Brasil, houve uma desagregação da grande propriedade, mas não
houve uma transição planejada para a pequena propriedade, para a constituição de
outras camadas, para a constituição de uma camada de pequenos proprietários
negros, uma camada de pequenos proprietários indígenas. Não foi isso que ocorreu.
É muito diferente da situação norte-americana. Aqui, esses grupos étnicos foram
mantidos à parte do processo de transição. A transição se deu internamente a essas
grandes propriedades e se passou para a forma de aforamento, arrendamento e
parcerias. Nesse sentido, a expressão “tradicionalmente ocupado” tem que ser
repensada porque nós não conseguimos pensar o “tradicionalmente ocupado”
dentro dos limites das grandes fazendas. Nós não conseguimos pensar isso na
Zona da Mata de Pernambuco. Nós não conseguimos pensar isso no sul do país.
Nós não conseguimos pensar isso na região mineradora de Minas Gerais. Nós não
conseguimos pensar isso nas regiões de colonização antiga. Com isso, nós
passamos a achar que o tradicionalmente ocupado é de região periférica porque é
onde a grande propriedade não prevalece. Então, além de ser residual,
remanescente e vestígio, é o que está fora do domínio da
grande propriedade.
Vocês se lembram perfeitamente que a desagregação da grande propriedade
no Brasil, ou seja, das terras que eram tituladas em 1850, que foi o primeiro artifício
jurídico para dar conta dessa estrutura, em que tudo era passível de titulação e
também era passível de mercantilização. A Lei de Terras de 1850 é uma
estruturação formal do mercado de terras e não efetiva. Inclusive, nos registros
paroquiais, nós vamos encontrar muitas terras que estão em nomes de santos. A
divindade é arrolada no registro como proprietário, ou a ordem religiosa, ou a
irmandade. Esse é um dos elementos que nos leva a pensar uma das formas de
ocupação tradicional. Aparentemente, não tem uma estatística sobre isso. Se você
consultar o IBGE, tem lá: Instituições Pias e Religiosas. São instituições da Igreja,
mas, elas não estão dentro desse quadro. Elas aparecem nos registros paroquiais,
aparecem em 1850 e vão ser reforçadas em 1891, com uma nova legislação como
advento da República. Isso nos mostra que, por um lado, houve uma desagregação
dos domínios das terras de ordens religiosas. Pombal, por exemplo, confisca as
terras dos Jesuítas e nós vamos ter terras de ordens religiosas. Mesmo aquelas
concessões para construir patrimônios, que são muito fortes no Ceará e na Bahia,
onde existia uma pequena produção agrícola, como se fossem ilhas de produção
agrícola dentro do universo das grandes propriedades. Devemos entender essa
grande propriedade territorial como a vida mestre dominante da sociedade colonial.
A Constituição de 88 nos leva a repensar os efeitos de uma sociedade colonial. Os
instrumentos para repensar essa sociedade colonial têm que ser redefinidos e, até
então, também não estavam. Esse dado é importante até nos registros de terras.
Um outro elemento importante são as terras doadas aos índios. A partir de
construção de estradas, de expedições militares, de serviços prestados ao Estado,
houve muitas concessões. O caso do Potiguar, por exemplo, é uma dessas
concessões do Período do II Reinado. São áreas que também coexistiram,
disputando espaço com as propriedades territoriais.
Uma terceira situação é a desagregação das grandes plantações de açúcar e
de algodão. Essa desagregação dessas grandes plantações pode se dar por
intermédio de quatro processos sociais. Um deles é o messianismo. É o caso de
Canudos, de Pedra Bonita, de Caldeirão etc. Isso nos levaria a repensar como é que
a figura da grande propriedade foi efetivamente desagregada. O Antonio
Conselheiro era aparentemente anti-republicano, mas, ao mesmo tempo, todos os
textos que se encontram relativos a canudos são de terra comum. É como se as
terras fossem de uso comum. Não eram terras apropriadas através do trabalho
escravo. Não eram terras apropriadas através de formas de mobilização da força de
trabalho. Então, houve uma ruptura das terras tradicionalmente ocupadas porque
são terras que não passam pelas formas de mobilização das forças de trabalho. Em
relação a essas, nós temos mais familariedade em pensar porque estão no nosso
inconsciente coletivo, estão na nossa maneira de pensar a terra, a partir da
mobilização da força de trabalho. Então, os movimentos messiânicos são tentativas
de se estabelecer novas modalidades de relação com a terra. Isso fica forte na
sociedade brasileira. Isso nós percebemos pela literatura. Eu não sei se vocês já
leram José Lins do Rego ou Jorge Amado. Você vê isso perfeitamente como os
agentes sociais são construídos em oposição à figura do grande proprietário. Então,
está em jogo a quebra de contratos. No caso da santa, do santo ou da irmandade
como donos da terra, esses contratos são sempre assimétricos porque a outra figura
está sempre num plano superior. A divindade está num plano superior. Eu acabei de
fazer uma perícia para o Ministério Público nos Quilombos de Alcântara. Uma
situação que nós registramos era uma senhora conversando com a imagem da
santa e chamando a santa de “Sinhá”. Ou seja, a santa tinha uma relação de
patronagem diretamente vinculada a ela. Isso é um fato de hoje, não é um fato do
séc. XIX. O acesso à terra está mediado pela figura da entidade religiosa. Isso é o
que media o acesso à terra. Depois, nós vamos ver a implicação disso para as
áreas de ocupação mais recentes, no caso da Amazônia.
Uma outra forma é o banditismo social, o cangaço. O cangaço espelha uma
outra modalidade de acesso. Uma outra forma de acesso foi a recusa à escravidão
através dos quilombos. O quilombo acenava como uma outra modalidade de acesso
à terra. Uma última situação é o que nós chamamos de “campesinato escravo”.
Quer dizer, um campesinato dentro da grande propriedade. Com a crise do algodão,
não se podia destinar toda a escravaria o tempo todo para a produção do algodão.
Os escravos tinham que produzir para o seu próprio sustento. Era mais barato
deixar o sábado e o domingo livre para os escravos cuidarem da sua própria
produção alimentar, do que comprar farinha para alimentá-los. O aumento desse
tempo livre, a flexibilidade desse tempo livre, embrionariamente, vai constituindo
uma situação de campesinato dentro da plantação. Essa é uma outra forma de ter
acesso à terra. Nessa sentido também, o advento de terras tradicionalmente
ocupadas se contrapõe a essa grande propriedade, a essa forma de apropriação
privada e permanente dos recursos. O que está em jogo é a discussão com o
sistema repressivo da força de trabalho e com as suas crises.
A Constituição de 88, ao chamar a atenção para as terras tradicionalmente
ocupadas, de certa forma, começa a abrir um leque que não fica preso apenas às
áreas de ocupação antiga. Também nos leva às áreas de ocupação recente. Os
povos indígenas imobilizados pelos endividamentos. Como é que se deu o declínio
da empresa extrativista em geral? Como é que os donos de castanhais foram
perdendo seu poder? No caso da Amazônia, todo o controle não se dava
necessariamente pela terra, se dava pelo crédito, pela figura do aviamento.
Adiantava-se recursos para as pessoas poderem exercer suas atividades. O declínio
da empresa extrativista faz com que se criem condições para a emergência de uma
nova modalidade de relação com os recursos naturais, uma nova modalidade de
relação com a terra. Nesse sentido, figuras como o caboclo, que tinham sido
contempladas pelo censo foram perdendo a força no tempo. O último censo é
precioso para nós entendermos esse movimento da sociedade brasileira. A
população indígena cresceu 10,6% ao ano. Então, ela duplicou em nove anos, ela
duplicou de 1991 a 2000. A população total cresceu 3% ano. Então, mais pessoas
poderiam estar se autodenominando índios porque, em termos de reprodutividade,
não há um crescimento capaz de explicar uma triplicação num prazo tão curto. No
entanto, triplica porque mais pessoas estão se dizendo quanto tal. Quer dizer, o
advento dessas identidades coletivas estão aparecendo por outras formas na
sociedade brasileira. A mesma coisa está acontecendo, embora numa proporção
menor, com a categoria “preto”. Agora, quais as categorias que decresceram
quantitativamente, ou seja, que pessoas não estão se autodefinindo como tal? A
categoria do “pardo” e o “caboclo”. Esse dado merece uma análise mais detida, mas
ele nos leva a uma reflexão. Você não tem um Movimento Pardo no Brasil, mas
você tem o Movimento Indígena, tem o Movimento Negro. Foram movimentos que
defenderam a autodefinição, defenderam que as pessoas se autodefinissem
enquanto índios e se autodefinissem enquanto pretos, ou seja, que buscassem a
sua identidade. Então, o advento dessas identidades coletivas, de certa maneira,
ocorre quando já se tem um declínio dessas formas de imobilização. É quando
essas forças de trabalho começam a declinar. Cada situação que é um declínio
permite uma forma de apropriação da terra diferenciada.
Nesse sentido, essas novas formas de relações sociais com a terra não se
apropriam dos recursos em caráter permanente e privado. Passa a haver uma
desagregação desses grandes empreendimentos nas áreas de ocupação recente.
Nas áreas de ocupação antiga, passa a haver o reconhecimento dessa diversidade.
Essa é que é a dificuldade, seja dos antropólogos, seja dos operadores do Direito.
As formas que surgiram, se nós formos acompanhar as designações, não são
apenas terras de preto, terras de santo, terras de parentes, terras de ausentes,
terras de herança sem formal de partilha, terras de irmandade. Há uma diversidade
de designações que têm força na vida social, mas não há instrumentos capazes de
reconhecê-las estatisticamente. O que está ocorrendo é o agravamento entre os
instrumentos disponíveis à intervenção dos operadores do direito e a dispersão das
realidades localizadas. Ou seja, o abismo está crescendo. Por um lado, pela nossa
incapacidade, pelo nosso desconhecimento dos processos reais. A sociedade
brasileira está passando por profundas transformações e nós continuamos a vê-la
por um modelo escravista, continuamos a interpretar a terra sob o signo do imóvel
rural, continuamos a interpretar a terra como as estatísticas cadastrais pedem que
seja reconhecida. Nós temos dificuldades de operar com essas novas categorias
que possam estar chamando a atenção para modalidades de ocupação da terra que
não estão juridicamente pensadas. Por exemplo, a idéia de terra comum. Você tem
isso na Bahia. O que é essa figura? É Direito Consuetudinário? No Paraná, você
tem a idéia de Faxinal. Para essas realidades existirem, elas têm que se objetivar
em movimentos, têm que ter resistência política. Então, nós temos que passar
necessariamente pela politização das terras tradicionalmente ocupadas para que
elas possam existir no domínio da vida social, para que elas possam ser objeto de
uma discussão, objeto de uma reflexão mais detida e até, quem sabe, se
transformar em instrumento para as operadoras de direito.
O que eu estou falando não é uma coisa que possa ser descartada. Se nós
formos pensar, o estoque de terras indígenas no país hoje está em torno de 110
milhões de hectares. Na semana passada, no Dia da Consciência Negra, eu
consultei alguns documentos sobre as chamadas “Terras de Quilombo” e elas
perfazem 30 milhões de hectares e isso ainda está subestimado. Se nós somarmos
com as outras áreas que estão sob o efeito do Conselho Nacional de Populações
Tradicionais, que são as terras ligadas à extração de látex, no caso dos
seringueiros, são 10 milhões de hectares. No caso das quebradeiras, são 18
milhões de hectares. No caso dos castanhais, são 1,2 milhões de hectares. Isso
sem mencionar os faxinais, terras de ausentes, terras abertas, terras soltas do
Sertão Central do Ceará, que são todas categorias que também não são
contempladas. É como se o direito não contemplasse as categorias que têm
vigência, que têm funcionamento na vida social. Então, nós estamos diante de ¼ da
superfície nacional. Como é que pode ser vestígio aquilo que é ¼ do território
nacional? Como é que esse tradicional pode ser tratado residualmente? Como é
que esse tradicional pode ser do passado, se ele é uma figura da estrutura agrária
do presente, se ele é uma figura para pensar o advento dessas identidades no
presente? Se nós não refizermos os nossos instrumentos de percepção, nós vamos
continuar com as categorias de entendimento de períodos anteriores. Nesse caso, o
risco de se cometer absurdos e de se ter práticas jurídicas próximas às práticas da
sociedade colonial é muito grande. Então, esse conhecimento é tão mais necessário
porque muitas dessas expressões utilizadas de “terras tradicionalmente ocupadas”,
tem que se pensar novas modalidades de relação social com a terra. Tem que se
pensar nos processos de territorialização. Tem que se pensar no advento dessas
identidades coletivas como capazes de gerir esses recursos. A idéia de gestão dos
Programas de Etno-Desenvolvimento – que são fortes no discurso da Fundação
Cultural Palmares, que são fortes no discurso do Ministério do Desenvolvimento
Agrário – só fazem sentido se nós conseguirmos pensar em co-gestão e auto-
gestão. Ou seja, se a forma de esses grupos gerirem os recursos se encontrar com
o advento da sua identidade política. Não é muito simples pensar isso. Não é um
jogo de palavras que está em jogo. O que está em jogo é uma forma de se
aproximar de realidades localizadas. É uma forma do operador de direito preparar o
seu instrumento para lidar com essas realidades.
Nesse sentido, essa noção corrente de terra comum, que aproximaria essas
várias situações que nós mencionamos de terras tradicionalmente ocupadas, chama
a atenção para as regras de apropriação. Essa dispersão de dominações
específicas está ocultando uma forma de apropriação que é invisível socialmente.
Uma palmeira de babaçu não é de ninguém individualmente. Qualquer um pode
apanhar o fruto que cai da palmeira de babaçu. O fruto da castanheira pode ser
apanhado por qualquer um.
Um outro problema é o acesso aos rios e a questão dos pescadores. Os
territórios aquáticos são uma outra dimensão também bastante complicada. O
conflito de água não está se dando tanto no nordeste. Esse conflito está se dando
na Amazônia. Os lagos foram cercados. Nós começamos a pensar a Amazônia hoje
como uma disputa por recursos hídricos. Isso marca a Ilha de Marajó de uma
maneira muito severa. O lago da Ilha de Marajó é um lago que está cercado por
grandes famílias, que são os antigos descendentes dos mordomos régios que
administraram as fazendas dos jesuítas. Quer dizer, a sociedade colonial está viva.
A cerca deixa de sair do limite da fazenda e entra por dentro de água. Quando o
lago seca, o seu fundo já está cercado no período do verão. Essas figuras
contrariam os povoados de palafitas que estão nas vizinhanças das fazendas. As
outras formas continuam sendo periféricas, não apenas ao direito, mas, também, à
vida social.
Nesse sentido, essas pequenas alterações na vida social brasileira exigem de
nós uma outra abordagem. A Constituição de 1988 nos ajuda nisso. Primeiro, há
uma ruptura com todas essas visões anteriores do que seria esse tradicional como
vestígio, como remanescente. Aí está a própria impropriedade da categoria
“Comunidade Remanescente de Quilombo”. Sem dúvida nenhuma, quando os
legisladores montaram isso, eles imaginaram que eram umas poucas situações.
Eles não imaginaram que seriam 30 milhões de hectares ou mais. Quando eles
pensaram o Estatuto das Terras Indígenas, eles também imaginaram que o volume
de terras era menor. Então, o que está ocorrendo na sociedade brasileira é que as
terras tradicionalmente ocupadas, em vez de elas estarem refluindo e sendo
amarradas, elas estão em processo de expansão. Mas, é um processo de expansão
que coincide com o advento das identidades coletivas. O que está expandindo é a
capacidade de as pessoas também perceberem os seus direitos e se mobilizarem
por eles. É por isso que os movimentos ganham uma outra força e nos obrigam a
pensar a sociedade brasileira de outra forma. Eles nos obrigam a pensar que esse
¼ da superfície tende a crescer, ele não está declinante. Ele está numa tendência
de ascensão. Esse número tende a aumentar. Há 20 anos atrás, a FUNAI
considerava que não havia índios no Estado do Ceará. Hoje, se tem 13 povos
indígenas registrados no Estado do Ceará. Isso se reflete no volume de terras. Isso
se reflete na estrutura agrária no seu sentido mais limitado, mas, mediado pela idéia
de território, mediado por uma idéia de identidade coletiva, mediado por uma idéia
de mobilização, mediado por uma ruptura com as formas de mobilização das forças
de trabalho. Essas estão no inconsciente da sociedade brasileira.
Esse processo de luta também nos leva a pensar em outras questões. Um
exemplo é a Lei Chico Mendes, que já está em vigência no Acre. Ela abre os
seringais, embora os seringais sejam ocupados por famílias. É diferente do caso da
palmeira de babaçu, da castanheira porque todo mundo pode pegar o seu fruto. No
caso dos seringais, a família é que tem acesso àqueles seringais. São formas de
ocupação tradicional, mas, são diferentes na sua relação com os recursos. Essa
especificidade é que é importante porque nós estamos diante de uma diversidade.
Por outro lado, a Lei Chico Mendes ajuda a acabar de desmontar esses seringais
apoiados na imobilização da força de trabalho.
Na Amazônia Oriental também tem outra lei que está sendo aprovada em
vários municípios, que contraria a Lei Maior, mas que entra em vigor por força da
decisão dessa politização tradicional. São as Leis do Babaçu Livre. Quem entende
de código de mineração sabe que o solo é separado do subsolo. Tem uma
legislação para o solo e uma legislação para o subsolo. As quebradeiras estão
propondo uma legislação para a cobertura vegetal separada do solo. Para elas, se
tem babaçual, se tem cocal, ele é de todos. Todo mundo pode ter livre acesso ao
cocal. Essas são as leis do Babaçu Livre. Já foram aprovadas em quatro municípios.
É claro que há uma discussão grande na Câmara. Então, a idéia de terra está
mudando. Não vamos reduzir terra a solo, não vamos cair no geografismo, não
vamos cometer esse erro. Se os operadores de direito cometerem esse erro agora,
eles podem estar, incipientemente, colaborando para o genocídio, para matar uma
forma coletiva que está servindo para a reprodução de um grupo enquanto tal. Está
na mão de vocês uma responsabilidade bastante grande em termos sociais. Vocês
têm que ter novos instrumentos para entender essas alterações.
Por outro lado, nós podemos perceber que, separando o solo do subsolo, as
modalidades de uso dos recursos são diferentes. As águas podem ser privatizadas,
podem ser cercadas? Nós começamos a criar paralelos entre a legislação dos
recursos hídricos com a legislação dos recursos da natureza. Nós passamos a
estabelecer uma outra forma de relação. Os pescadores estão dentro desse
esforço. Hoje, na Bacia do Araguaia Tocantins há uma central das colônias de
pesca. São 7.600 famílias. O elemento mais forte dessa ocupação é justamente
lutar pela abertura de todos os lagos da Amazônia. O Lago de Tucuruvi tem 110
ilhas. Essas ilhas podem ser apropriadas individualmente? Eles estão construindo
as ilhas como territórios tradicionalmente ocupados. Então, você tem invenção da
tradição. A tradição é produto de uma criação, de uma mobilização coletiva. Aquilo
que é tradicional está ligado a um processo de mobilização que consegue, por
assim dizer, impor uma outra modalidade de acesso à terra, uma outra modalidade
de acesso aos recursos naturais.
Em outros momentos, o monopólio da terra se ligava ao trabalho escravo e à
monocultura. No séc. XIX, só podia ser eleito quem fosse proprietário de terra. Se
analisarmos o resultado da eleição de 1868, podemos verificar que todos os
parlamentares eram grandes proprietários de terras. Essa idéia depois é apropriada
pelo Victor Nunes Leal. Ele nos traz uma outra reflexão voltada para essa idéia do
voto. Nós voltamos ao conhecimento jurídico e verificamos que ele já foi de uma
interpretação sociológica. Essa discussão que nós estamos tendo aqui não está fora
da tradição de vocês. Esse diálogo entre antropólogos e operadores do Direito não
está fora da tradição jurídica não. Inclusive, nós estávamos conversando como é
que, até o final do séc. XIX, a sociologia dialogou com o conhecimento jurídico no
país. No caso do Victor Nunes Leal, eu acho que a tese dele é de 1949. É um
período fundamental. Em primeiro lugar, é um período de redemocratização do país.
O Partido Comunista propunha uma reforma agrária considerada muito radical
naquele momento porque era uma reforma agrária de confisco. Havia também uma
reivindicação para reconhecimento de terras indígenas. O sul da Bahia foi muito
marcado por conflitos nesse período. Então, o Victor Nunes Leal deu uma
contribuição importante. Ele chama a atenção como é que a grande propriedade
estava vinculada ao voto. Era necessária uma dissociação. Na concepção dele, uma
sociedade moderna teria que ser mais impessoal, teria que estender universalmente
esse direito de voto e não se prender apenas aos grandes proprietários de terra. Só
que, na sociedade brasileira, se universalizou o direito ao voto, mas, a prerrogativa
do domínio da grande propriedade continuou sendo daqueles que efetivamente
detinham esse poder. Esses dados podem nos ajudar numa outra forma de reflexão.
Eu não vou me estender muito mais. Eu prefiro até que nós dialoguemos.
Perdoem-me se, às vezes, usei um tom meio professoral, meio cansativo. Isso pode
gerar um certo enfado, mas, eu acho que essa própria resistência nossa faz parte
dessa luta do positivismo com a epistemologia, dessa dificuldade de a gente atentar
para os novos instrumentos. Nós temos uma resistência a isso porque significa
repensar tudo aquilo com o qual nós já estamos acostumados. A forma de as
competências profissionais se relacionarem nesse contexto muda. Você tem uma
reaproximação da sociologia e da antropologia com o direito. Nós estamos diante de
um novo tipo de diálogo. O que nós estamos fazendo aqui é uma outra tentativa de
diálogo. Nós estabelecemos uma outra forma de pensar os instrumentos
necessários para a intervenção. A intervenção é categoria mais forte neste
momento. A intervenção pública nos tira dos elementos mais privados, dos
elementos de decisão que são os mais costumeiros, aqueles apoiados em outros
elementos de conhecimento que não são aqueles das realidades empiricamente
observadas.
Por outro lado, esses instrumentos nos obrigam a lutar por aquilo que está sob
a invisibilidade social. Todas essas outras formas estão sob a invisibilidade social.
Como é que 30 milhões de hectares dos quilombolas só vieram à tona nos últimos
15 anos? O que é que aconteceu a partir 1888 a 1898? Essas pessoas
desapareceram? Essa categoria deixou de existir? Agora ela volta. Há pessoas que
se autodefinem como tal. Eu volto àquela idéia do patrimônio intangível. Não é para
levar vantagem. É uma visão muito simplista se imaginar que essa é apenas uma
vantagem para se obter terra. Pelo contrário, aqui é que entra o patrimônio
intangível. Há elementos identitários, há elementos de natureza religiosa, há
elementos de outra ordem que estão presentes nessa relação. Isso é o que há de
novo na sociedade brasileira. Isso é o que não nos permite, não nos autoriza a
continuar a proceder com os velhos instrumentos.
Eu estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida
que vocês tenham. Eu penso que essas Leis de Terra, de certa forma, cristalizaram
uma concepção da sociedade colonial. O Período Republicano não rompeu com a
sociedade colonial. Ele rompeu com a monarquia. Os abolicionistas eram racistas.
Eles romperam com a modalidade de exploração da força de trabalho, não
romperam com os elementos de discriminação, de estigma. Essa modalidade de se
pensar a ruptura é que precisa ser repensada. Eu me coloco à disposição de vocês
para futuros esclarecimento.
Você também pode gostar
- Harry Potter e o Mistério Do Véu Negro - CópiaDocumento0 páginaHarry Potter e o Mistério Do Véu Negro - CópiaJulianopoeta Moreno0% (1)
- Gilbert Duran - A Imaginação SimbólicaDocumento114 páginasGilbert Duran - A Imaginação SimbólicaGraciele Andrade100% (2)
- EtnografiaDocumento17 páginasEtnografiaLais Vitoria MenezesAinda não há avaliações
- 48 D 206Documento184 páginas48 D 206Gabriel100% (2)
- Ortiz Renato Mundializacao e CulturaDocumento235 páginasOrtiz Renato Mundializacao e CulturaCatharina De Angelo100% (9)
- Alemães, comida e Identidade: a construção da identidade étnica teuto-brasileira: VOLUME 3No EverandAlemães, comida e Identidade: a construção da identidade étnica teuto-brasileira: VOLUME 3Ainda não há avaliações
- Você Tem Cultura - DamattaDocumento4 páginasVocê Tem Cultura - DamattaBruno Fernandes100% (1)
- Cultura, Matéria Prima de Educação (Por Tião Rocha)Documento14 páginasCultura, Matéria Prima de Educação (Por Tião Rocha)CPCD100% (9)
- GEERTZ, C. O Impacto de Cultura Sobre o Conceito de HomemDocumento2 páginasGEERTZ, C. O Impacto de Cultura Sobre o Conceito de HomemRaíssa GabriellaAinda não há avaliações
- Resenha Antropologia Dos SentidosDocumento8 páginasResenha Antropologia Dos SentidosizlacerdaAinda não há avaliações
- Fichamento Cap 19 Cultura Com AspasDocumento4 páginasFichamento Cap 19 Cultura Com AspasDiego Tavares0% (1)
- FilosofiaDocumento9 páginasFilosofiaFátima ModestoAinda não há avaliações
- Conhecimentos Tradicionais Uma Discussao ConceitualDocumento15 páginasConhecimentos Tradicionais Uma Discussao ConceitualSuzana100% (2)
- Oliveira Nascimento Do Brasil Cap1Documento36 páginasOliveira Nascimento Do Brasil Cap1Amanda CardosoAinda não há avaliações
- Prefacio O Nascimento Do Brasil Joao Pacheco de Oliveira PDFDocumento44 páginasPrefacio O Nascimento Do Brasil Joao Pacheco de Oliveira PDFPablo Sandoval LópezAinda não há avaliações
- Terras Tradic. Ocupadas - Alfredo WagnerDocumento10 páginasTerras Tradic. Ocupadas - Alfredo WagnerhomerquerleituraAinda não há avaliações
- Aranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eDocumento8 páginasAranha, M.S.F. (1995) - Integração Social Do Deficiente - Análise Conceitual eMartina TuffyAinda não há avaliações
- Sem Fé Sem Lei Sem ReiDocumento18 páginasSem Fé Sem Lei Sem ReiFábio TremonteAinda não há avaliações
- Filosofia Da Cultura (Aula)Documento22 páginasFilosofia Da Cultura (Aula)tordilhonoestudoAinda não há avaliações
- Fichamento No Nature No Culture Marilyn StrathernDocumento9 páginasFichamento No Nature No Culture Marilyn StrathernlauraAinda não há avaliações
- Aula - 19 - Questão Indígena IiDocumento15 páginasAula - 19 - Questão Indígena IiWeslley MatosAinda não há avaliações
- 4 Texto 04 CidadaniaDocumento9 páginas4 Texto 04 Cidadaniabrunopaz19Ainda não há avaliações
- Roberto Da Matta - Você Tem CulturaDocumento3 páginasRoberto Da Matta - Você Tem Culturazemarcelo8Ainda não há avaliações
- Gilberto Azanha 2005Documento13 páginasGilberto Azanha 2005Rafael PachecoAinda não há avaliações
- Jane Felipe Beltrao TeseDocumento19 páginasJane Felipe Beltrao TesecalenaAinda não há avaliações
- COSTA, Jodival RICHETTI, Patrícia. O Natural e o Social Na Crise AmbientalDocumento6 páginasCOSTA, Jodival RICHETTI, Patrícia. O Natural e o Social Na Crise AmbientalHenrique SantosAinda não há avaliações
- Fichamento DAMATTADocumento2 páginasFichamento DAMATTAIuri CamposAinda não há avaliações
- Cultura 3Documento10 páginasCultura 3gleiceAinda não há avaliações
- Sem Natureza, Sem CulturaDocumento7 páginasSem Natureza, Sem CulturaLaís SampaioAinda não há avaliações
- Entre A Ação e A Intervenção. Fabio Reis MotaDocumento11 páginasEntre A Ação e A Intervenção. Fabio Reis MotaPedro RubackAinda não há avaliações
- UntitledDocumento10 páginasUntitledBenedita AbrahãoAinda não há avaliações
- Anotações - Antropologia - Passei DiretoDocumento10 páginasAnotações - Antropologia - Passei DiretoLucas LucioAinda não há avaliações
- Apostila - Religião de MAtriz Africana e Indígenas No Brasil PDFDocumento76 páginasApostila - Religião de MAtriz Africana e Indígenas No Brasil PDFFernando Rodrigues100% (1)
- Cultura e Linguagem Aula 1Documento13 páginasCultura e Linguagem Aula 1Ozias FreitasAinda não há avaliações
- PC-SC Educacao IndigenaDocumento11 páginasPC-SC Educacao IndigenaRita AraújoAinda não há avaliações
- A produção da existência e resistência da classe camponesa: Uma análise fenomenológica de suas lutas contra a lógica do capitalNo EverandA produção da existência e resistência da classe camponesa: Uma análise fenomenológica de suas lutas contra a lógica do capitalAinda não há avaliações
- RESUMODocumento12 páginasRESUMOLuciana AlencarAinda não há avaliações
- A Nao CidadaniaDocumento19 páginasA Nao CidadaniaepereiraAinda não há avaliações
- Identificacao Etnica Territorializacao e FronteirasDocumento28 páginasIdentificacao Etnica Territorializacao e FronteirasBanda MatalanamãoAinda não há avaliações
- A Autodeterminação Dos Povos IndígenasDocumento15 páginasA Autodeterminação Dos Povos IndígenasSel GuanaesAinda não há avaliações
- Da Matta. Voce Tem Cultura LeituraDocumento4 páginasDa Matta. Voce Tem Cultura LeituraNatália ZancanAinda não há avaliações
- Cosmovisão AULA 1Documento13 páginasCosmovisão AULA 1Heloisa G BAinda não há avaliações
- Herança Cultural e TradiçõesDocumento14 páginasHerança Cultural e Tradiçõesrenata silvafAinda não há avaliações
- Diálogos Entre Psicanálise e Comunidades TradicionaisDocumento15 páginasDiálogos Entre Psicanálise e Comunidades TradicionaisMaríliaAinda não há avaliações
- Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Reservas ExtrativistasDocumento12 páginasPolítica Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e Reservas ExtrativistasÉrika Fernandes PintoAinda não há avaliações
- Afro Indigena 5pdfDocumento14 páginasAfro Indigena 5pdfclaudiogarcia73Ainda não há avaliações
- Trabalho Cadeira de Filosofia Do Direito Sob o Tema ''Direito Como Realidade CulturalDocumento14 páginasTrabalho Cadeira de Filosofia Do Direito Sob o Tema ''Direito Como Realidade CulturalLucas Andrade Andrade100% (1)
- Esumo Da Doyle de Ao Cultural RevadDocumento5 páginasEsumo Da Doyle de Ao Cultural RevadElisangela Ferreira Silva FalcaoAinda não há avaliações
- Corpos Que EscapamDocumento7 páginasCorpos Que EscapamThais AguiarAinda não há avaliações
- Antropologia UrbanaDocumento17 páginasAntropologia UrbanaEmanuel santosAinda não há avaliações
- Cultura e Condição HumanaDocumento8 páginasCultura e Condição HumanaBeatriz Balthazar Santos100% (1)
- Cronicas Filosoficas DecoloniaisDocumento206 páginasCronicas Filosoficas DecoloniaisDavid GoncalvesAinda não há avaliações
- MEMÓRIAS DO HOMEM DO CAMPO - Um Estudo Na Roda de MandiocaDocumento11 páginasMEMÓRIAS DO HOMEM DO CAMPO - Um Estudo Na Roda de MandiocaJackson RodrigoAinda não há avaliações
- Reginaldo Gonçalves, Antropologia - Dos - Objetos - V41-107-117Documento11 páginasReginaldo Gonçalves, Antropologia - Dos - Objetos - V41-107-117João MarinoAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento16 páginasArquivoLemos ManuelAinda não há avaliações
- 29686-Texto Do Artigo-83546-1-10-20161226Documento24 páginas29686-Texto Do Artigo-83546-1-10-20161226Elza VieiraAinda não há avaliações
- Fronteira Étnica e A Produção Dos Discursos Dos Não Indígenas Sobre Os Indígenas Da Etnia Kaingang Da Terra Indígena Apucaraninha, Tamarana-PRDocumento15 páginasFronteira Étnica e A Produção Dos Discursos Dos Não Indígenas Sobre Os Indígenas Da Etnia Kaingang Da Terra Indígena Apucaraninha, Tamarana-PRPati FacinaAinda não há avaliações
- HistPatriCultural 1 - TextoDocumento8 páginasHistPatriCultural 1 - Textojefersontraja2507Ainda não há avaliações
- Gallois Materializando Saberes Imateriaisexperiencias Indigenas Na Amazonia Oriental PDFDocumento22 páginasGallois Materializando Saberes Imateriaisexperiencias Indigenas Na Amazonia Oriental PDFclarissejacquesAinda não há avaliações
- Multiculturalismo e Os Sujeitos Na ContemporaneidadeDocumento16 páginasMulticulturalismo e Os Sujeitos Na ContemporaneidadeMaria Aparecida ZientarskiAinda não há avaliações
- Celso CastroDocumento10 páginasCelso CastroJosé RicardoAinda não há avaliações
- Ailton KrenakDocumento5 páginasAilton KrenakElizabeth CastilloAinda não há avaliações
- Cultura e LinguagemDocumento112 páginasCultura e LinguagemCristiane PedrosoAinda não há avaliações
- Voce Tem Cultura - Roberto DamattaDocumento5 páginasVoce Tem Cultura - Roberto DamattaPatricia NaritaAinda não há avaliações
- Da Matta. Voce Tem CulturaDocumento4 páginasDa Matta. Voce Tem Culturapedromello07Ainda não há avaliações
- Quem Somos? Diálogos sobre o Conhecimento e a Realidade Cognitiva do SujeitoNo EverandQuem Somos? Diálogos sobre o Conhecimento e a Realidade Cognitiva do SujeitoAinda não há avaliações
- Registro de TerrasDocumento91 páginasRegistro de TerrasJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- ElizabethMariaFreiredeAraujoLima PDFDocumento377 páginasElizabethMariaFreiredeAraujoLima PDFJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Luiz Eva - Filosofia Da Visão Comum Do Mundo e Ceticismo - Pascal Ou Moataigne PDFDocumento38 páginasLuiz Eva - Filosofia Da Visão Comum Do Mundo e Ceticismo - Pascal Ou Moataigne PDFJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- 2011 RobertodeAbreu VCorr PDFDocumento379 páginas2011 RobertodeAbreu VCorr PDFJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Fumetti 3 Mar2018Documento15 páginasFumetti 3 Mar2018Julianopoeta Moreno100% (1)
- O Jogo Filosófico Os Caçadores de ZumbisDocumento7 páginasO Jogo Filosófico Os Caçadores de ZumbisJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Prodi, Paolo - Uma Historia Da JusticaDocumento279 páginasProdi, Paolo - Uma Historia Da JusticaJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Resenha Sortilegio e SaberesDocumento4 páginasResenha Sortilegio e SaberesJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Quarto de Badulaques IDocumento3 páginasQuarto de Badulaques IJulianopoeta MorenoAinda não há avaliações
- Multiculturalismo Versus InterculturalismoDocumento24 páginasMulticulturalismo Versus InterculturalismomvfalbuquerqueAinda não há avaliações
- As Dimensoes Da Cultura e o Lugar Das Políticas Públicas - Isaura BotelhoDocumento28 páginasAs Dimensoes Da Cultura e o Lugar Das Políticas Públicas - Isaura BotelhoFlavia PrandoAinda não há avaliações
- Gallois Materializando Saberes Imateriaisexperiencias Indigenas Na Amazonia Oriental PDFDocumento22 páginasGallois Materializando Saberes Imateriaisexperiencias Indigenas Na Amazonia Oriental PDFclarissejacquesAinda não há avaliações
- Realismo Moral e Diversidade Cultural - David McNaughtonDocumento24 páginasRealismo Moral e Diversidade Cultural - David McNaughtonJorge TostesAinda não há avaliações
- EMAD - Lição 08Documento48 páginasEMAD - Lição 08Paulo NetoAinda não há avaliações
- 608-Texto Do Artigo-1060-1-10-20170424Documento17 páginas608-Texto Do Artigo-1060-1-10-20170424dajoasAinda não há avaliações
- CASTRO, C. Mauss, A Dádiva e A Obrigação de Retribuí-LaDocumento6 páginasCASTRO, C. Mauss, A Dádiva e A Obrigação de Retribuí-LaMonalisa DiasAinda não há avaliações
- ÚteisDocumento13 páginasÚteisGabriela MartinsAinda não há avaliações
- Plano de Aula 01 PDFDocumento47 páginasPlano de Aula 01 PDFVitor Brito50% (2)
- Resenha Corpo Modificado - Corpo Livre - Kenia KempDocumento2 páginasResenha Corpo Modificado - Corpo Livre - Kenia KempRildo Nedson100% (1)
- Antropologia Dos Sistemas SimbólicosDocumento14 páginasAntropologia Dos Sistemas SimbólicosGessica VembaAinda não há avaliações
- CaetanoDocumento23 páginasCaetanoMaria de Fátima Maciel dos SantosAinda não há avaliações
- Segone Dissertaçao de Mestrado PDFDocumento145 páginasSegone Dissertaçao de Mestrado PDFSegone CossaAinda não há avaliações
- GONÇALVES, Marco Antonio - Encontros Encorporados e o Conhecimento Pelo Corpo em Jean RouchDocumento18 páginasGONÇALVES, Marco Antonio - Encontros Encorporados e o Conhecimento Pelo Corpo em Jean Rouchja_santanaAinda não há avaliações
- Conceito 1Documento264 páginasConceito 1glgnAinda não há avaliações
- Tecnica e Transformacao Perspectivas Ant PDFDocumento501 páginasTecnica e Transformacao Perspectivas Ant PDFrodrc100% (1)
- SS1 - 1 - 2018Documento6 páginasSS1 - 1 - 2018Sione VieiraAinda não há avaliações
- Teixeira, A. I. C. - Cooperação e Coflitos - As Companhas de Pesca (2011) PDFDocumento129 páginasTeixeira, A. I. C. - Cooperação e Coflitos - As Companhas de Pesca (2011) PDFJohni Cesar Dos SantosAinda não há avaliações
- Resumo Antropologia - CAPÍTULO 10Documento2 páginasResumo Antropologia - CAPÍTULO 10Anonymous 6HsCKwYx6Ainda não há avaliações
- NOTAS SOBRE OS BASTIDORES DE UM VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE UM TERREIRO DE CANDOMBLÉ DE CIDADE AutoresDocumento17 páginasNOTAS SOBRE OS BASTIDORES DE UM VIDEODOCUMENTÁRIO SOBRE UM TERREIRO DE CANDOMBLÉ DE CIDADE AutoresMarcelo Ramos SaldanhaAinda não há avaliações
- 24579-Texto Do Artigo-18074-45570-10-20181213Documento144 páginas24579-Texto Do Artigo-18074-45570-10-20181213Francisco Airton Bastos BastosAinda não há avaliações
- Antropolog. LinguísticaDocumento249 páginasAntropolog. LinguísticaTonatiuh Morgan HernándezAinda não há avaliações
- Uma Geografia Visual? Contribuições para O Uso Das Imagens Na Difusão Do Conhecimento GeográficoDocumento13 páginasUma Geografia Visual? Contribuições para O Uso Das Imagens Na Difusão Do Conhecimento GeográficoLourenço MoreiraAinda não há avaliações
- AntropologiaDocumento8 páginasAntropologiacassimo abilio santosAinda não há avaliações
- PADILHA Rafael Antunes o Conceito de Cultura Como Questao Metodologica Na Antropologia Um Estudo Sobre o Lugar Da Mente Na Descricao EtnoDocumento151 páginasPADILHA Rafael Antunes o Conceito de Cultura Como Questao Metodologica Na Antropologia Um Estudo Sobre o Lugar Da Mente Na Descricao Etnoluciano viannaAinda não há avaliações