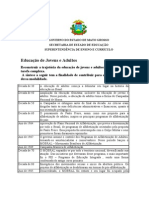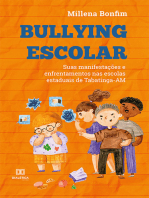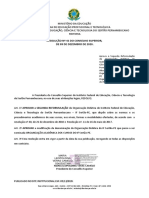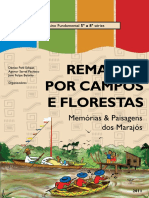Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A EJA em Rio Claro e o Direito À Educação
Enviado por
antonio_uchoa1697Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A EJA em Rio Claro e o Direito À Educação
Enviado por
antonio_uchoa1697Direitos autorais:
Formatos disponíveis
DOI: http://dx.doi.org/10.22476/revcted.v3i3.
242
A EJA em Rio Claro e o direito à
educação
The EJA in Rio Claro and the right to education
Valéria Aparecida Vieira Velis*
Resumo: este artigo tem como objetivo apresentar e Abstract: this article aims to present and analyze
analisar dados levantados junto à Secretaria de data collected from the Education Department of the
Educação do Município de Rio Claro - SP sobre o Municipality of Rio Claro – SP on the field of public
campo da política pública de EJA, no que diz respeito policy of Youth and Adult Education (EJA, in
à afirmação de direitos, num esforço de contribuir Portuguese), with regard to the affirmation of rights
para o acervo da Educação de Jovens e Adultos. in an effort to contribute to the collection of Youth
Expõe-se um pequeno histórico da EJA no Brasil e em and Adult Education. It presents a small history of
Rio Claro, trazendo características da gestão the EJA in Brazil and in Rio Claro, bringing
educacional dessa modalidade da educação básica. characteristics of the educational management of
Apresenta também pontos relevantes para a this modality of basic education. It also presents
construção de uma escola de qualidade para tal relevant points for the construction of a quality
modalidade educacional, que garanta a participação school for this modality of education that guarantees
direta dos sujeitos, consolide práticas educativas the direct participation of the subjects, wich
comprometidas com um currículo adequado e consolidates educational practices committed with
contribua para uma concepção de educação ao longo an adequate curriculum that contributes to a
da vida. Com este texto, pretende-se ampliar as conception of education throughout the life. This text
oportunidades de análise documental sobre o tema e intends to expand the opportunities for documentary
de investigação sobre a configuração da Educação de analysis on the subject and research on the
Jovens e Adultos no que se refere à afirmação do configuration of Youth and Adult Education
direito à educação. regarding the affirmation of the right to education.
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Keywords: Youth and Adult Education. Public
Políticas públicas. Gestão educacional. Histórico da policy. Educational management. History of EJA in
EJA em Rio Claro. Direito à educação. Rio Claro. Right to education.
A história das políticas públicas em EJA no Brasil e sua
gestão educacional
N
o Brasil, a Educação de Jovens e Adultos tem suas origens no período
colonial. No campo legal, somente em 1824, a primeira constituição
brasileira formulou um parágrafo sobre a educação, indicando que
instrução primária deveria ser gratuita para todos os cidadãos. O que a lei
imprimiu como direito, na prática não se efetivou. Um longo período na
* Doutoranda em Educação (UNESP/Rio Claro), Mestre em Educação pela UFSCar. Possui graduação
em Pedagogia pela UNESP - Rio Claro - SP (1997) e Especialização em Gestão Escolar pela Unimep
(2001) e em Gestão Educacional pela Faculdades Integradas Claretianas (2008). É Diretora de escola
efetiva da Rede Municipal de Ensino de Rio Claro (2004), trabalhou como Diretora do Departamento
Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Rio Claro – SP (2009-2016) e foi Coordenadora
da Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal da Educação de Rio Claro (1998-2004).
Trabalha com pesquisa em Política Educacional Brasileira com ênfase na Educação de Jovens e
Adultos e Formação de Educadores. E-mail: smerceja@gmail.com
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 43
história do país seguiu para que as pessoas tivessem direito à educação. Ainda no
Império, apesar das condições legais que instituíram esse direito, o mesmo
permanecia restrito à elite brasileira.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a preocupação com a escolarização
vem à tona, pois nosso país já havia se adiantado no estabelecimento constitucional
do direito à educação para todos, mesmo sem ter condições para isso se comparado à
América Latina e demais países.
De modo geral, a Revolução de 1930 é um marco no processo de reformulação
no setor público no Brasil. Na Constituição de 1934 foi criado o Plano Nacional de
Educação, no qual deveria incluir entre suas normas o ensino primário integral,
gratuito e de frequência obrigatória, ensino que deveria ser extensivo aos adultos.
Durante as décadas de 40 e 50 do século XX, várias campanhas de
alfabetização foram criadas, visando diminuir os índices de analfabetismo, contudo,
tiveram vida curta, pois a eficácia passou a ser questionada.
Apesar das políticas educacionais se voltarem para a educação de adultos, a
mesma metodologia da educação infantil era usada, rotulando assim, o adulto como
um ignorante, que deveria ser atualizado com os mesmos conteúdos formais da
escola primária, e reforçando o preconceito contra o analfabeto.
Segundo Paiva (1973), com a realização do Congresso Nacional de Educação de
Adultos em 1958 no Rio de Janeiro:
[...] marcava-se o início de um novo período na educação de adultos
no Brasil, aquele que se caracterizou pela intensa busca de maior
eficiência metodológica e por inovações importantes neste terreno,
pela reintrodução da reflexão sobre o social no pensamento
pedagógico brasileiro e pelo esforço realizados pelos mais diversos
grupos em favor da educação da população adulta para a participação
na vida política da Nação (PAIVA, 1973, s/p.).
Essa renovação pedagógica foi muito importante nessa época, pois visava o
aprimoramento dos aspectos qualitativos sobre o processo de ensino-aprendizagem.
As reflexões trazidas pelas ideias de Paulo Freire tiveram um importante papel
na caracterização do universo da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A EJA passava
a ser assunto de reflexão, mostrando seu verdadeiro sentido. O adulto trabalhador,
das classes populares começou a ser reconhecido enquanto sujeito da EJA no Brasil.
Com isso, a questão do analfabetismo volta para as pautas de governo.
Grande parte dos programas de alfabetização funcionava no âmbito do Estado
ou sob seu patrocínio. Representavam, por um lado, o aumento da responsabilidade
do setor público pela escolarização básica dos adultos e, por outro, a disputa política
por legitimação de ideias no campo da prática educacional no aparelho do Estado.
No período pós 1964 ocorreram diversas modificações junto à educação de
adultos, novos trabalhos surgiram ao mesmo tempo em que outros eram reprimidos.
A única certeza que se tinha no meio de tantas incertezas era que a escolarização
básica de jovens e adultos não poderia ser abandonada por parte do aparelho do
Estado. Por um lado, seria incompatível a proposta de um grande país com os baixos
índices de escolaridade; por outro, havia necessidade de dar respostas a um direito de
cidadania cada vez mais identificado como legítimo.
Foi em 1967 com a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização
(Fundação Mobral - Lei 5.379, de 15 de dezembro de 1967), e posteriormente com o
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 44
Ensino Supletivo, em 1971, que se promulgou a Lei Federal 5692/1971, em que eram
enfatizados temas como o caráter educativo do desenvolvimento, bem como o valor
da educação nesse processo, a tecnologia educacional, módulos instrumentais,
teleducação, educação como investimento, dentre outros. A partir disso, a educação
passou a ser vista como prioritária inclusive em relação aos aspectos como habitação,
vestuário e condições de trabalho e, até mesmo, liberdade humana.
A Constituição Federal de 1988 contribuiu na medida em que seu artigo 208
amplia a “garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito aos que a ele não
tiveram acesso na idade própria”. Indica também que cinquenta por cento dos
recursos a que se refere o artigo 212 sejam aplicados no combate ao analfabetismo e
no acesso ao ensino fundamental para todos. Dispõe, ainda, nos parágrafos 1 e 2 do
item VII do artigo 208, respectivamente, que “o acesso ao ensino obrigatório e
gratuito é direito subjetivo” e que “o não oferecimento do ensino obrigatório pelo
Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade
competente” (BEISIEGEL, 1997, p. 238).
Sabe-se que a garantia de obrigatoriedade de atendimento, disponibilização de
recursos e responsabilização das autoridades quanto ao não atendimento às
determinações constitucionais é algo aparente e comprovado com o crescente
abandono das atividades relacionadas à superação dos índices de analfabetismo. Isso
se consolida com a extinção em março de 1990, através da medida Provisória 251, da
Fundação Educar.
Com a realização da Conferência Mundial sobre Educação para Todos,
realizada em Jontiem, na Tailândia (1990), o Brasil tentou articular uma grande
campanha de alfabetização, através do Plano Nacional de Alfabetização e Cidadania,
PNAC, logo interrompida pelo “impeachment” do então presidente Fernando Collor.
O governo federal deixava claro que sua prioridade não seriam os analfabetos e
sim as crianças. Na fala do ministro José Goldemberg se percebe que suas intenções
com a EJA marcavam a separação entre crianças e adultos, quando o mesmo
afirmava que:
[...] o grande problema de um país é o analfabetismo das crianças e
não o de adultos. O adulto analfabeto já encontrou o seu lugar na
sociedade. Pode não ser um bom lugar, mas é o seu lugar. Vai ser
pedreiro, vigia de prédio, lixeiro ou seguir outras profissões que não
exigem alfabetização. Alfabetizar o adulto não vai mudar muito sua
posição dentro da sociedade e pode até perturbar. Vamos concentrar
nossos recursos em alfabetizar a população jovem. Fazendo isso agora,
em dez anos desaparece o analfabetismo (Jornal do Comércio, Rio de
Janeiro, 1991).
Com o impeachment do presidente Collor, assume a presidência Itamar
Franco e seu ministro Murilo Hingel, que desencadeiam o processo de elaboração do
Plano Decenal de Educação para Todos. Esse plano assumiu o compromisso da
“restauração e manutenção do que dispõe a Artigo 212 da Constituição Federal [...]
bem como do que dispõe o Artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias” (Brasil, MEC/SEF, 1994, p. 1042).
É implantado o Combate ao Analfabetismo como prioridade, porém, com as
mudanças e a redução dos recursos para as ações sociais, de acordo com o
pensamento neoliberal, a EJA passa novamente à marginalidade das políticas
públicas, entendendo no regime de colaboração o papel da União como “ação
centralizada de coordenação pelo governo federal e repasse de execução das políticas
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 45
da educação para Estados e municípios, com acentuada sobrecarga desses últimos”
(ARELARO, 2002, p. 93-94).
Na mesma lógica, em 1997, cria-se o Programa Alfabetização Solidária
(AlfaSol), que tinha o objetivo de reduzir as taxas de analfabetismo do nosso país,
começando o atendimento pelos municípios que tinham índices alarmantes de não-
alfabetizados. Esse programa não era oficial do MEC e sim uma ação social liderada
pela então primeira dama Ruth Cardoso, demonstrando que a EJA novamente não
tinha espaço como uma política pública de atendimento.
Os dados estatísticos revelam que, apesar de alguns avanços, a diminuição do
analfabetismo e a melhoria da escolaridade da população brasileira continuavam em
ritmo lento.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovada em 1996, trouxe
pequenos avanços significativos para a EJA, em seu corpo de texto possui apenas dois
artigos que a exprimem como modalidade da Educação Básica. Essa Lei destaca a
necessidade do estímulo ao acesso e permanência do trabalhador na escola, mas não
viabiliza ações concretas para que isso ocorra.
Em relação à idade para exames, que diminuem, dá abertura para a matrícula
compulsória de jovens maiores de 14 anos de idade nessa modalidade de ensino,
como forma de aligeiramento de estudos distorcendo o verdadeiro sentido da EJA, de
educação ao longo da vida.
Com relação ao financiamento da educação, a Emenda Constitucional 14, EC
14/96, aprovada em setembro de 1996, trouxe um caráter de municipalização
compulsória para o atendimento do ensino fundamental, tornando mais crítico o
painel da educação de jovens e adultos, trazendo para a modalidade um público que
deveria ter seu direito atendido no ensino regular. Assim, definindo a divisão de
responsabilidades entre as esferas de governo, o que permitiu a atitude invasiva na
esfera municipal.
Desse modo, a Emenda Constitucional 14/96, com a alteração feita no artigo
208, assegurava esse ensino como mera “oferta” e a Lei 9424/96 excluiu as
matrículas de EJA no cômputo geral das etapas que podiam receber recursos do
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização
do Magistério. Assim, o dinheiro do Fundo poderia ser utilizado com os
investimentos em EJA (pagamento de professores, formação, compra de material
didático), porém o município não receberia nenhum repasse por matrícula de aluno
na EJA.
Coloca-se aí um ponto crucial para os municípios, dada a retirada de recursos
importantes tanto para a Educação Infantil quanto para a Educação de Jovens e
Adultos, como atender as crianças ou os jovens e adultos com pouca escolaridade?
Assim, a defesa pela Educação de Jovens e Adultos se pautou pela
inconstitucionalidade dos vetos presidenciais e pela insuficiência dos recursos.
Um desafio estava posto: o de atender a Educação de Jovens e Adultos no seu
sentido mais amplo: o de educação ao longo da vida.
Muitos são os esforços para a melhoria da Qualidade de Ensino e a
Democratização da Gestão da Escola Pública. Desde a década de 1950, os
Movimentos Populares em nosso país elaboraram princípios orientadores da
construção da democracia no campo educacional, entre eles: uma educação com
qualidade, a gestão democrática dos processos educacionais e a democratização do
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 46
acesso e da permanência na escola. Mas por que se busca essa democratização?
Porque a educação pública destina-se a todos.
É nesse contexto, e juntamente às discussões a respeito da gestão democrática,
da construção de um projeto político pedagógico e da necessidade da participação da
sociedade para a melhoria da qualidade do ensino, que se abrem diálogos sobre a
EJA, com os altos índices de analfabetismo.
Há um consenso: sem educação não há desenvolvimento social e econômico.
Desde a realização da 5ª Conferência Internacional de Educação de Adultos,
CONFINTEA, em 1997, em Hamburgo na Alemanha:
[...] tem havido um crescente reconhecimento por parte da sociedade
mundial e de organismos internacional da importância da educação de
pessoas adultas no fortalecimento da cidadania, na formação cultural
da população, na melhoria do bem estar da sociedade. (HADDAD,
1986, p. 113).
Sabe-se que o déficit de atendimento no ensino fundamental resultou num
grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram
conclui-lo. Com isso, o número de pessoas não alfabetizadas é ainda vergonhoso e
excessivo no país, atingindo 13,4 milhões de brasileiros maiores de 15 anos, de acordo
com os dados do Censo realizado pelo IBGE/2010. Assim, “ao longo da década de
Educação para Todos, não houve uma ampliação significativa das oportunidades
educacionais para a população brasileira jovem e adulta” (DI PIERRO, 2000, p.
13).
O sentido de alfabetização, concebido como um conhecimento básico
necessário a todos num mundo em transformação é um direito humano fundamental.
Portanto, a implantação de políticas educacionais pelos poderes públicos é decisiva
na formulação e condução de estratégias necessárias para enfrentar o problema dos
déficits educacionais.
A EJA, assim, em decorrência das mudanças implantadas, trouxe novas
atribuições aos Estados e Municípios. Atribuições que se vinculavam ao
entendimento político de oferecer-se o direito à educação para jovens e adultos que
não tiveram acesso na chamada idade própria, lembrando que o jovem foi
incorporado à educação de adultos, mais recentemente, por volta dos anos noventa, e
com ele demandas foram incorporadas sobre a formação dos professores para esse
atendimento.
Na atualidade, a demanda por EJA modificou-se, sendo cada vez mais
heterogêneo seu perfil, tanto quanto as expectativas de aprendizagem ou no que diz
respeito à idade. Se por um lado há adultos que querem se alfabetizar, de outro estão
muitos jovens interessados somente na certificação.
Isso prejudica o verdadeiro sentido da EJA, cuja compreensão não deve
perpassar uma aceleração de estudos, mas como nas ideias defendidas na realização
da V Conferência Internacional de Educação de Adultos, CONFINTEA, em
Hamburgo, na Alemanha em 1997: educação ao longo da vida. Observa-se, ainda, a
visão da EJA como um “favor” do Estado, tornando os educandos dessa modalidade
de ensino, muitas vezes, meros “inquilinos” das escolas. Há experiências de sucesso e
que consideram o papel e a função verdadeira da escola que atende a EJA, mas
infelizmente representam uma porcentagem bem inferior ao desejado.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 47
Outro aspecto a ser levantado é o que o documento apresentado à UNESCO
para a Conferência Regional Preparatória da V CONFINTEA 1 traz:
Ainda que sejam numerosos os programas e variadas as formas de
atendimento, muitas das quais com características inovadoras, a
oferta de EJA é reduzida em face das necessidades socialmente
colocadas num país de dimensões continentais e ampla diversidade
cultural. Também a sua abrangência é muito desigual de uma região
para outra do país. Ante tal situação há o desafio de mapear e
socializar as experiências em andamento para que pela divulgação se
possa promover a ampliação da oferta e a melhoria do atendimento.
(Documento Base Nacional, 1996-1997, p. 7).
Mas importante ainda que o acesso é a permanência do educando nesse
processo e isso é tarefa de todos os envolvidos. O conhecimento ali produzido deve
estar relacionado à vida e ao cotidiano das pessoas que precisam saber cuidar da
saúde, que produzem cultura, etc.
O atendimento da EJA em Rio Claro na gestão
municipal: singularidade de experiência
Para a análise pretendida, faz-se necessário demarcar o ano de 1989, em Rio
Claro, quando todas as atenções do poder público se voltaram para a preparação das
atividades do Ano Internacional da Alfabetização (1990). As atividades realizadas de
mobilização, sensibilização e direcionamento de práticas pedagógicas estiveram sobre
a coordenação da Fundação Educar, órgão oficial do MEC, responsável pela
alfabetização de jovens e adultos no Brasil.
A Fundação Educar, criada em 1985 e extinta em 1990, no Governo Collor,
desempenhou no município de Rio Claro, no período de 1989 a 1991 a coordenação
técnica da capacitação de professores, assessoria pedagógica, distribuição de material
didático para todos os alunos e professores, orientações na mobilização da
comunidade, mapeamento da demanda e organização de eventos educacionais.
O município como contrapartida se responsabilizava pela remuneração dos
professores e supervisão das ações educativas, também pela criação e/ou utilização
da metodologia e material didático próprio.
Anteriormente à ação da Fundação Educar, o município já se mobilizava em
torno do atendimento da alfabetização. Os documentos analisados indicam que desde
o surgimento do Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL, o município de
Rio Claro sempre contou com um número significativo de classes de alfabetização.
Os registros revelam que em 1988, 20 classes de alfabetização foram
distribuídas nos seguintes bairros: Jardim Cervezon, Vila Olinda, Jardim Santa
Maria, Bairro do Estádio, Vila Paulista, Parque das Indústrias, Vila Nova, Conjunto
Habitacional Arco Íris. Todas situadas nos prédios municipais onde durante o dia
funcionava o ensino pré-escolar e no horário noturno eram espaços ociosos.
Em 1992, foi implantado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Rio Claro, o Projeto Vésper, Educação Básica para Jovens e Adultos, um projeto
1 Documento apresentado à UNESCO para a Conferência Regional Preparatória da V Conferência
Internacional de Educação de Adultos, Brasília, 1996-1997.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 48
próprio dessa pasta, que garantiu às pessoas que não tiveram a chance de estudar, a
oportunidade de serem alfabetizadas e continuarem no caminho do aprendizado.
O curso de alfabetização intitulado Projeto Vésper, entrou em funcionamento
no dia 1º de abril de 1992, com sete classes divididas nos seguintes pólos: EMEI
“Clara Freire Castellano”, EMEI “Antonio Maria Marrote”, EMEI “Dr. Paulo Koelle”,
EMEI “Prof. Elpídio Mina” e na E.E.P.G.A. do bairro de Assistência no horário das 19
horas às 21h30min., e também na Capela de São José Operário das 14 horas às
16h30min. Com cerca de 25 alunos por classe, totalizando 188 pessoas frequentando
o curso.
As aulas se estendiam por semestres, em que os alunos eram alfabetizados e
recebiam a educação básica primária em Língua Portuguesa, Matemática, Estudos
Sociais, Ciências e Saúde. A partir do término do curso, os alunos estariam aptos a
frequentar as aulas do Ensino Supletivo2, na Rede Estadual de Ensino, segundo o
interesse de cada um.
Com esse atendimento, criou-se uma demanda de 5ª à 8ª séries, e em 1996
instalou-se na Escola Municipal Dr. Paulo Koelle e Escola Municipal Jardim das
Palmeiras – CAIC as primeiras salas de quinta série.
Em outubro de 1996, com as eleições municipais, assumiu a “Frente Rio Claro”
(1997-2000 e 2001-2004), que apresentava em seu Plano de Governo indicações de
mudanças para a Educação:
Naquela oportunidade, atendendo ao chamado da Frente Rio Claro,
um grupo representativo de vários segmentos que atuam na educação
em Rio Claro reuniu-se de forma organizada para, através do trabalho
coletivo, elaborar um projeto que tivesse como objetivo maior o
desenvolvimento do Homem consciente. (Plano de Governo, 1997-
2000, p. 4).
Objetivava-se com tal ação extrair alguns pontos importantes e essenciais para
o diagnóstico educacional do município. Dentre os pontos destacados, registramos os
seguintes: o autoritarismo e descompromisso com a Educação Popular; repressão da
demanda, que impede a democratização do acesso à escola, ausência de participação
da comunidade nas decisões, ausência de integração e continuidade no “fazer
pedagógico”, ausência de democracia na composição do Conselho Municipal de
Educação e ausência de Plano Municipal de Educação no âmbito geral da educação.
Diante do quadro exposto, a Secretaria de Educação afirma para o
atendimento da EJA, e, para a educação de modo geral, o vínculo com os princípios
da Educação Popular. Iniciava-se na Rede Municipal de Ensino a implantação de uma
política educacional que se fundamentava em três diretrizes: “democratização do
acesso à escola; democratização da gestão da escola e construção de uma nova
qualidade educacional” (DIAS, 2003, p.48).
Para tanto, a construção da proposta pedagógica da escola deveria contemplar
a incorporação da experiência cultural como objeto de reflexão e elaboração no
interior da escola e ser feita com a participação mais efetiva da população.
Entre essas ações, destacam-se a realização da I Conferência Municipal de
Educação, a criação das Coordenadorias de Educação Infantil, Ensino Fundamental e
2 O termo Ensino Supletivo foi empregado para designar o atendimento de 5ª à 8ª séries, que tinha
como preceito o caráter de suplementação, aligeiramento, recuperação do “tempo perdido”.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 49
de Educação de Jovens e Adultos, a re-estruturação do Conselho Municipal da
Educação e a discussão do Estatuto do Magistério.
A descentralização do poder começa a ser vivenciada pelas Diretorias de
Administração, Pedagógica e de Merenda Escolar. Assim:
As três diretorias começaram a experimentar outra forma de exercício
de poder, na medida em que passaram a deliberar na administração de
suas diretorias, respeitando os princípios gerais já indicados antes, e
contando com o apoio da autoridade da Pasta (DIAS, 2003, p. 49).
A EJA, dentro desse contexto, começa a ter visibilidade e espaço de atuação
dentro da própria Secretaria:
Na Área Pedagógica, fez-se com que também as Coordenadorias de
Educação Infantil, de Ensino Fundamental e de Educação de Jovens e
Adultos exercitassem o poder de deliberação em suas áreas, com o
apoio da Diretoria Pedagógica e do Secretário. Desde o início tinha-se
clareza da importância de propiciar tais vivências do exercício do
poder de um modo democrático (DIAS, 2003, p. 49).
A gestão democrática da educação, para a EJA, apresentava-se como desafio
para a superação das condições de acesso e permanência de jovens e adultos,
evidenciadas nas propostas de: Implantação de um Centro Municipal de Ensino
Supletivo; Reestruturação da Educação de Adultos; Elaboração de materiais didáticos
específicos para o Ensino Supletivo; Garantia de espaço para debates futuros e
palestras sobre o Ensino Supletivo e Criação de um Fórum Permanente em Defesa da
Educação, com representantes dos segmentos da sociedade civil, religioso, clubes,
escolas, indústrias e comércio.
Todas essas propostas tiveram desdobramentos dentro da Coordenadoria de
Educação de Jovens e Adultos, constituíram-se grupos de estudos e reuniões foram
realizadas com o objetivo de consolidar as propostas apresentadas. As escolas que
atendiam a EJA, em sua maioria, integraram-se a esse movimento inovador na Rede,
tendo a participação de diretores de escola, coordenadores pedagógicos, educadores e
alunos.
O princípio do direito à educação e, portanto, do acesso, começava a ser
notado. Cada Unidade Educacional passa a compreender a EJA como parte
integrante do seu projeto escolar, descobrindo possibilidade de trabalho. Com isso, a
EJA começa a ganhar espaço de discussão e de decisões na área educacional.
No final do ano de 1998, uma grande ação de Alfabetização é lançada na
cidade, o Projeto Ler Rio Claro, movimentando os diferentes segmentos da sociedade
para o pagamento da dívida social para com o analfabetismo.
Atualmente, compreende-se o papel propulsor que o projeto teve para a
consolidação do direito à educação de jovens, adultos e idosos no município em
questão, bem como o oferecimento da continuidade de estudos nessa modalidade de
ensino.
Outro ponto culminante do trabalho foi a realização do I Encontro Municipal
de Educação de Jovens e Adultos ocorrido no dia 05 de novembro de 1999, com a
participação de trezentos educadores e que tornou a formação dos educadores da EJA
algo singular e diversificado, merecendo um espaço próprio de discussão.
Com a temática “De Olho na Educação”, o encontro teve o objetivo de avaliar
as práticas educacionais realizadas e repensar os projetos pedagógicos junto aos
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 50
educandos, entendendo-os como participantes do processo formativo, já com a
preocupação do atendimento de adolescentes e jovens incorporados pela EJA.
Já no início de 2000, o grupo gestor da Secretaria Municipal de Educação
define algumas ações e metas para a Educação de Jovens e Adultos, entre elas: a
dinamização do Projeto de Alfabetização “Ler Rio Claro”, a revisão metodológica do
Projeto Pedagógico para a EJA, a diversificação de atividades curriculares no
processo educacional e a dinamização da oferta dos cursos de EJA para a população.
O Plano Educacional 2001/2002 salientou em seu texto procedimentos através
dos quais o Projeto Pedagógico das escolas deixaria de ser mera intenção e se
transformaria em realidade, afirmando que “[...] para a sustentação de nosso lema
‘Educação a Serviço da Vida’ e para se criar um ambiente favorável ao início da
construção de uma escola “diferente” e consequentemente, de uma sociedade mais
democrática” (Plano Educacional 2001/2002, p. 2).
Após um longo período de debates, reflexões e discussões é realizada em Rio
Claro, em 20 de outubro de 2001 a Plenária Final da II Conferência Municipal de
Educação com a temática: “Educação Rio-clarense – Desafios e Perspectivas”. As
propostas reafirmavam o compromisso com o fortalecimento das diversas formas de
participação popular, visando a construção de um processo educacional com
qualidade, participativo e inclusivo.
O papel da Secretaria, através do seu Departamento Pedagógico, sempre foi de
ocupar-se com as ações pedagógicas desenvolvidas nas Unidades Educacionais,
estabelecendo continuidade e coerência nas políticas de atendimento ao educando,
nos diferentes níveis e modalidade de ensino.
Essas ações eram subsidiadas por meio de encontros e reuniões sistemáticas
no MEC, no Fórum Paulista de EJA, em congressos, nos Encontros Nacionais de
Educação de Jovens e Adultos, etc. A busca de novos conhecimentos, estratégia de
formação e de coordenação dos trabalhos representara um crescimento profissional
que sustentava e direcionava a atuação da Secretaria na busca da implantação de uma
política pública de atendimento à essa modalidade.
O Plano de Trabalho de 2003 e de 2004 da Coordenadoria da EJA deixava
claro que a questão do atendimento da EJA já era algo alcançado. As discussões,
metas e ações versavam sobre questões pedagógicas, tratando as diversidades
relacionadas à modalidade de ensino. Enfim, percebe-se que esse período foi decisivo
para o avanço do atendimento e a preocupação mais ostensiva no desenvolvimento
do trabalho pedagógico.
Existe a necessidade de contextualizar esses dados, diante do cenário nacional
apresentado para o atendimento dessa modalidade de ensino, ressaltando a
singularidade da experiência em rio-clarense, pois mesmo diante da conjuntura
nacional posta para a EJA, o município desenvolveu seu trabalho de atendimento
caminhando na contramão do processo vivido em outras cidades, e no país como um
todo.
Trata-se de analisar a educação em tal município no tocante a Educação de
Jovens e Adultos, dentro de um contexto nacional e no âmbito de seus contrastes
internos, revelando resultados satisfatórios perante o panorama nacional, porém não
suficientes, impondo enormes desafios a políticos e educadores na hora de formular
políticas públicas de educação preocupados com a melhoria da qualidade do ensino.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 51
Sabemos que a universalização do acesso ao ensino fundamental foi um passo
importante num país em que há altos índices de exclusão social, mas esses dados
revelam também um desafio ainda maior especialmente para os segmentos menos
favorecidos da população: o da qualidade do ensino.
Houve um crescente atendimento da EJA tanto na alfabetização, quanto em
sua continuidade. Começou-se o atendimento aos próprios funcionários da Prefeitura
com o objetivo tanto de alfabetizá-los, como de elevar os níveis de sua escolaridade.
Salas de aula foram estabelecidas nas próprias repartições públicas para atendimento
da demanda e os alunos matriculados tinham dispensa do trabalho por um período
para participarem das aulas.
Ao mesmo tempo em que na conjuntura nacional e regional houve uma
diminuição/estagnação na matrícula de EJA devido à falta de recursos e de políticas
públicas, em Rio Claro, o número de matrículas aumentava significativamente,
demonstrando uma verdadeira preocupação com a implantação de uma política
pública e a singularidade da experiência.
Refletindo sobre a experiência de Rio Claro
Apresentam-se, a seguir quatro pontos considerados fundamentais para
construir-se uma escola de qualidade para a EJA e que foram essenciais para a
efetivação do seu atendimento em Rio Claro:
1. Sensibilização da sociedade sobre a importância da educação em todos
os níveis de ensino, e particularmente no atendimento da EJA, através de parcerias
externas à comunidade escolar, da gestão democrática, da viabilização do acesso e
permanência na escola e do incentivo à participação dos órgãos auxiliares na gestão
da escola.
2. Investimento de mais recursos em escolas e educadores com o
fortalecimento da autonomia das Unidades Escolares a partir de seus órgãos
colegiados, nos quais a EJA se faz representada.
3. Valorização do trabalho docente, por meio da formação inicial e
continuada dos profissionais da educação que trabalham com essa modalidade de
ensino e oferecendo condições de trabalho e materiais didático-pedagógicos.
4. Estabelecimento de políticas de longo prazo, através da formação das
equipes educativas em cada Unidade Escolar, do combate a repetência, a evasão e o
analfabetismo, através de consolidação de políticas de acesso e permanência, com
condições próprias para a EJA.
Assim, com essas ações, reconhece-se que o município de Rio Claro
estabeleceu políticas públicas de atendimento de EJA, reconhecendo esse direito
fundamental e subjetivo estabelecido por lei, o que não foi garantido em outros locais.
Resta-nos trilhar o caminho da esperança, não no sentido da espera passiva, mas no
trabalho para a concretização de dias melhores para a Educação de Jovens e Adultos,
para que passe de mera “inquilina” para “coproprietária” do direito da escola de todos
e para todos, sustentada no princípio da Educação ao Longo da Vida.
Não afirmamos que tais condições foram suficientes para a construção da
história das políticas públicas de EJA em Rio Claro, mas foram decisivas para a
consideração de uma referência de política pública.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 52
O conceito de política pública, por sua vez, é definido como sendo “um
conjunto de decisões inter-relacionadas que são adotadas por um ator ou grupos de
atores políticos que envolvem a definição de metas e meios para a sua realização em
um quadro de uma situação particular” (DUNN, 1994, p. 70). Tal definição evidencia
que as políticas públicas se constituem portanto, em um conjunto de opções coletivas
interdependentes, associadas às decisões adotadas pelos governos e seus
representantes para as diferentes áreas, tais como: segurança, saúde, educação, bem-
estar previdência social, etc. Fica perceptível, em qualquer das áreas em questão, que
existem inúmeras possibilidades de ações políticas vinculadas às iniciativas
governamentais em desenvolvimento, cujo potencial de operacionalização irá
envolver, necessariamente, conflitos e tensões entre diferentes grupos e atores
sociais.
No que diz respeito às políticas públicas para a educação de adultos na Europa,
em vigor desde 1999, são elas passíveis de serem analisadas por três modelos que
coexistem e são igualmente presentes nas políticas públicas para a educação do
trabalhador no Brasil (LIMA; GUIMARÃES, 2011).
O primeiro modelo diz respeito às Políticas Educativas Emancipatórias,
Democráticas e Autônomas, que coincidem com os modelos políticos sociais críticos e
tem a ver com a democracia participativa. Aqui, o Estado possui um papel importante
no sentido de promover políticas públicas partilhadas com a sociedade. Trata-se da
democratização do Estado-providência, que financia as ações educativas e é aberto à
participação social, via movimentos reivindicatórios, que contam com a participação
direta dos movimentos sociais, admitindo as diferentes formas de educação,
considerando igualmente importantes a educação não formal e informal e
designadamente a educação popular (LIMA; GUIMARÃES, 2011).
Ainda de acordo com Lima e Guimarães (2011), a segunda lógica diz respeito à
Política Educativa de Modernização e Controle Estatal. Nesse contexto, o
protagonista é o Estado. Os princípios possuem como base o processo de
modernização do país, admitindo a internacionalização da economia, quando a
formação profissional ganha importância, permitindo a perda da lógica de
participação pelos movimentos sociais. O Estado, ao financiar as políticas para a
educação até o ponto em que lhe convém, promove um estreitamento na educação de
jovens e adultos, quando a mesma deixa de se configurar enquanto educação para a
cidadania, uma vez que as políticas públicas para a educação passam a ser impostas e
o diálogo deixa de existir, tendo em vista a necessidade cada vez mais urgente de
adequar a educação às exigências do mercado. Nesse cenário, a educação para o
trabalho e a educação profissional ganham força, pois o mercado passa a exigir mão
de obra qualificada para atender a demanda, sendo que a educação para a vida fica
em segundo plano.
Por fim, segundo Lima e Guimarães (2011), tem-se o modelo da lógica Político
Administrativa de Gestão de Recursos Humanos, Produção de Mão de Obra e de
Gestão de Recursos Humanos, na qual a educação inexiste e é substituída pela
formação, altamente influenciada pelos organismos internacionais, que preconizam a
utilização de instrumentos viabilizadores da competitividade, cujo objetivo é apenas a
administração de recursos humanos e a formação de mão de obra qualificada. Parte-
se do conhecimento que os adultos não possuem, de forma a dar prioridade às
políticas de controle social que administram a lei da oferta e da procura por emprego.
Portanto, as três lógicas de políticas educativas coexistem no Brasil. A
educação de adultos não significa apenas alfabetização, deve ir além, contudo, nesse
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 53
cenário ainda não se conseguiu ultrapassar o primeiro estágio. Somente depois de
alfabetizar a todos, em uma perspectiva de educação permanente, é que se poderá,
então, dar início ao processo de educação de adultos, propriamente dita.
Fica evidente que, em se tratando das políticas públicas para a educação, elas
devem estar a serviço da cidadania, sendo assim, os cidadãos não podem ser objetos.
As políticas públicas devem ser perpassadas por uma concepção política de educação
e de participação, efetivas, mostrando-se mais aberta à participação em seu sentido
amplo, incluindo toda a sociedade civil organizada.
Na prática, vemos que no Brasil e em Rio Claro, a opção pelo uso de programas
de governo em detrimento de políticas públicas tem a ver com o valor atribuído à
escola e dos conhecimentos nela priorizados.
Os programas de governo são políticas pontuais que o Executivo decide num
processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas,
objetivando responder às demandas urgentes da agenda política interna. As políticas
de Estado ou políticas públicas são aquelas que envolvem mais de uma agência do
Estado, passam em geral pelo parlamento, ou por instâncias diversas de discussão,
resultando em mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com
incidências em setores mais amplos da sociedade, portanto, duradouras (OLIVEIRA,
2011, p. 329).
Considerações Finais
Muitos desafios permanecem visíveis em uma sala de aula de EJA, com a
extensão das desigualdades e exclusão social de vasta camada da população
brasileira.
Sabe-se que alfabetizar jovens, adultos e idosos na perspectiva da qualidade
social na educação tem sido um desafio. Para tanto, a concepção de educação como
direito para toda a vida e a formação de educadores têm se mostrado ações possíveis
e necessárias para a melhoria da qualidade da educação nesta modalidade de ensino.
As estratégias didático-pedagógicas para EJA podem ser consideradas outro
marco do trabalho. Os educandos, muitas vezes, sejam eles jovens, adultos ou idosos
ainda esperam uma escola com metodologia tradicional, pois acreditam que é assim
que se aprende. Percebe-se isso quando os educandos falam sobre as aulas, a
paciência dos professores, a necessidade e a facilidade de se ter um material didático
para acompanhar os estudos.
Um currículo pré-definido para EJA não é algo desejável, já que se acredita
que ele deve ser construído coletivamente, mediado pelos saberes dos educandos e
prática dos professores. Nessa perspectiva, tem-se o desvelamento do desconhecido a
partir do que já é conhecido, em uma relação dialógica entre educadores e educandos.
Sendo assim, reorganizar currículos é lição de diálogo entre especialistas e
educandos, não é tarefa individual, mas coletiva, necessitando de um projeto político-
pedagógico para escola de EJA e de gestão democrática para colocá-lo em prática.
É preciso, então, reconhecer o direito à organização do atendimento a jovens,
adultos e idosos em tempos e espaços pedagógicos diferenciados, indo na contramão
dos velhos moldes do ensino supletivo, nos quais a educação era oferecida de forma
aligeirada e compensatória, independente das características dos educandos.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
A EJA em Rio Claro e o direito à educação... 54
Na mesma ótica, no que se refere ao acesso, é necessário também, como
apresenta o 4º item do Documento Base Nacional Preparatório há VI CONFINTEA:
Retomar por princípio o sujeito da ação educativa na EJA compreende
a necessidade de diversificar formas de entrada na educação básica,
não apenas no que se refere a romper com tempos determinados de
matrícula, mas garantir que a entrada e o retorno às classes de EJA
possam se dar ao longo de todo processo de andamento do projeto
pedagógico (2008, s./p.).
Ao mesmo tempo em que o acesso é importante a permanência do educando
nesse processo também o é, e isso é tarefa de todos os sujeitos envolvidos,
sustentados na ideia de que o conhecimento produzido na escola deve estar
relacionado à vida e ao cotidiano das pessoas. Para tanto, alguns desafios ainda
necessitam ser vencidos:
A formação de educadores preocupados com as especificidades e
diversidade da EJA;
O acesso e a permanência dos educandos na EJA;
A necessidade da intersetorialidade no atendimento da EJA;
O uso de estratégias didático-pedagógicas que busquem a construção de
um currículo de EJA voltado às reais necessidades desta modalidade de
ensino;
E o financiamento de políticas públicas para EJA.
Que cada um, em seu espaço de atuação, possa contribuir para a melhoria do
atendimento dessa modalidade de ensino em todas as escolas públicas brasileiras.
Lembrando que há um longo caminho a ser percorrido!
Referências bibliográficas
ARELARO, L. R. G; KRUPPA, S. M. P. A Educação de Jovens e Adultos. In:
OLIVEIRA, Romualdo P. de; ADRIÃO, Theresa (org). Organização do ensino
Brasil: níveis e modalidades na Constituição Federal e na LDB. São Paulo: Xamã,
2002. (Coleção legislação e política educacional; v. 2).
BEISIEGEL, C. de R. A política de educação de jovens e adultos analfabetos no Brasil.
In: OLIVEIRA, D.A. (org). Gestão democrática da educação. Petrópolis: Vozes,
1997.
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização
e Diversidade. Documento Base Nacional. Brasília: MEC, março de 2008.
BRASIL. Diagnóstico da Educação de Jovens e Adultos no Estado de São
Paulo. Encontro Estadual preparatório à VI CONFINTEA ocorrido em 14 e 15 de
março de 2008. Centro de Educação Municipal Adamastor. Guarulhos-SP.
BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação
Fundamental. A educação de jovens e adultos no Brasil, no contexto da
educação fundamental. Documento apresentado à UNESCO para a Conferência
Regional preparatória da V Conferência Internacional de Educação de Adultos.
Brasília: 1996-1997.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei 939496. Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Brasília: MEC, 1996.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
VELIS, V. A. V.; 55
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Diário Oficial da
República Federativa do Brasil, Brasília, 05/10/1988.
BRASIL. Emenda Constitucional n º 14, de 12/09/1996. Brasília: D.O.U, Seção
I, p.18.109, 13/09/1996.
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A EDUCAÇÃO DE ADULTOS (V
Confintea) (V: 1997: Hamburgo, Alemanha): Declaração de Hamburgo: agenda
para o futuro – Brasília: SESI/UNESCO, 1999.
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL SOBRE A EDUCAÇÃO DE ADULTOS (VI
CONFINTEA) (VI: 2009: Belém, Brasil): Marco de Belém – Brasília: UNESCO,
2009.
DIAS, R. Democracia Participativa em Rio Claro, Brasil. Programa de Géstion
Urbana. UM-HABITAT. VI. Série: Cuadernos de Trabajo. São Paulo. 2003.
DI PIERRO M. C.; HADDAD, S. Aprendizagem de Jovens e Adultos: avaliação da
década da educação para todos. São Paulo. Perspec., vol. 14, nº 1, jan/mar., 2000.
DUNN, W. Public policy analysis: an introduction. 2ª ed. Englewood Cliffs, N. J.
Prentice Hall, 1994.
HADDAD, S. Ensino supletivo no Brasil: o estado da arte. Brasília: INEP, Reduc,
1986.
JORNAL DO BRASIL. Rio de Janeiro, 12/12/1991.
LIMA, L. C. & GUIMARÃES, P. European Strategies for Lifelong Learning.
Opladen & Farmington Hills, MI: Barbara Budrich Publishers. 2011.
OLIVEIRA, D. A. Das Políticas de Governo à Política de Estado: reflexões sobre a
atual agenda educacional brasileira. Educação e Sociedade, Campinas, Centro de
Estudo Educação e Sociedade (CEDES), v. 32, n. 115, p. 323-337, abr.- jun. 2011.
PAIVA, V. P. Educação popular e educação de adultos: contribuição à história
da educação brasileira. São Paulo: Loyola, 1973.
RIO CLARO. Conferência da Cidade. Secretaria Municipal de Educação de Rio
Claro. Rio Claro. 2003.
RIO CLARO. Plano de Governo 1997-2000. Prefeitura Municipal de Rio Claro.
Rio Claro, 1997.
RIO CLARO. Plano Educacional 2001-2002. Secretaria Municipal de Educação
de Rio Claro. Rio Claro, 2001.
Recebido em: 29/09/2017.
Aprovado em: 14/12/2017.
Crítica Educativa (Sorocaba/SP), v. 3, n. 3, p. 42-55, ago./dez.2017 ISSN: 2447-422
Você também pode gostar
- Criança, práticas educativas e formação docenteNo EverandCriança, práticas educativas e formação docenteAinda não há avaliações
- Direito E RealidadeNo EverandDireito E RealidadeAinda não há avaliações
- A Trajetória Histórica Da Eja No Brasil e Suas Perspectivas NaDocumento3 páginasA Trajetória Histórica Da Eja No Brasil e Suas Perspectivas NaClaudiaFariaAinda não há avaliações
- ModelodeartigoMICCeIntegrador2023 Dee72809056a4b66a26cDocumento9 páginasModelodeartigoMICCeIntegrador2023 Dee72809056a4b66a26cDeuander MelloAinda não há avaliações
- Artigo História Da Educação Infantil Pós-LDB. Daiane Shirley TCC PRONTODocumento16 páginasArtigo História Da Educação Infantil Pós-LDB. Daiane Shirley TCC PRONTODaiane Shirley SoaresAinda não há avaliações
- Educação de jovens e adultos pescadores metodologia alternânciaDocumento12 páginasEducação de jovens e adultos pescadores metodologia alternânciaJussara Bernardes grotheAinda não há avaliações
- EJA Brasil: histórico, desafios e futuroDocumento41 páginasEJA Brasil: histórico, desafios e futuroAnáliaFernando NunesAinda não há avaliações
- Educação Jovens Adultos Brasil 1930-1980Documento24 páginasEducação Jovens Adultos Brasil 1930-1980Anna Clara VianaAinda não há avaliações
- 519-Texto Do Artigo-920-1-10-20190605Documento14 páginas519-Texto Do Artigo-920-1-10-20190605lurdes costaAinda não há avaliações
- Educação no Sistema PrisionalDocumento10 páginasEducação no Sistema PrisionalCamilinha GabrieleAinda não há avaliações
- EDUCAÇÃO PARA TODOS SOB A ÓTICA DA INCLUSÃO ESCOLAR Exigências e DiretrizesDocumento26 páginasEDUCAÇÃO PARA TODOS SOB A ÓTICA DA INCLUSÃO ESCOLAR Exigências e DiretrizesGislaine Fraga RibeiroAinda não há avaliações
- EJA como direito à diversidade e desafio para políticas públicasDocumento18 páginasEJA como direito à diversidade e desafio para políticas públicasNeide BarrosoAinda não há avaliações
- Um Breve Histórico Da Educação de Jovens e AdultosDocumento15 páginasUm Breve Histórico Da Educação de Jovens e AdultosKaila PricilaAinda não há avaliações
- Paper Semestre EJADocumento9 páginasPaper Semestre EJAMaria Beatriz Matos100% (1)
- Educação infantil: breve histórico da evolução no BrasilDocumento7 páginasEducação infantil: breve histórico da evolução no BrasilTiana LimaAinda não há avaliações
- D06-A Educacao de Jovens e Adultos No Seculo XXDocumento13 páginasD06-A Educacao de Jovens e Adultos No Seculo XXRaylaDiasAinda não há avaliações
- A história da EJA no Brasil e seus desafiosDocumento4 páginasA história da EJA no Brasil e seus desafiosGand FcastroAinda não há avaliações
- EJA Histórico AspectosDocumento17 páginasEJA Histórico AspectosMirian Carvalho100% (1)
- Educação de Jovens e AdultosDocumento21 páginasEducação de Jovens e AdultosQueila MonieslyAinda não há avaliações
- Finalidade e Objetivo Da Educação de Jovens e Adultos CEJADocumento4 páginasFinalidade e Objetivo Da Educação de Jovens e Adultos CEJAGeisonAraujo100% (1)
- Educação no Brasil: história, legislação e políticas públicasDocumento8 páginasEducação no Brasil: história, legislação e políticas públicasGlória ElenaAinda não há avaliações
- Cadernos Cedes - Visões Da Educação de Jovens e AdultosDocumento20 páginasCadernos Cedes - Visões Da Educação de Jovens e AdultoseveraldocostaAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre As Politicas Educacionais Voltadas para Todos Aqueles Que Nao Tiveram Acesso A Educacao Na Idade PropriaDocumento12 páginasReflexoes Sobre As Politicas Educacionais Voltadas para Todos Aqueles Que Nao Tiveram Acesso A Educacao Na Idade PropriaAlves Fla CanionAinda não há avaliações
- Portfólio Educação de Jovens e AdultosDocumento11 páginasPortfólio Educação de Jovens e AdultosFilipe MoreiraAinda não há avaliações
- Capítulo - Novos Caminhos em Educação de Jovens e Adultos - EJADocumento30 páginasCapítulo - Novos Caminhos em Educação de Jovens e Adultos - EJAmelsmoeiraAinda não há avaliações
- Educação de Jovens e AdultosDocumento31 páginasEducação de Jovens e AdultosCaroline GraeffAinda não há avaliações
- Educação integral no Brasil: dos planos à incertezaDocumento24 páginasEducação integral no Brasil: dos planos à incertezaJoão BatistaAinda não há avaliações
- O Direito e A Educação para A DiversidadeDocumento20 páginasO Direito e A Educação para A DiversidadeKaren PereiraAinda não há avaliações
- Considerações Sobre A Alfabetização de Jovens e AdultosDocumento4 páginasConsiderações Sobre A Alfabetização de Jovens e AdultosAmandaPortoAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento13 páginasArtigoClaudia Cabral50% (2)
- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - Processo Histórico, Político e ConceitualDocumento18 páginasEDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - Processo Histórico, Político e ConceitualRodrigo CavallarinAinda não há avaliações
- História da EJA e sua importância na educação brasileiraDocumento11 páginasHistória da EJA e sua importância na educação brasileiraraulAinda não há avaliações
- Políticas Públicas para Educação InfantilDocumento11 páginasPolíticas Públicas para Educação InfantiljuajasAinda não há avaliações
- 1101 3748 1 PBDocumento10 páginas1101 3748 1 PBEduAinda não há avaliações
- SÍNTESEDocumento5 páginasSÍNTESEKaio GermanoAinda não há avaliações
- Educação de Jovens e Adultos (EJA)Documento13 páginasEducação de Jovens e Adultos (EJA)Anna Paulap Pereira100% (1)
- Educação de Jovens e AdultosDocumento10 páginasEducação de Jovens e AdultosBarroso NetoAinda não há avaliações
- Resenha Critica Da Discplina POLÍTICA PÚBLICA E EDUCACIONALDocumento4 páginasResenha Critica Da Discplina POLÍTICA PÚBLICA E EDUCACIONALJoão AnaniasAinda não há avaliações
- Soluções para a alfabetização de jovens e adultosDocumento8 páginasSoluções para a alfabetização de jovens e adultosCristiano SantosAinda não há avaliações
- Educação de Jovens e Adultos no Brasil: evolução histórica e legislaçãoDocumento14 páginasEducação de Jovens e Adultos no Brasil: evolução histórica e legislaçãoPaulo C R AraujoAinda não há avaliações
- Contexto histórico, econômico e sociocultural dos sujeitos da EJADocumento10 páginasContexto histórico, econômico e sociocultural dos sujeitos da EJAPaulo Mairead Pereira86% (7)
- Educação de Jovens e Adultos: evolução histórica e desafios atuaisDocumento9 páginasEducação de Jovens e Adultos: evolução histórica e desafios atuaisJessica TrentoAinda não há avaliações
- EJA-Formação-HistóriaDocumento15 páginasEJA-Formação-HistóriaKatia SantosAinda não há avaliações
- Pre Projeto - Desafios Da EducaçãoDocumento8 páginasPre Projeto - Desafios Da EducaçãoLeonardo AvelinoAinda não há avaliações
- O direito e a educação para a diversidadeDocumento9 páginasO direito e a educação para a diversidadeguhhmastrantonioAinda não há avaliações
- Politicas Educacionais IDocumento7 páginasPoliticas Educacionais IEmerson MouraAinda não há avaliações
- Galoa Proceedings Cbee6 30050Documento17 páginasGaloa Proceedings Cbee6 30050Sumika Freitas Hernandez PilotoAinda não há avaliações
- Pti Segundo Semestre Pedagogia UnoparDocumento11 páginasPti Segundo Semestre Pedagogia UnoparSimone SantosAinda não há avaliações
- 1 Portifólio EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS UNOPAR 2019Documento9 páginas1 Portifólio EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS UNOPAR 2019Perliane MouraAinda não há avaliações
- 1441-Texto Do Artigo-4316-1-10-20211212Documento14 páginas1441-Texto Do Artigo-4316-1-10-20211212Roger VerasAinda não há avaliações
- A Agenda Neoliberal e Os Sujeitos Da EJA. Um Olhar para As Políticas de Jovens e Adultos No Estado de São Paulo (1995-2018) - L. A. SOUZADocumento14 páginasA Agenda Neoliberal e Os Sujeitos Da EJA. Um Olhar para As Políticas de Jovens e Adultos No Estado de São Paulo (1995-2018) - L. A. SOUZALUCAS ANDRADE DE SOUZAAinda não há avaliações
- Desafios Da Educação Infantil: Capacitação e Formação Continuada em ServiçoDocumento12 páginasDesafios Da Educação Infantil: Capacitação e Formação Continuada em ServiçoLuciene FrancelinoAinda não há avaliações
- Direitos das crianças e Educação Infantil no MaranhãoDocumento31 páginasDireitos das crianças e Educação Infantil no MaranhãoTerezinha BritoAinda não há avaliações
- Etapa Da Educação Infantil: Documento Curricular Do Território MaranhenseDocumento29 páginasEtapa Da Educação Infantil: Documento Curricular Do Território MaranhensekeniaAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Edu - Estágio Supervisionado IV - 52-2023Documento9 páginasAtividade 1 - Edu - Estágio Supervisionado IV - 52-2023Cavalini Assessoria AcadêmicaAinda não há avaliações
- A Função Social Da Escola Na Educao de Jovens e Adultosvier UytdenbroekDocumento26 páginasA Função Social Da Escola Na Educao de Jovens e Adultosvier Uytdenbroekanna100% (1)
- A importância de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos no BrasilDocumento11 páginasA importância de Paulo Freire para a Educação de Jovens e Adultos no BrasilTainan de SouzaAinda não há avaliações
- Atividade 2 - Políticas Educacionais e Organização Da Educação Básica - 51-2024Documento9 páginasAtividade 2 - Políticas Educacionais e Organização Da Educação Básica - 51-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- Educação Jovens Adultos Brasil HistóricoDocumento15 páginasEducação Jovens Adultos Brasil HistóricoThiago SáAinda não há avaliações
- Bullying escolar: suas manifestações e enfrentamentos nas escolas estaduais de Tabatinga-AMNo EverandBullying escolar: suas manifestações e enfrentamentos nas escolas estaduais de Tabatinga-AMAinda não há avaliações
- Organização Didática - 2017Documento60 páginasOrganização Didática - 2017antonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Regulamentação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio IntegradoDocumento12 páginasRegulamentação da Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integradoantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Gramsci e o Debate Sobre A Escola Pública No BrasilDocumento24 páginasGramsci e o Debate Sobre A Escola Pública No BrasilAna KeliAinda não há avaliações
- J.l.emi e o Conceito de Escola Unitária em GramsciDocumento9 páginasJ.l.emi e o Conceito de Escola Unitária em Gramsciantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Livro - Desafios Do Trabalho e Educação No Século XXIDocumento230 páginasLivro - Desafios Do Trabalho e Educação No Século XXIantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- RAMOS, Marise. Curriculo IntegradoDocumento26 páginasRAMOS, Marise. Curriculo IntegradoRenan SperandioAinda não há avaliações
- Livro - Ler Gramisci para Pensar A Política e A EducaçãoDocumento324 páginasLivro - Ler Gramisci para Pensar A Política e A Educaçãoantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Organização Acadêmica - 2020Documento62 páginasOrganização Acadêmica - 2020antonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Schlesener 9788577982110Documento263 páginasSchlesener 9788577982110José HenriqueAinda não há avaliações
- J.l.ensino Médio - em Busca Do Princípio Pedagógico - NOSELLA, PaoloDocumento16 páginasJ.l.ensino Médio - em Busca Do Princípio Pedagógico - NOSELLA, Paoloantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Antônio GramsciDocumento154 páginasAntônio GramsciDaiani Damm Tonetto Riedner100% (4)
- Avanços e Desafios Na Implantação Do EMIDocumento16 páginasAvanços e Desafios Na Implantação Do EMIantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- 10 anos ensino médio integrado: desafios políticas públicasDocumento3 páginas10 anos ensino médio integrado: desafios políticas públicasantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- J.l.novo Neoliberalismo Acadêmico e o Ensino Superior No Brasil - EXCELENTEDocumento30 páginasJ.l.novo Neoliberalismo Acadêmico e o Ensino Superior No Brasil - EXCELENTEantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- A Implementação Dos Cursos Técnicos Integrados No IFPADocumento18 páginasA Implementação Dos Cursos Técnicos Integrados No IFPAantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- NEWMAN e CLARKE. GerencialismoDocumento29 páginasNEWMAN e CLARKE. GerencialismomundobrAinda não há avaliações
- A Política de EMI Como Garantia Do Direito À Educação Da JuventudeDocumento26 páginasA Política de EMI Como Garantia Do Direito À Educação Da Juventudeantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- A Formação Do Cidadão ProdutivoDocumento372 páginasA Formação Do Cidadão ProdutivoMaria Cristina Giorgi100% (2)
- Escola Unitária em Gramsci e A Educação ProfissionalDocumento21 páginasEscola Unitária em Gramsci e A Educação Profissionalantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento20 páginas1 PB PDFRafael Cardozo FigueredoAinda não há avaliações
- Poli 76 WebDocumento36 páginasPoli 76 Webantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- A concepção de educação e escola em GramsciDocumento21 páginasA concepção de educação e escola em Gramsciantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Diretrizes para o Fortalecimento Da EPT Na RFEPCTDocumento17 páginasDiretrizes para o Fortalecimento Da EPT Na RFEPCTantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Manifesto Do GT09 Contra DCNEPT Jan 2021-1 FINALDocumento9 páginasManifesto Do GT09 Contra DCNEPT Jan 2021-1 FINALantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Antônio GramsciDocumento154 páginasAntônio GramsciDaiani Damm Tonetto Riedner100% (4)
- BNCC - Dilemas e Perspectivas - 2018Documento10 páginasBNCC - Dilemas e Perspectivas - 2018antonio_uchoa1697100% (2)
- Manifesto Do GT09 Contra DCNEPT Jan 2021-1 FINALDocumento9 páginasManifesto Do GT09 Contra DCNEPT Jan 2021-1 FINALantonio_uchoa1697Ainda não há avaliações
- Schlesener 9788577982110Documento263 páginasSchlesener 9788577982110José HenriqueAinda não há avaliações
- O Domínio Da Língua Castelhana Sobre o Grarani Paraguaio PDFDocumento4 páginasO Domínio Da Língua Castelhana Sobre o Grarani Paraguaio PDFVictor de Souza0% (1)
- O que é Ontologia e sua importância no DireitoDocumento8 páginasO que é Ontologia e sua importância no DireitoErika Valeria MorenoAinda não há avaliações
- Nicodemos Araújo - Cronologia de Bela Cruz (1990)Documento143 páginasNicodemos Araújo - Cronologia de Bela Cruz (1990)Rosi FreitasAinda não há avaliações
- Controle de Pragas MIP-CI-CQDocumento1 páginaControle de Pragas MIP-CI-CQKalil R. LeiteAinda não há avaliações
- Atividade de português sobre sinônimos, antônimos e uso de porquêsDocumento3 páginasAtividade de português sobre sinônimos, antônimos e uso de porquêsshandler goncalvesAinda não há avaliações
- Tese Juliana Silva SantosDocumento291 páginasTese Juliana Silva SantosTony SalesAinda não há avaliações
- JP IdenirDocumento1 páginaJP Idenirdebora oliveiraAinda não há avaliações
- Resultados Da 7 Jornada Do Campeonato Distrital Da AF Évora em FutsalDocumento3 páginasResultados Da 7 Jornada Do Campeonato Distrital Da AF Évora em FutsalalentejosporAinda não há avaliações
- Arqueoastronomia BrasileiraDocumento15 páginasArqueoastronomia BrasileiraHelaine Barroso Dos ReisAinda não há avaliações
- 7 Pecados Da SeduçãoDocumento18 páginas7 Pecados Da SeduçãoAnthony Lucas100% (1)
- Análise da produção de leite na Fazenda XandoqueDocumento4 páginasAnálise da produção de leite na Fazenda XandoqueIsis PrizonAinda não há avaliações
- Atividades escolares de Matemática e Língua PortuguesaDocumento39 páginasAtividades escolares de Matemática e Língua PortuguesaCaroline BritoAinda não há avaliações
- Pesquisa de Clima OrganizacionalDocumento4 páginasPesquisa de Clima OrganizacionalPriscillaFabiani100% (1)
- A formação do leitor e o papel do professorDocumento6 páginasA formação do leitor e o papel do professorSamuel CostaAinda não há avaliações
- Trecho Do Livro Historia Do Brasil de Boris FaustoDocumento1 páginaTrecho Do Livro Historia Do Brasil de Boris FaustoRenato Gonçalves dos SantosAinda não há avaliações
- Resumo Obra Sexta FeiraDocumento3 páginasResumo Obra Sexta FeiraFilipa BatistaAinda não há avaliações
- História e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930Documento259 páginasHistória e música de SP: Banda da Força Pública 1890-1930eliezer da silva nascimentoAinda não há avaliações
- CalendariosDocumento4 páginasCalendariosAndrea Natali OlianiAinda não há avaliações
- PatImaDiv RemandoCamposFlorestas M PDFDocumento88 páginasPatImaDiv RemandoCamposFlorestas M PDFLeonardo NappAinda não há avaliações
- Apostila de Olericultura IDocumento101 páginasApostila de Olericultura IRoberto NascimentoAinda não há avaliações
- Aula 1 - Os Santos Que Construíram o OcidenteDocumento9 páginasAula 1 - Os Santos Que Construíram o OcidenteGamer Gui Varzea PaulistaAinda não há avaliações
- As organizações vistas como máquinasDocumento5 páginasAs organizações vistas como máquinascassiAinda não há avaliações
- 3º Ano - Ciências (4 Semana)Documento4 páginas3º Ano - Ciências (4 Semana)Jeane Silva100% (1)
- A Diferença Entre A Bíblia Católica e A ProtestanteDocumento2 páginasA Diferença Entre A Bíblia Católica e A ProtestanteJanaina GentilAinda não há avaliações
- Iptu - Hilario Marco 2024Documento1 páginaIptu - Hilario Marco 2024fabioanascimento.argentinaAinda não há avaliações
- Inaugurada A Estrada de Marrere Na Cidade de Nampula - Wamphula FaxDocumento7 páginasInaugurada A Estrada de Marrere Na Cidade de Nampula - Wamphula FaxAtumane momade BraimoAinda não há avaliações
- Ai! Que Saudades Da Amélia - BB PDFDocumento2 páginasAi! Que Saudades Da Amélia - BB PDFPablo PáduaAinda não há avaliações
- Recibo de pagamento de boletoDocumento1 páginaRecibo de pagamento de boletoDaniel RibeiroAinda não há avaliações
- Gestão de empresas e estratégias de mercadoDocumento6 páginasGestão de empresas e estratégias de mercadoRenda ExtraAinda não há avaliações
- Paulo No Caminho de Damasco PDFDocumento297 páginasPaulo No Caminho de Damasco PDFIsteferson Rosa de Melo100% (2)