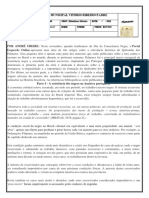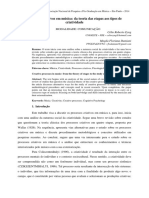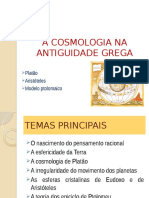Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fichamento-Em Defesa Da Revolução Africana
Enviado por
Guilherme StuhrDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fichamento-Em Defesa Da Revolução Africana
Enviado por
Guilherme StuhrDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FICHAMENTO – EM DEFESA DA REVOLUÇÃO AFRICANA
FANON, Frantz. Em defesa da revolução africana. Lisboa: Livraria Sá da Costa Editora, 1980, cap.2, p.21-31.
ANTILHANOS E AFRICANOS (p. 21)
Fanon reflete sobre a oposição entre Antilhanos e Africanos e a entidade que é o povo
negro. Isso, já que reiterar a existência de um “povo negro” é algo um tanto quanto questionável,
visto que não existe nada a priori que suponha a existência de um povo negro. Povo africano, povo
antilhano, são exemplos de grupos que possuem antecedentes sistemáticos que sustentam sua
existência, diferente do povo negro. “Que seria o ‘’povo branco’? Não é, pois, evidente que só pode
haver uma raça branca?”, o mesmo se aplica à raça negra: excluídas as influências culturais, nada
mais fica. (p. 22)
O autor volta a sua atenção à Martinica, onde as posições raciais tenazes são raras. A
questão racial é sobrepujada pela luta de classes, na qual um negro operário pode muito bem ir
contra um negro burguês. Ele explora a história das Antilhas em dois períodos: o antes e o depois da
guerra de 1939 a 1945.
ANTES DA GUERRA (p. 23)
No período anterior à segunda guerra, os Antilhanos atribuíam uma série de clichês à
cultura africana: bruxos, feiticeiros, tantã, bonomia, fidelidade, respeito pelo branco, atraso…
Através desses preconceitos estabelecia-se o sentimento de superioridade do povo antilhano ao
povo da África, assim como uma diferença fundamental: o africano era negro, o antilhano era um
europeu. Essa diferença era evidenciada, por exemplo, no alistamento no exército colonial que
mandava antilhanos para servir em unidades europeias enquanto africanos (com exceção daqueles
nascidos nos cinco territórios) eram mandados para servir em unidades indígenas. (p. 24)
O Antilhano era assimilado ao metropolitano. Além disso, “digamos que, não satisfeito
com ser superior ao Africano, o Antilhano desprezava-o, e se o branco podia permitir-se certas
liberdades com o indígena, o Antilhano, esse, não o podia de modo nenhum”. Quando um Antilhano
se apresentava em uma sociedade bordelesa ou parisiense, logo se adiantava: “originário da
Martinica”. O Africano, seria, portanto, o verdadeiro representante real da raça negra. “Quando um
patrão exigia esforço demasiado pesado a um martiniquenho, obtinha como resposta: ‘se quer um
negro, vá buscá-lo à África’, querendo dizer com isso que os escravos e os forçados se recrutavam
noutro lugar. Lá, no país dos negros”. Ou seja, em 1939 não se havia uma reivindicação
espontânea de negritude por parte dos antilhanos. (p. 25)
Em seguida, três acontecimentos principais são essenciais para o decorrer da narrativa dos
antilhanos. O primeiro é a chegada de Aimé Césaire, um professor liceu martiniquenho, homem
socialmente digno, que proclamava que “é belo e bom ser negro”. Claramente, foi um escândalo
um homem instruído e diplomado contestar anos de verdade branca, tanto que nem os mulatos nem
os negros compreenderam a afirmação de Césaire. Resultado: rotulado de louco por muitos. (p. 26)
Daí, o terceiro acontecimento: as manifestações da Libertação. Elas foram responsáveis
pelo nascimento sistematizado do proletariado na Martinica e nas Antilhas. A primeira
experiência metafísica da Martinica, portanto, culminou na sua primeira experiência política, e o
proletariado martiniquenho, dizia Comte, é um negro sistematizado.
DEPOIS DA GUERRA (p. 29)
Se em 1939 o Antilhano forçava seu olhar à Europa e negava ser negro a fim de evadir
sua cor, em 1945, tem-se o contrário: o antilhano volta seu olhar à África, e afirma-se negro a fim
de valorizar a sua cor. Da mesma forma, os antilhanos que antes renegavam sua ligação com a
África, agora a ela recorriam a fim de celebrar a sua origem, de “alimentar-se nas verdadeiras tetas
da terra africana”. A aceitação dos africanos, claro, não foi imediata. Rejeitavam-nos dizendo que
eles não haviam penado, sofrido e lutado na terra africana. “Os antilhanos tinham dito não ao
branco, o africano dizia não ao antilhano”. Acontece a sua segunda experiência metafísica: o
antilhano não era branco nem negro. Afinal, em 1939, na Martinica, ser negro era algo
completamente de ser negro na África, onde a discriminação era real e a realidade era desumana.
Descobrem-se, pois, filhos de escravos transplantados, forçados a serem brancos. “Parece, pois, que
o Antilhano está, após o grande erro branco, em vias de viver na grande miragem negra”. (p. 30 –
31)
IMPRESSÕES PESSOAIS
Trata-se de um texto extremamente relevante para se entender o que é a entidade do “povo
negro” e sobre as suas características. O complexo do povo antilhano em relação à sua identidade e à
sua cor reflete uma série de questões muito interessantes. Uma delas é a narrativa da superioridade
do homem branco e como ela afetou a própria consciência dos antilhanos. O distanciamento à África
que os habitantes das Antilhas tanto defendiam era uma tentativa, como Fanon reforça, de evadir a
sua cor e, consequentemente, aproximar-se do branco, do europeu, do metropolitano. Isso apenas
demonstra a gigantesca pressão da verdade branca sob diferentes culturas, em especial, a africana.
Outro ponto muito interessante é a experiência metafísica que os antilhanos passam com a
chegada dos dez mil militares racistas. Isso, porque a realidade do preconceito racial ainda era
relativamente distante da Martinica, permitindo uma integração maior dos negros à vida social do
lugar, assim como a limitação do racismo a certas anedotas. Quando os martiniquenhos passam pela
primeira vez uma opressão verdadeiramente racista, desperta-se a unidade necessária para que
acontecesse a introspecção da concepção do negro nas Antilhas e seu povo. Experiência metafísica,
essa, essencial para a futura experiência política, tão importante para a história martiniquenha.
Guilherme Stuhr dos Santos Lopes
Você também pode gostar
- Os Afro CubanosDocumento23 páginasOs Afro CubanosRafael CasaisAinda não há avaliações
- 3 - Vanessa Teixeira - Ecos Do Movimento Da Negritude Nas LalpDocumento11 páginas3 - Vanessa Teixeira - Ecos Do Movimento Da Negritude Nas LalpCarlos Fradique MendesAinda não há avaliações
- A História Contemporânea de África É o Pan - AfricanismoDocumento9 páginasA História Contemporânea de África É o Pan - AfricanismoNazildo SouzaAinda não há avaliações
- Da Barbárie Colonial À Política Nazista - Rosa Amelia Plummelle-UribeDocumento13 páginasDa Barbárie Colonial À Política Nazista - Rosa Amelia Plummelle-UribeOdaly Cristina AntônioAinda não há avaliações
- Guimaraes A Modernidade Negra No Brasil, Eua e FrancaDocumento60 páginasGuimaraes A Modernidade Negra No Brasil, Eua e FrancaDilman Michaque Gabriel MutisseAinda não há avaliações
- Trabalhoafricap 2Documento5 páginasTrabalhoafricap 2Gabriel MachadoAinda não há avaliações
- Amzat Boukari-Yabara - ''A História Contemporânea Da África É A História Do Pan-Africanismo''...Documento10 páginasAmzat Boukari-Yabara - ''A História Contemporânea Da África É A História Do Pan-Africanismo''...Nicole MachadoAinda não há avaliações
- Zumbi Dos Palmares: o Espártaco Negro BrasileiroDocumento24 páginasZumbi Dos Palmares: o Espártaco Negro BrasileiroRui Costa PimentaAinda não há avaliações
- A Invasao Das Suas Terras... Trabalho 3.Documento14 páginasA Invasao Das Suas Terras... Trabalho 3.rafa chechuAinda não há avaliações
- Isabel Castro Henriques - DE ESCRAVOS A INDÍGENAS - O Longo Processo de Instrumentalização Dos AfricanosDocumento384 páginasIsabel Castro Henriques - DE ESCRAVOS A INDÍGENAS - O Longo Processo de Instrumentalização Dos AfricanosThaíseSantanaAinda não há avaliações
- I Tomo Parte 2 Perseguicao A Populacao e Ao Movimento NegrosDocumento207 páginasI Tomo Parte 2 Perseguicao A Populacao e Ao Movimento NegrosRose Mara KielelaAinda não há avaliações
- Resenha de Palmares 02 PDFDocumento7 páginasResenha de Palmares 02 PDFAlana DrapcynskiAinda não há avaliações
- As Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilDocumento11 páginasAs Consequências Da Escravidão Na História Do Negro No BrasilLuana FontesAinda não há avaliações
- Jacqueline Santos e Isadora Vivacqua - Lentes de Resistência Olhares de Intelectuais Negros Sobre Iniciativas Africanas Nos Séculos XIX e XXDocumento22 páginasJacqueline Santos e Isadora Vivacqua - Lentes de Resistência Olhares de Intelectuais Negros Sobre Iniciativas Africanas Nos Séculos XIX e XXisadora vivacquaAinda não há avaliações
- A África e Os Estudos AfricanosDocumento4 páginasA África e Os Estudos AfricanosDavid AlvesAinda não há avaliações
- Kabengele Munanga - NegritudeDocumento9 páginasKabengele Munanga - NegritudeCarlos Fradique MendesAinda não há avaliações
- Consciência NegraDocumento5 páginasConsciência NegraVITÓRIO RIBEIROAinda não há avaliações
- LEITE, Maria Jorge Dos Santos. Tráfico Atlântico, Escravidão e Resistência No Brasil.Documento19 páginasLEITE, Maria Jorge Dos Santos. Tráfico Atlântico, Escravidão e Resistência No Brasil.Wellen BarthAinda não há avaliações
- A Luta de Libertacao Nacional Na AfricaDocumento17 páginasA Luta de Libertacao Nacional Na AfricaPowerGuido69Ainda não há avaliações
- História Da África e Abordagens Historiográficas: Leituras Comparativas e EpistemológicasDocumento12 páginasHistória Da África e Abordagens Historiográficas: Leituras Comparativas e EpistemológicasAgeu Degar OliveiraAinda não há avaliações
- Fichamento Abdias Do NascimentoDocumento3 páginasFichamento Abdias Do NascimentoMarianna Gabrielli AlvesAinda não há avaliações
- Imperialismo Textos 1Documento2 páginasImperialismo Textos 1Paulo Cesar CastroAinda não há avaliações
- Artigo - Sobre A Pele NegraDocumento5 páginasArtigo - Sobre A Pele NegraRichard SantosAinda não há avaliações
- Resistencia Africa Contra A Dominacao EuropeiaDocumento6 páginasResistencia Africa Contra A Dominacao EuropeiaMichael Da Rosa Mulima100% (1)
- Luxo e Riqueza Das 'Sinhás Pretas' Precisam Inspirar o Movimento Negro - 29 - 09 - 2021 - Leandro Narloch - FolhaDocumento4 páginasLuxo e Riqueza Das 'Sinhás Pretas' Precisam Inspirar o Movimento Negro - 29 - 09 - 2021 - Leandro Narloch - Folharobson_rjsAinda não há avaliações
- Guerra em AngolaDocumento5 páginasGuerra em AngolaNicolau A. DomingosAinda não há avaliações
- A QUESTÃO NEGRA Na Quarta Internacional - Daniel Vitor de CastroDocumento22 páginasA QUESTÃO NEGRA Na Quarta Internacional - Daniel Vitor de CastroLeonardo Amatuzzi100% (2)
- A Ideia de Nação em África: Etnia Ou Estado Moderno?Documento13 páginasA Ideia de Nação em África: Etnia Ou Estado Moderno?João Lucas FrançaAinda não há avaliações
- Ad1 Lit Africanas LyviaDocumento2 páginasAd1 Lit Africanas LyviaLyviaWetterlingAinda não há avaliações
- A Luta Dos Negros No Brasil PDFDocumento3 páginasA Luta Dos Negros No Brasil PDFb4t3dor100% (1)
- Revoltas Escravas No BrasilDocumento14 páginasRevoltas Escravas No BrasilAlana DrapcynskiAinda não há avaliações
- A Modernidade NegraDocumento21 páginasA Modernidade NegraAmanda ZarosAinda não há avaliações
- Pan AfricanDocumento5 páginasPan AfricanAniceto Rosario Joaquim JoaquimAinda não há avaliações
- Slides Primeiras AulasDocumento46 páginasSlides Primeiras Aulasoliveira.costaAinda não há avaliações
- HISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO Aula 1Documento17 páginasHISTÓRIA INDÍGENA E DO INDIGENISMO Aula 1ANNA COELHOAinda não há avaliações
- MUNANGA, Kabenguele - Pan-Africanismo, Negritude e Teatro Experimental Do NegroDocumento14 páginasMUNANGA, Kabenguele - Pan-Africanismo, Negritude e Teatro Experimental Do NegromarcellmachadoAinda não há avaliações
- Trab AfricaDocumento53 páginasTrab AfricaDani M MoreiraAinda não há avaliações
- NegritudeDocumento4 páginasNegritudePaulo Braga Zacarias100% (2)
- 54051-Texto Do Artigo-67989-1-10-20130424Documento12 páginas54051-Texto Do Artigo-67989-1-10-20130424Jefferson LucioAinda não há avaliações
- Trabalho de SociologiaDocumento10 páginasTrabalho de Sociologiamariaclaracunhasilva76Ainda não há avaliações
- Movimento perpétuo - Histórias da Migração PortuguesaNo EverandMovimento perpétuo - Histórias da Migração PortuguesaAinda não há avaliações
- 11 - Nacionalismos Africano e AsiaticoDocumento4 páginas11 - Nacionalismos Africano e AsiaticoJosé Carlos S MachadoAinda não há avaliações
- Negro Sou Negro Permanecerei - Aimé CesaireDocumento29 páginasNegro Sou Negro Permanecerei - Aimé CesaireMenelik KiluanjiAinda não há avaliações
- Introdução Elisa LarkinDocumento6 páginasIntrodução Elisa LarkinRafael MarquesAinda não há avaliações
- Resenha Crítica Do Texto Colonização, Miscigenação e Questão Racial.Documento3 páginasResenha Crítica Do Texto Colonização, Miscigenação e Questão Racial.Matheus OtsuguaAinda não há avaliações
- Os Condenados Da TerraDocumento3 páginasOs Condenados Da Terrajuliana vivanAinda não há avaliações
- Antropologia Da ReligiãoDocumento17 páginasAntropologia Da ReligiãoDimitri Diniz da CostaAinda não há avaliações
- África No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoDocumento19 páginasÁfrica No Quadrinho, Nos Cinemas e Nos Jornais. Ivaldo MarcianoAlissonAinda não há avaliações
- Danilo Fonseca - Colonialismo, Independência e Revolução em Frantz FanonDocumento19 páginasDanilo Fonseca - Colonialismo, Independência e Revolução em Frantz FanonMateus ZangaliAinda não há avaliações
- 9ºano AEXPANSÃODOMOVIMENTOPAN AFRICANISTADocumento3 páginas9ºano AEXPANSÃODOMOVIMENTOPAN AFRICANISTAJose Fernandes PaixaoAinda não há avaliações
- Texto Literatura AfricanaDocumento10 páginasTexto Literatura AfricanaAna Claudia MafraAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento8 páginasIntroduçãorms titanicAinda não há avaliações
- Cultura Negra - Volume 1 - Sumário e ApresentaçãoDocumento10 páginasCultura Negra - Volume 1 - Sumário e ApresentaçãoMartinho GuedesAinda não há avaliações
- Emancipação AfricanaDocumento9 páginasEmancipação AfricanaLucas SilvaAinda não há avaliações
- Movimento NegroDocumento25 páginasMovimento NegroAiruan CarvalhoAinda não há avaliações
- 1664 6491 1 PBDocumento14 páginas1664 6491 1 PBLucas TrindadeAinda não há avaliações
- TeoricoDocumento28 páginasTeoricomgshecAinda não há avaliações
- Corpo Do Trabalho FilosofiaDocumento8 páginasCorpo Do Trabalho FilosofiaWaldemar OrelvisAinda não há avaliações
- Leituras Afro-brasileiras (v. 3): Reconstruindo Memórias Afrodiaspóricas entre o Brasil e o AtlânticoNo EverandLeituras Afro-brasileiras (v. 3): Reconstruindo Memórias Afrodiaspóricas entre o Brasil e o AtlânticoAinda não há avaliações
- Metodologia Da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas MARTINSDocumento12 páginasMetodologia Da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas MARTINSJoséLuiz80% (5)
- A Evolução Do Pensamento Filosófico 4 PDFDocumento10 páginasA Evolução Do Pensamento Filosófico 4 PDFAndre GavaAinda não há avaliações
- Livro. Literatura Traduzida e Literatura Nacional PDFDocumento208 páginasLivro. Literatura Traduzida e Literatura Nacional PDFMiguelito DiezAinda não há avaliações
- Antropologia, Epistemologia e AxiologiaDocumento3 páginasAntropologia, Epistemologia e AxiologiaEtieneAndersonLeiteAinda não há avaliações
- A Escuta e o Silencio de Will GoyaDocumento235 páginasA Escuta e o Silencio de Will GoyaHudson Augusto50% (2)
- Construindo Uma Sociedade para Todos Livro Sassaki 1Documento11 páginasConstruindo Uma Sociedade para Todos Livro Sassaki 1zoyacrisAinda não há avaliações
- Processos Criativos em MúsicaDocumento8 páginasProcessos Criativos em MúsicaPauloBarraAinda não há avaliações
- Lapoujade Existencias - Pesquisa GoogleDocumento9 páginasLapoujade Existencias - Pesquisa GoogleMatheus SenaAinda não há avaliações
- Haslley Comendo o Cu Do PortoDocumento36 páginasHaslley Comendo o Cu Do PortoDaniel Miorim de Morais100% (1)
- Transição em Enfermagem Relatório PDFDocumento19 páginasTransição em Enfermagem Relatório PDFElizangela Dias Sousa Antunes100% (1)
- Ciencias Cognitivas y La NeuroéticaDocumento8 páginasCiencias Cognitivas y La NeuroéticaIliana GarcíaAinda não há avaliações
- 8 - o Belo em SchopenhauerDocumento11 páginas8 - o Belo em SchopenhauermagaluAinda não há avaliações
- Feijoo Sit Clinicas Solidao Identidade FemininaDocumento15 páginasFeijoo Sit Clinicas Solidao Identidade FemininaCyntia Regina Oliveira Yamauchi67% (3)
- Resumo Dos Capítulos 1 e 2 Do Livro Didática Das Ciências NaturaisDocumento12 páginasResumo Dos Capítulos 1 e 2 Do Livro Didática Das Ciências NaturaisKimura100% (7)
- Dossiê SchopenhauerDocumento109 páginasDossiê SchopenhauerBrunu Bruci100% (1)
- 14061-Article Text-44686-1-10-20210301Documento23 páginas14061-Article Text-44686-1-10-20210301Ìmani dos SanttósAinda não há avaliações
- Resenha Existencialismo É Um HumanismoDocumento4 páginasResenha Existencialismo É Um HumanismoAndré Ricardo Pontes100% (1)
- Sousa Et Al (2007) - Revisão Dos Desenhos de Pesquisa Relevantes para Enfermagem. Parte 1 - Desenhos de Pesquisa QuantitativaDocumento6 páginasSousa Et Al (2007) - Revisão Dos Desenhos de Pesquisa Relevantes para Enfermagem. Parte 1 - Desenhos de Pesquisa QuantitativapaschwingelAinda não há avaliações
- Filosofia e Felicidade FELIPEDocumento9 páginasFilosofia e Felicidade FELIPEAna Paula Ferreira de SouzaAinda não há avaliações
- Os Mitos Do Tempo, Do Ego e Das LeisDocumento215 páginasOs Mitos Do Tempo, Do Ego e Das Leisantonio100% (2)
- A Cosmologia Da Antiguidade GregaDocumento37 páginasA Cosmologia Da Antiguidade GregaJosé Aristides S. GamitoAinda não há avaliações
- Notas Sobre Intercessores Importante PDFDocumento14 páginasNotas Sobre Intercessores Importante PDFLeandro Gorsdorf100% (1)
- Trabalho Final de Filosofia Da Técnica - Técnica e Tempo, Uma Leitura de Bernard StieglerDocumento21 páginasTrabalho Final de Filosofia Da Técnica - Técnica e Tempo, Uma Leitura de Bernard StieglerRafael Antonio BlancoAinda não há avaliações
- PsicopatologiaDocumento66 páginasPsicopatologiaGabriel Messias100% (2)
- Poemas Completos de Alberto Caeiro - ComentárioDocumento11 páginasPoemas Completos de Alberto Caeiro - ComentárioBeatriz IsadoraAinda não há avaliações
- Homem Objeto Ou SujeitoDocumento11 páginasHomem Objeto Ou SujeitoBárbara TascaAinda não há avaliações
- TCC Pós FinalDocumento15 páginasTCC Pós FinalMaria ClaraAinda não há avaliações
- Texto 3 - 2016. HUTZ. Cap 3 O Processo PsicodiagnósticoDocumento9 páginasTexto 3 - 2016. HUTZ. Cap 3 O Processo Psicodiagnósticolucianaizel-10% (1)
- Rubens Alves o Que É ReligiãoDocumento42 páginasRubens Alves o Que É ReligiãoMelvin JeffersonAinda não há avaliações
- Brochard - A Moral Antiga E A Moral ModernaDocumento9 páginasBrochard - A Moral Antiga E A Moral ModernaRangel RenatoAinda não há avaliações