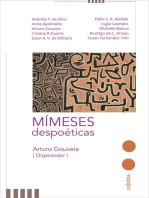Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
64234-Texto Do Artigo-84577-1-10-20131031
Enviado por
MateusTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
64234-Texto Do Artigo-84577-1-10-20131031
Enviado por
MateusDireitos autorais:
Formatos disponíveis
136 Literatura e Sociedade
ONDE FOI PARAR O SUJEITO? – EXPERIÊNCIAS
DA SUBJETIVIDADE NA FICÇÃO DO SÉCULO XX
REGINA PONTIERI
Universidade de São Paulo
Resumo Palavras-chave
Este ensaio compara duas ficções curtas: a primeira, “A marca Literatura
na parede”, foi escrita por Virgínia Woolf nos inícios do sécu- comparada;
lo XX (1917); a segunda, “Célula de identidade”, de Bruno ficção curta;
Zeni, foi publicada quase um século depois, numa antologia formas da
brasileira de novos ficcionistas. Considerando algumas seme- subjetividade.
lhanças estruturais básicas, sobretudo a perspectiva narrativa
e a construção da subjetividade, apontam-se diferenças a fim
de enfatizar as mudanças históricas no modo como os ficcio-
nistas tratam os problemas de seu tempo.
Abstract Keywords
This essay makes a comparison between two short fictions: the Comparative
first, “The Mark on the wall”, was written by Virginia Wool in literature; short
the early twentieth century (1917). The second, “Cell of identi- fiction; forms of
ty”, by Bruno Zeni, was published almost one century after, in a subjectivity.
Brazilian anthology of new fictionists. Considering some basic
structural similarities, mostly the narrative perspective and the
construction of the subjectivity, differences are pointed out, in
order to emphasize the historical changes in the way fictionists
deal with their time’s problems.
10_ensaio 14.indd 136 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 137
A ficção moderna e a hipertrofia da subjetividade
N o conhecido ensaio em que sintetiza a situação do romance contemporâ-
neo, Adorno escolhe destacar a posição do narrador como momento significativo
do paradoxo constituinte dessa forma. Diz ele: “não se pode mais narrar, embora
a forma do romance exija a narração”.1 Diferentemente do romance tradicional, ao
qual o realismo era imanente, o romance moderno solaparia o preceito épico da
objetividade, graças a uma subjetividade narrativa que transmuta para seus pró-
prios termos a matéria narrável. Disso, a obra de Proust seria exemplar, já que,
caudatária da tradição do realismo psicológico, leva ao extremo a dissolução sub-
jetivista do romance, ao transformar a objetividade do mundo em vivência imagi-
nária. Assim,
O narrador parece fundar um espaço interior que lhe poupa o passo em falso no mundo
estranho, um passo que se manifestaria na falsidade do tom de quem age como se a estranhe-
za do mundo lhe fosse familiar. Imperceptivelmente, o mundo é puxado para esse espaço in-
terior – atribui-se à técnica o nome de monologue intérieur – e qualquer coisa que se desenrole
no exterior é apresentada da mesma maneira como, na primeira página, Proust descreve o
instante do adormecer: como um pedaço do mundo interior, um momento do fluxo de cons-
ciência, protegido da refutação pela ordem espaciotemporal objetiva, que a obra proustiana
mobiliza-se para suspender.2
Proust é apenas um dentre os romancistas contemporâneos que se posicionam
contra a “mentira da representação”, que caracterizava o romance clássico, desde
Cervantes, na medida em que esse romance se propunha a “provocar a sugestão
do real”.3 Adorno cita, ainda, o Gide dos Moedeiros falsos, o último Thomas Mann,
1
Theodor W. Adorno, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, in Notas de Literatu-
ra I, trad. apres. Jorge de Almeida, São Paulo, Duas Cidades; Editora 34, 2003, p. 55.
2
Idem, ibidem, p. 59.
3
Idem, ibidem, p. 55.
10_ensaio 14.indd 137 7/11/2010 20:23:44
138 Literatura e Sociedade
Musil, Kafka. Aqueles que, no século XX, são testemunhas de um processo de
hipertrofia da subjetividade narrativa correlato da desintegração da “identidade
da experiência, a vida articulada e contínua”.4 Evidentemente, outros escritores
poderiam ainda ser mencionados. Mas, em se tratando da “dissolução subjetivista”
como um dos traços definidores do romance do século XX, um nome é de citação
obrigatória: o de Virgínia Woolf.
De fato, a escritora garantiu seu lugar no círculo dos revolucionários da forma,
graças a romances como Mrs. Dalloway, To the lighthouse, The waves, entre outros,
em que a mimese do real se faz através de um ponto de vista sempre móvel e múl-
tiplo, colado à experiência interna da personagem, a partir da qual o mundo exte-
rior se configura, por isso mesmo, de modo fortemente impressionista. Seus dois
primeiros romances publicados – The voyage out, de 1915, e Night and Day, de
1918 – possuem ainda vínculos claros com o romance inglês tradicional, embora
em alguns momentos do primeiro livro já seja possível entrever a originalidade
futura. Isso aconteceria a partir de 1922, com a publicação do romance Jacob´s
room. Antes dele, entretanto, foi fundamental a experiência de construção de um
texto curto, intitulado “The mark on the wall” (“A marca na parede”) que, desde
sua publicação em 1917, foi considerado por contemporâneos de Woolf, como
T.S. Eliot, por exemplo, como o “ponto de virada” de sua ficção em direção à re-
novação da forma.
“A marca na parede”
No que se refere ao mencionado processo de hipertrofia da subjetividade, “A
marca na parede” é emblemático. A situação de base é a de um narrador em pri-
meira pessoa, um eu isolado no ambiente doméstico, inteiramente fechado em si,
entregue à própria consciência divagante que, movida pela visão de uma marca na
parede, rememora e reflete sobre as questões mais diversas. Ao longo do texto, a
subjetividade tentará descobrir a natureza da marca, aparecendo-lhe como possi-
bilidade mais forte a de se tratar de um prego. No início se registra a recordação
de um momento no passado em que pela primeira vez a existência da marca fora
percebida. Antes mesmo que se tenham maiores informações sobre o eu ou sobre
o espaço circundante, o que se enfatiza, desde as primeiras linhas, é a relação entre
presente e passado dando suporte ao exercício da memória:
É provável que tenha sido em meados de janeiro deste ano quando pela primeira vez, olhei
e vi a marca na parede. Mas para precisar a data é necessário relembrar o que vi. Assim, penso
agora no fogo; na estável película de luz amarelada sobre a página do livro; nos três crisântemos
no jarro de vidro redondo sobre a cornija da lareira. Sim, deve ter sido no inverno, e apenas
terminávamos o chá, pois me lembro de que fumava quando olhei e vi a marca na parede pela
primeira vez.5
4
Idem, ibidem, p. 56.
5
Virgínia Wolf, Uma casa assombrada, trad. José A. Arantes, Rio de Janeiro, Nova Fronteira,
1984, p. 49. De agora em diante, farei referência sempre a essa tradução. No original: “Perhaps it was
10_ensaio 14.indd 138 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 139
E esse exercício é tão central para a experiência relatada que o presente da
enunciação, que inicialmente ainda aparece destacado do momento passado de vi-
são da marca, aos poucos vai se fundindo a ele, a ponto de, ao final do texto, o ad-
vérbio “agora” sinalizar os dois tempos.
A partir da recuperação desse primeiro momento de visão, que é um tempo
ainda relativamente próximo ao da enunciação (trata-se de “janeiro deste ano”),
outros tempos, ora mais próximos, ora mais remotos, irão sendo recuperados,
graças ao curso de um imaginário que passeia por vários assuntos: das ninharias
do cotidiano às questões existenciais, passando pelos aspectos da vida social
e cultural da Inglaterra. No exemplo a seguir, observe-se o deslizamento entre a
descrição pretensamente objetiva das características da marca e a construção ima-
ginária capaz de levar para muito longe do ponto de partida:
Sob certo ângulo de luz, a marca parece realmente projetar-se para fora da parede. Também
não é inteiramente circular. Não tenho certeza, mas parece lançar uma sombra perceptível,
sugerindo que, caso eu corresse o dedo pela faixa da parede, em determinado ponto encontra-
ria a saliência de um tumulozinho, um macio túmulo como os sepulcros de South Downs, que,
segundo dizem, podem tanto ser tumbas como campos. Preferiria que fossem tumbas, aspirando
assim à melancolia, tal como a maioria dos ingleses; e acharia natural, ao final de um passeio,
pensar nos ossos estirados debaixo do gramado... Deve haver algum livro sobre o assunto.
Provavelmente algum arqueólogo desenterrou aqueles ossos e os classificou... Que espécie de
homem é o arqueólogo? pergunto-me. E atrevo-me a afirmar: na maioria coronéis reformados,
que conduzem grupos de trabalhadores idosos até o sítio, que examinam os torrões de terra e
as pedras, e que trocam correspondência com o pároco da redondeza, a qual, aberta logo de
manhãzinha, dá-lhes um sentimento de importância [...] e têm todas as razões para desejarem
manter a questão da tumba ou do campo em perpétua suspensão...6
Mas essa viagem do eu em direção a camadas cada vez mais recônditas de si
mesmo, camadas que, entretanto, se constituem pela matéria da vida exterior
transformada pela visão, essa vertiginosa viagem vai sendo, a cada vez, pontuada
the middle of January in the present year that I first looked up and saw the mark on the wall. In order to
fix a date it is necessary to remember what one saw. So now I think of the fire; the steady film of yellow
light upon the page of my book; the three chrysanthemums in the round glass bowl on the mantelpiece.
Yes, it must have been the winter time, and we had just finished our tea, for I remember that I was smok-
ing a cigarette when I looked up and saw the mark on the wall for the first time” (Virginia Wolf, A
Haunted House and other short stories, London, Harcourt, Inc., s. d., p. 37).
6
“In certain lights that mark on the wall seems actually to project from the wall. Nor is it entirely
circular. I cannot be sure, but it seems to cast a perceptible shadow, suggesting that if I ran my finger down
that strip of the wall it would, at a certain point, mount and descend a small tumulus, a smooth tumulus
like those barrows on the South Downs which are, they say, either tombs or camps. Of the two I should
prefer them to be tombs, desiring melancholy like most English people, and finding it natural at the end
of a walk to think of the bones stretched beneath the turf…. There must be some book about it. Some an-
tiquary must have dug up those bones and given them a name…What sort of a man is an antiquary, I
wonder? Retired Colonels for the most part, I daresay, leading parties of aged labourers to the top here,
examining clods of earth and stone, and getting into correspondence with the neighbouring clergy, which
being opened at breakfast time, gives them a feeling of importance […] and have every reason for keeping
that great question of the camp or the tomb in perpetual suspension…” (Wolf, A Haunted House and
other short stories, op. cit., p. 42-3).
10_ensaio 14.indd 139 7/11/2010 20:23:44
140 Literatura e Sociedade
pelos retornos do olhar ao exterior, sinalizado pela marca na parede. Num primei-
ro momento, dando-se ainda conta da forte tendência a afundar em si mesma, a
subjetividade se reconforta com a volta ao mundo externo. Referindo-se a uma
fantasia de infância, diz: “Para meu alívio, a visão da marca veio interromper
a fantasia, pois trata-se de antiga fantasia, uma fantasia automática”.7 Aos poucos,
entretanto, serão cada vez mais longos os trechos de mergulho no imaginário e
cada vez mais difícil o retorno à marca. Até o ponto em que, ao final do texto,
a perda é total:
Onde estava eu? Falava a respeito de que? Uma árvore? Um rio? Os Downs? O Almanaque
de Whitaker? Os campos de asfódelos? Não consigo me lembrar de nada. Tudo se move, tomba,
escorrega, desaparece...Há uma mudança notável de assunto.8
Desde o início, o texto sinaliza, mesmo que de modo sutil, que a subjetividade
divagante é a de uma mulher. O que se pode ver, por exemplo, quando ela se re-
fere ironicamente ao
ponto de vista masculino que governa nossas vidas, que determina o padrão [...], o qual a partir
da guerra, suponho, converteu-se num meio fantasma para muitos homens e mulheres, e o qual
em breve, sob zombaria, espera-se, irá para dentro da lata de lixo, que é para onde vão os
fantasmas...9
Confortavelmente instalada no reduto doméstico, graças ao qual se entrega ao
devaneio, sem preocupações imediatas, essa mulher tem, na parede onde se loca-
liza a marca, o ponto exato de articulação entre o espaço privado do lar e o espaço
público. Não por acaso a lareira é imagem importante: a visão do fogo que ela
abriga é o elemento desencadeante da fantasia, sendo a marca, que lhe fica ligeira-
mente acima, o elemento interruptor dessa fantasia. Sinalizando a realidade exte-
rior à consciência, a marca, além disso, localiza-se nos confins do espaço protegido,
sendo, assim, a porta de entrada para o árido mundo lá fora, ao qual a divagante
se referira, indiretamente, ao mencionar a guerra. E aqui não custa relembrar que
esse texto foi publicado no ano de 1917.
Aparecendo assim como símbolo da realidade objetiva, exterior à consciência,
a marca acaba podendo significar também o espaço público ocupado, naquele mo-
mento, pela guerra. Não parece casual, portanto, que a divagante tenha tanta difi-
culdade em concentrar sua atenção na marca, sendo sempre fortemente atraída para
dentro de si. O que vem, entretanto, interromper, de vez, essas fugas pelo devaneio
7
“Rather to my relief the sight of the mark interrupted the fancy, for it is an old fancy, an automatic
fancy…” (Idem, ibidem, p. 37).
8
“Where was I? What has it all been about? A tree? A river? The Downs? Whitaker’s Almanack?
The fields of asphodel? I can’t remember a thing. Everything’s moving, falling, slipping, vanishing.…
There is a vast upheaval of matter” (Idem, ibidem, p. 46).
9
“the masculine point of view which governs our lives,which sets the standard [...] which has be-
come, I suppose, since the war, half a phantom to many men and women, which soon, one may hope, will
be laughed into the dustbin where the phantoms go…” (Idem, ibidem, p. 42).
10_ensaio 14.indd 140 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 141
é um acontecimento que encerra, ao mesmo tempo, o isolamento do eu e o próprio
texto. Surge uma segunda pessoa que, finalmente, esclarece o que é a marca:
Alguém se inclina sobre mim e diz:
– Vou sair para comprar jornal.
– Sim?
– Apesar de não ser uma boa coisa comprar jornais...Nada acontece, nunca. Essa droga de
guerra. Deus amaldiçoe esta guerra...Ainda assim, não vejo porque deva haver um caracol na
nossa parede.
Ah, a marca na parede! De fato, era um caracol.10
O jogo de palavras que, em inglês, aproxima “prego” (nail) de “caracol” (snail)
pode sinalizar, entre outras coisas e de modo irônico, que o que se julgava como
um objeto sólido o suficiente para iconizar a rigidez do mundo externo, isto é, o
prego, revela-se como tão pouco firme e seguro quanto outro ser vivo. Além disso,
a autossuficiência do caracol, carregando consigo a própria casa, alude fortemen-
te ao autocentramento da divagadora, em busca de proteção na clausura doméstica.
O jornal trazido de fora poderá destruir de vez qualquer segurança, testemunhando
por escrito o horror da guerra ali instalada.
Referindo-se à experiência da ausência como constitutiva da ficção de Woolf,
Gillian Beer chama a atenção para a importância do tema da morte nessa ficção,
tema fortemente ligado à vida familiar da escritora, mas também vinculado à ex-
periência de sua geração, no contexto da Primeira Guerra Mundial:
A morte era o seu conhecimento especial: sua mãe, sua irmã Stella e seu irmão Thoby, to-
dos morreram prematuramente. Mas a morte era também o conhecimento especial de toda a
sua geração, através da experiência obliteradora da Primeira Guerra Mundial. A longa sucessão
da família e da geração, tão tipicamente o material do roman fleuve do século XIX, tais como
Pendennis e The Virginians, de Thackeray, ou a série dos Rougon-Macquart, de Zola, torna-se
o lugar de uma ruptura.11
Se, então, a guerra vem romper a continuidade temporal inscrita na sequência
das gerações, parece claro o motivo pelo qual a divagante interrompe seu texto-
devaneio antes que a chegada do jornal traga a guerra, para o espaço protegido do
lar. O único lugar onde, pela rememoração, é ainda possível recuperar e reatar
relações com as gerações anteriores, mesmo que o olhar lançado ao passado seja,
muitas vezes, de crítica a ele.
10
Idem, ibidem, p. 59-60. No original: “Someone is standing over me and saying: / ‘I’m going out to
buy a newspaper.’ / ‘Yes?’ / ‘Though it’s no good buying newspaper…Nothing ever happens. Curse this
war; God damn this war!... All the same, I don’t see why we should have a snail on our wall’. / Ah, the
mark on the wall! It was a snail”.
11
Gillian Beer, “Hume, Stephen and Elegy in To the Lighthouse”, in Virginia Woolf: the common
ground, Edinburgh University Press, 1996, p. 31 (a tradução é minha).
10_ensaio 14.indd 141 7/11/2010 20:23:44
142 Literatura e Sociedade
Como mostra Adorno, a ênfase no sujeito é marca forte do desequilíbrio entre
eu e mundo operado pelo século XX. Entretanto, se a subjetividade woolfiana
procura manter os laços com as gerações passadas, parece ser também para indi-
retamente apontar o antepassado ilustre a quem a escritora frequentemente ho-
menagearia, não só por referências mais ou menos diretas em suas ficções, mas
também nos ensaios que se ocuparam dele.12 Trata-se de Lawrence Sterne, “o
mais genial e o mais radical” dos precursores da ficção do século XX, no dizer de
José Paulo Paes, que considera Joyce, Beckett, Butor, além da própria Woolf, al-
guns dos que lhe sofreram o influxo.13 Parece então que o desequilíbrio entre eu
e mundo, apontado por Adorno na ficção do século XX, havia sido preparado
dois séculos antes pelo Tristram Shandy, que dava a ver esse processo ao encenar
as vertiginosas divagações de um narrador todo-poderoso, subordinando o mundo
a sua tirânica vontade.
Estudando esse romance como matriz do que conceituou como “forma shan-
dyana”, Sérgio Paulo Rouanet aponta-lhe como primeiro traço definidor a “hiper-
trofia da subjetividade [que] se manifesta na soberania do capricho, na volubilidade,
no constante rodízio de posições e pontos de vista”.14 A ele se acrescentam, como
corolário, a digressividade que resulta na fragmentação do discurso, a subjetivação
de espaço e tempo, além da mistura de riso e melancolia. No que se refere a Woolf,
embora seja clara a presença de Sterne em seu horizonte cultural, nem por isso o
diálogo com o antepassado se faz sem que a herdeira modifique o legado, impri-
mindo-lhe marcas próprias. De tal modo que as violentas alterações na ordem es-
pacial e temporal, produzindo um discurso fortemente fragmentário, em decorrência
da subjetividade voluntariosa do narrador shandyano, ficam em Woolf reduzidas a
proporções compatíveis com os “novos” tempos. Afinal, se no século XVIII o indi-
víduo burguês ascendia gloriosamente à cena social, não parece mais ser tão glorio-
so o destino a ele reservado por um século que se abre com uma conflagração como
a da Primeira Grande Guerra. De todo modo, parece claro o vulto do Tristram por
detrás do narrador imaginoso e divagante de “A marca na parede”. E não só porque
nele Woolf inclui até uma referência à melancolia, como traço distintivo do caráter
inglês. Mas, sobretudo, porque imprime a suas muitas opiniões um tom de ironia
muito próximo ao do modelo.
12
Ver Virginia Wolf, “The ‘Sentimental Journey’”, in The Common Reader – first and second se-
ries. New York, Harcourt, Brace and Company, 1948. E também “Sterne” e “Eliza and Sterne”, em
Virginia Wolf, Granite and rainbow, London, The Hogart Press, 1958.
13
L. Sterne, A vida e as opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, trad. introd. e notas José Paulo
Paes, Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1984, p. 8. Paes menciona a avaliação do estudioso do Tristram
Shandy, Wayne Booth, que vê na obra o ponto de partida da “grande efusão dos narradores auto-
conscientes do século XX”, entre os quais Thomas Mann, Joyce, Hesse, Hemingway, Sartre, Butor,
Durrell e outros (cf. op. cit., p. 35).
14
Sérgio P. Rouanet, Riso e melancolia, São Paulo, Cia. das Letras, 2007, p. 35. Rouanet aponta
quatro herdeiros da forma shandyana: o Diderot, de Jacques le fataliste, o Garrett, das Viagens na
minha terra, o Xavier de Maistre, de Voyage autour de ma chambre, e o Machado, das Memórias pós-
tumas de Brás Cubas.
10_ensaio 14.indd 142 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 143
“Célula de identidade”
Em 1917, Virginia Woolf e sua geração estavam vivendo a primeira das duas
conflagrações que atingiram e destruíram boa parte da Europa. A escritora não
chegou a ver o fim da segunda dessas guerras: suicidou-se em 1942. Embora sua
fragilidade psíquica já tivesse se manifestado na forma de surtos psicóticos desde
os 13 anos, com a morte da mãe, não se pode menosprezar o peso de mais uma
guerra nos motivos que a levaram a uma nova tentativa, desta vez bem sucedida,
de tirar a própria vida.
Vista de hoje, a geopolítica mundial que se desenhou a partir do fim da Segunda
Guerra gerou uma situação qualificável como de guerra permanente. De modo su-
maríssimo poderíamos dizer que, primeiro, no contexto da guerra fria, as duas gran-
des potências produziram conflitos de várias ordens nos seus círculos de influência.
Com a extinção da União Soviética, assistiu-se, no Leste Europeu, a um pipocar de
guerras localizadas, nas quais os Estados Unidos tiveram presença significativa. E
mais recentemente, as incursões do imperialismo norte-americano nos territórios
árabes, na tentativa de proteger seus interesses econômicos, têm perpetuado o esta-
do de guerra, fazendo dele o pão nosso de cada dia. E se assim é para os países do
centro do sistema capitalista, não poderia ser melhor nas periferias. Na América
Latina, onde a perversidade da exploração é secular, o desmonte do aparelho de
Estado, tão caro ao triunfante projeto neoliberal, tem deixado áreas inteiras em
mãos de facções criminosas, que aí impõem sua lei. De modo que, hoje, a sobrevi-
vência diária em qualquer metrópole desta parte do mundo requer o domínio de
um sem número de pequenas táticas de autodefesa. Numa avaliação muito aguda
da situação atual de guerra “cosmopolita” permanente, Paulo Arantes observa que
já não é mais possível distinguir a economia de guerra de economia de tempos de paz: vão se
consolidando assim zonas formalmente em paz nas quais, todavia, grassam a violência e a cri-
minalidade. Ao contrário da guerra clausewitziana, limitada no tempo e perseguindo dramatica-
mente seu desfecho fatal, as novas guerras se arrastam indefinidamente, nada é conclusivo:
mais uma vez, et pour cause, a começar pela indistinção, que tende a se perenizar, entre a guerra
e a paz [...] uma inovação crucial para a compreensão dos novos tempos.15
Nesse contexto, não parece casual que um representante da novíssima ficção
brasileira, Bruno Zeni, tenha produzido um texto curto, intitulado “Célula de
identidade” que, guardando significativas semelhanças com o de Woolf, dele se
distingue em aspectos também significativos. O texto foi publicado em 2003, na
antologia coletiva PS:SP. Como no de Woolf, encena-se nele o movimento de uma
consciência perceptiva, num dado momento. Como ponto de referência que anco-
ra esse movimento, no exterior, encontra-se também uma marca. Só que agora
recuada para o próprio corpo: trata-se de um corte na mão. Essa imagem, cujas
contínuas retomadas escandem o texto do início ao fim, está presente desde as
primeiras linhas:
15
Paulo Arantes, “Notícias de uma guerra cosmopolita”, in Extinção, São Paulo, Boitempo,
2007, p. 50.
10_ensaio 14.indd 143 7/11/2010 20:23:44
144 Literatura e Sociedade
Cortei as costas da mão. Não sei como. O corte apareceu, vermelho, sangrando pouco, ar-
dendo. Eu estava em casa, então foi em casa mesmo, em alguma quina de mesa, tampo da pia
ou raspando a borda de alguma folha de papel, afiada como lâmina. Não dei muita importância,
continuei fazendo o que tinha para fazer. Isso já faz uns dias, na real. Hoje olhei a mão direita e
o corte, cicatrizado, me chamou a atenção.16
Como se vê, há mais semelhanças com “A marca na parede”, além da presença
da marca/corte. A partir do “hoje” da enunciação, a subjetividade recua a um pas-
sado próximo, em que pela primeira vez percebera o corte. Da mesma maneira, a
casa é o local dessa experiência passada. Na sequência, outra semelhança aparece-
rá, agora com uma modificação substantiva: a subjetividade também se concentra
na elaboração mental de sua experiência; só que essa se resume de modo quase
obsessivo, aos episódios da guerra urbana vivida diariamente em São Paulo. De-
pois de, com alguma minúcia, descrever o aspecto do corte, o eu se refere à pri-
meira matança de que se ocupará:
Faz frio finalmente, depois de um outono quente. Chove também. Na TV, vi uma reporta-
gem sobre um homicídio na periferia de Guarulhos. Periferia da periferia. O cara apagou um
outro cara por causa de 50 reais.
E o que segue são desdobramentos desses primeiros registros de violência, que
se concentra pela superposição e fusão das imagens iniciais: a casualidade do apa-
recimento do corte ecoando na total banalidade da eliminação de uma vida huma-
na. Diferentemente de “A marca na parede”, que conseguira confinar o horror da
guerra no lado de fora da consciência, da casa e do texto, encontrando desse modo
amplo espaço mental para se mover por vários e amenos assuntos; agora esse hor-
ror a tal ponto constitui a vida subjetiva que tomou conta de tudo, erigindo-se em
assunto único.
A essa diferença se acrescentam outras, correlatas. Assim, a casa já não prote-
ge. Nela se destacam só os possíveis instrumentos de agressão ao corpo: a quina
da mesa, o tampo da pia e a borda da folha de papel, “afiada como lâmina”, metá-
fora que também sinaliza a contundente experiência registrada, no papel-texto,
justamente pela mão direita, que está cortada. Além de não proteger, a casa nem
parece lugar onde se mora; nela, nem o texto se demora. O ambiente principal
agora é o de uma padaria, a “padoca”, espaço ao qual o “hoje”, da enunciação,
parece estar mais vinculado. Inclusive por ser ele o que tem maior presença no
texto que, sem quebra de continuidade, passa da referência ao assassinato, à coxi-
nha comida na padaria:
A TV botou na tela a 3x4 do morto: meia-idade, quarenta, por aí, mulato, bigode. Tava de
terno na foto. O que matou tá foragido. Terminei a coxinha e o refri, pedi um café pro mano da
padoca. Olhei de novo o corte. Às vezes esqueço dele, mas hoje, duas vezes, me peguei olhando
a mão demoradamente, acho que admirando a cicatriz, o corte se refazendo, a forma.
16
VV.AA, PS: SP, São Paulo, Ateliê, 2003. Zeni nasceu em 1975, em Curitiba. Formado em
jornalismo, publicou O fluxo silencioso das máquinas, pela Ateliê, em 2002.
10_ensaio 14.indd 144 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 145
O deslizamento que, da casa, desloca o foco até colocá-lo na padaria é tão su-
til que não é possível saber exatamente onde acontece a passagem. Até porque o
que se encontra na juntura entre os dois espaços é a TV que, como sabemos, tem
hoje um lugar tão central na vida de todos que muito verossimilmente está pre-
sente tanto na casa como na padaria. E aqui surge nova e significativa diferença
com relação ao texto de Woolf. Enquanto no ambiente protegido do lar tudo se
concentra em torno do calor e aconchego da lareira, nessa terra de ninguém por
onde transita a personagem de Zeni, a TV é o signo maior da anulação da antiga
esfera privada, invadida e subjugada por uma ordem pública impessoal que não
dá mais nenhuma garantia. A seqüência de matanças que a TV escancara diante da
personagem (cita-se um conhecido programa, “Cidade Alerta”), tirando-lhe qual-
quer distância que possibilite alguma reflexão, serve somente para reforçar a sen-
sação de que todos estão, igualmente, à mercê da barbárie. Além disso, o modo
implacável como a TV impõe sua ordem impessoal diante de uma subjetividade
indefesa, agora inteiramente à mercê dessa nova configuração do espaço público,
não deixa dúvidas quanto ao encolhimento do espaço reservado ao eu.
Outra mudança significativa: no texto de Woolf, a possibilidade de criar um
círculo de proteção permitia até mesmo a exclusão de qualquer outra pessoa, do
âmbito da intimidade do eu. Agora, o sujeito inteiramente entregue à ordem do
mundo terá no seu outro uma simples repetição daquilo em que se tornaram todas
as subjetividades: átomos aglutinados na massa anônima, por isso mesmo só iden-
tificáveis pelos uniformes que usam:
Olhei de novo os funcionários da padaria. Todos de uniforme. Na padoca da esquina da
minha casa também é assim – todo mundo de uniforme. Teve um dia que estranhei ver um dos
funcionários sem uniforme, de roupa normal. Parecia outro.
Todos bovinamente esperando sua vez de serem as vítimas do próximo morti-
cínio. Nesse sentido, o último resquício de uma antiga e agora irreconhecível tábua
de valores se mostra no rápido diálogo travado entre a personagem e o “mano da
padoca”, sobre o preço de uma vida humana, ou sobre o que signifique bem e mal:
O garçom pôs o café na minha frente.
– Vê se pode. O cara mata por 50 reais... Tem cara que assalta ônibus, padaria. É fraco, num
pode.
Depois do intervalo, outra reportagem sobre um cara baleado no assalto de um ônibus. A TV
mostrou a mancha de sangue no asfalto, as viaturas em torno, as pessoas saindo dos ônibus. [...]
– Aí, não falei? Neguinho assalta ônibus. Num pode. Tem que assaltar banco, carro forte,
num é? – ele falou enquanto lavava os copos na pia atrás do balcão. [...]
– Cê mora onde? perguntei pro cara da padoca.
– Vila Selma. Atrás do shopping Interlagos. Zona Sul. [...]
– Embaçado lá?
– Não, tranqüilo. Lá não tem tiroteio, assalto a ônibus. É bom. Uma vez só, uma vez mata-
ram três. Uns três que tentaram assaltar uma padaria.
Com relação ao texto de 1917, o de 2003 mostra, sobretudo, carência de pers-
pectiva temporal, resultado da destruição do espaço que antes permitia a reflexão.
10_ensaio 14.indd 145 7/11/2010 20:23:44
146 Literatura e Sociedade
Em “A marca na parede”, o exercício da crítica respondia não só pelo tom de ironia
das observações de um sujeito que, decidida e claramente, usava seu direito de
avaliar; respondia também por um estilo feito de frases complexas, dominadas,
sobretudo, pela subordinação. Em “Célula de identidade”, um acúmulo de frases
curtas, que quase só descrevem e constatam, apenas longinquamente apontam para
um arremedo de avaliação, às vezes na forma de uma nostalgia empalidecida:
Daqui da minha janela, vejo a paisagem histórica de São Paulo lá fora, pensei. A Serra da
Cantareira ainda está ao fundo, de um verde denso e intacto – dizem que é de lá que vem a água
que a gente bebe. Espalhadas à esquerda e à direita, vejo algumas chaminés de fábricas. Desati-
vadas, a maioria, mas uma ainda expele fumaça. Os carros correm na marginal, pra cá e pra lá
do rio – dá para ver quando se fixa o olhar. O trânsito aéreo também é grande: aviões e helicóp-
teros percorrem o céu, dia a dia, o dia todo. [...] Há as casas mais antigas, para os lados da Lapa,
mas fizeram também umas torres de escritórios novas – o capital avança – na Barra Funda.
Significativamente, a dimensão temporal histórica se espacializa, transfor-
mando-se em paisagem; e se naturaliza, confundindo-se com o verde da serra. O
universo onde vive o anti-herói de Zeni sofreu um gigantesco encolhimento. Des-
truiu-se o passado e com ele a visão em perspectiva e o manancial onde buscar as
formas de organizar a experiência. Resta um presente achatado que se descortina
à janela como pura superfície. E mais: se a marca/corte, como fronteira entre dois
espaços, recuou para o corpo, agora transformado em parede, onde teria ido parar
o eu em fuga? Entrincheirou-se, talvez, no microespaço da célula, último reduto
da identidade?
As metamorfoses do sujeito (à guisa de conclusão)
Também no Tristram Shandy a guerra comparece como contraponto, no espa-
ço público, da esfera privada de Shandy Hall, a casa do pai de Tristram, a partir da
qual o narrador desenrola as inúmeras histórias encartadas na história principal,
a de seu nascimento. Uma delas é a de Toby, seu tio, cujos lances acompanham sua
participação em alguns episódios da Guerra de Sucessão da Espanha. Ferido, Toby
é obrigado a se afastar dos campos de batalha, com o que muito se entristece, for-
temente dedicado que é às atividades bélicas. Para confortá-lo, seu criado de quar-
to constrói-lhe uma réplica daqueles campos, passando Toby a “brincar” de fazer
guerra. Como consequência de tal redução da importância da guerra, Rouanet
aponta a desmaterialização da história real que se torna abstrata e vazia: “concre-
tas são apenas as maquetes com que Toby a representa. Ela é miniaturizada, ca-
bendo no fundo de um quintal. Impossível desvalorização mais contundente”.17
Tão grande é a força da esfera da subjetividade que, correlata à hipertrofia do pla-
no individual, ocorre uma espécie de atrofia do âmbito público da guerra, trans-
formada em simples brincadeira de adultos.
O sujeito de “A marca na parede”, embora ainda hipertrofiado, deve entretan-
to disputar com o mundo um espaço que a presença incontornável de uma parede
17
Rouanet, Riso e melancolia, op. cit., p. 122.
10_ensaio 14.indd 146 7/11/2010 20:23:44
REGINA PONTIERI Onde foi parar o sujeito? – Experiências da subjetividade na ficção do século XX 147
diante dos olhos revela já estar francamente tomado pela guerra. No final do pro-
cesso, o texto de Zeni encena uma subjetividade em estado de atrofia que apenas
espelha a realidade da guerra, incapaz de refletir sobre ela. Aqui, como no Tristram
Shandy, só que por motivos opostos, esvazia-se a história real, agora transformada
em paisagem.
*
Comentando a alteração sofrida pelo romance a partir de Proust, no que se
refere à distância estética, Adorno observa que enquanto no romance tradicional
essa distância era fixa, será agora variável “como as posições da câmara no cine-
ma”. Nesse processo, ele reserva a Kafka um papel especial:
O procedimento de Kafka, que encolhe completamente a distância, pode ser incluído entre
os casos extremos... [...]. Por meio de choques ele destrói no leitor a tranqüilidade contempla-
tiva diante da coisa lida. Seus romances [...] são a resposta antecipada a uma constituição do
mundo na qual a atitude contemplativa tornou-se um sarcasmo sangrento, porque a permanente
ameaça da catástrofe não permite mais a observação imparcial, e nem mesmo a imitação estéti-
ca dessa situação.18
Em “A marca na parede”, o sujeito em guarda contra o mundo encontra no
caracol o modelo para sua busca de proteção, redobrando-se para dentro de si
mesmo. Em “Célula de identidade”, não há mais proteção possível, nem mesmo
no nível da pele, pois a marca/corte aí instalada tem, como diz o texto, “a forma
de um escorpião”, o corpo sendo, ele próprio, o lugar da violação do eu.
Entre o caracol, criatura que a alguns talvez repugne mas que não apresenta
perigo, e a clara ameaça de um escorpião, não há como não lembrar o inseto cla-
ramente repugnante, embora ainda também não ameaçador, em que se vira trans-
formado Gregor Samsa, ao acordar, uma bela manhã. Parece que o processo de
reificação, que em Woolf, Kafka e Zeni responde pela aproximação do humano a
formas animais cada vez mais ameaçadoras, vai num crescendo. A personagem de
Zeni é fruto de uma época em que, no dizer de Christopher Lash
a preocupação com o indivíduo [...] assume a forma de uma preocupação com a sobrevivência
psíquica. Perdeu-se a confiança no futuro. [...] Desde o término da Segunda Guerra Mundial, o
fim do mundo assomou como uma possibilidade hipotética, mas nos últimos vinte anos, a sen-
sação de perigo cresceu ainda mais... [...] O risco de desintegração individual estimula um
sentido de individualidade que não é “soberano” ou “narcisista”, mas simplesmente sitiado.19
Assim, do texto da escritora inglesa, ao do brasileiro, parece possível ler o
processo já concluso de instalação da barbárie, deixando para trás o tempo em
que a catástrofe era apenas uma ameaça.
18
Adorno, “Posição do narrador no romance contemporâneo”, op. cit., p. 61.
19
Christopher Lash, O mínimo eu, trad. João Roberto Martins Filho, São Paulo, Brasiliense,
1986, p. 9-10. Fazendo de William Burroughs um de seus exemplos, Lash diz que esse escritor
“toma como tema não o eu soberano de uma tradição literária anterior, mas o eu sitiado, programado
e sob controle” (Idem, ibidem, p. 123).
10_ensaio 14.indd 147 7/11/2010 20:23:44
Você também pode gostar
- 15 Artigo Joana Duarte BernardesDocumento28 páginas15 Artigo Joana Duarte BernardesAnnaAinda não há avaliações
- Narrativa Imagem Nao Habitavel e o RomanDocumento15 páginasNarrativa Imagem Nao Habitavel e o RomanReginaldoPujolAinda não há avaliações
- A Formação Do Romance de Introspecção No BrasilDocumento4 páginasA Formação Do Romance de Introspecção No BrasilSusanlima LimaAinda não há avaliações
- ADORNO, T. Posição Do Narrador No Romance ContemporâneoDocumento5 páginasADORNO, T. Posição Do Narrador No Romance ContemporâneoGiovanna CarvalhoAinda não há avaliações
- 1 PB PDFDocumento4 páginas1 PB PDFDejair MartinsAinda não há avaliações
- Boccaccio Mitologico Reflexos Da Lenda PDocumento12 páginasBoccaccio Mitologico Reflexos Da Lenda PkbapoetaAinda não há avaliações
- Lavelle - A Diferenc A Entre Narrar e Contar HistoriasDocumento3 páginasLavelle - A Diferenc A Entre Narrar e Contar HistoriasDAVI GALHARDO OLIVEIRA FILHOAinda não há avaliações
- Ruinologia - Autor Cubano LiteraturaDocumento10 páginasRuinologia - Autor Cubano LiteraturaBruno SilvaAinda não há avaliações
- Literatura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaDocumento16 páginasLiteratura e Autobiografia - A Questão Do Sujeito Da NarrativaHerman MarjanAinda não há avaliações
- Artigo Autoficção e Ana CDocumento9 páginasArtigo Autoficção e Ana CTalesMoreiradeCarvalhoAinda não há avaliações
- Sombras Que Iluminam - Jogos Barrocos em Contos FantásticosDocumento142 páginasSombras Que Iluminam - Jogos Barrocos em Contos FantásticosCezar TridapalliAinda não há avaliações
- Tese Sobre A Dinamicas Entre As Personagens de A SibilaDocumento18 páginasTese Sobre A Dinamicas Entre As Personagens de A SibilahelloanacardosoAinda não há avaliações
- Erich Auerbach SociologoDocumento31 páginasErich Auerbach SociologoFátimaAndréia TamaniniAinda não há avaliações
- Los Restos de Lo Real - de Florencia Garramuño - Revista Z CulturalDocumento11 páginasLos Restos de Lo Real - de Florencia Garramuño - Revista Z CulturalBruna Tella GuerraAinda não há avaliações
- DOM QUIXOTE E A FORMAÇÃO DO ROMANCE - Simone de Souza Braga GuerreiroDocumento12 páginasDOM QUIXOTE E A FORMAÇÃO DO ROMANCE - Simone de Souza Braga GuerreiroAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- ALBERTI, Verena - 1991 - Literatura e Autobiografia PDFDocumento16 páginasALBERTI, Verena - 1991 - Literatura e Autobiografia PDFedgarcunhaAinda não há avaliações
- Walter Benjamin Nona TeseDocumento10 páginasWalter Benjamin Nona TeseAcrisio KawazaAinda não há avaliações
- Deslocamento Do Ponto de Vista - de Machado de Assis A Rubem FonsecaDocumento18 páginasDeslocamento Do Ponto de Vista - de Machado de Assis A Rubem FonsecaJoão FaccioAinda não há avaliações
- Diana KlingerDocumento13 páginasDiana KlingerMirnagac23100% (1)
- Ensaio Sobre A Cegueira - Intertextualidade e ImaginárioDocumento15 páginasEnsaio Sobre A Cegueira - Intertextualidade e ImaginárioAngiuli Copetti de AguiarAinda não há avaliações
- Luciene Azevedo - Saindo Da FicçãoDocumento20 páginasLuciene Azevedo - Saindo Da FicçãoDavi LaraAinda não há avaliações
- Escrever Sobre Si Mesmo. Correio9 - Edição de 16-02-2023Documento1 páginaEscrever Sobre Si Mesmo. Correio9 - Edição de 16-02-2023Roney PavaniAinda não há avaliações
- Experiência em BenjaminDocumento20 páginasExperiência em BenjaminlinauditaAinda não há avaliações
- Comunicacao 31Documento12 páginasComunicacao 31Sara BierAinda não há avaliações
- Patricia Lavelle Sobre Benjamin O Contador de HistoriasDocumento16 páginasPatricia Lavelle Sobre Benjamin O Contador de HistoriasDianaKlingerAinda não há avaliações
- BENJAMIN, Walter. KafkaDocumento38 páginasBENJAMIN, Walter. KafkaRenan FerreiraAinda não há avaliações
- JóJoaquimLivíria Pelinser 2017Documento10 páginasJóJoaquimLivíria Pelinser 2017Felipe GustavoAinda não há avaliações
- 2022 RICIERI Victor Hugo Na PoesiaDocumento20 páginas2022 RICIERI Victor Hugo Na PoesiaFRANCINE FERNANDES WEISS RICIERIAinda não há avaliações
- Lins, Osman - Nove, NovenaDocumento123 páginasLins, Osman - Nove, Novenameeee2011100% (2)
- Luna Clara Apolo Onze No Meio Do Mundo Horizonte eDocumento14 páginasLuna Clara Apolo Onze No Meio Do Mundo Horizonte eguilherme teruo matsuoAinda não há avaliações
- Ensaio Sobre o Rmonace ModernoDocumento4 páginasEnsaio Sobre o Rmonace ModernoStellam MatutinamAinda não há avaliações
- 07-Artigo 7Documento20 páginas07-Artigo 7Joyce MantzosAinda não há avaliações
- 07-Artigo 7Documento20 páginas07-Artigo 7Lana PanouAinda não há avaliações
- 6661-Texto Do Artigo-15103-1-10-20140214Documento16 páginas6661-Texto Do Artigo-15103-1-10-20140214antonioAinda não há avaliações
- Murilo Rubião1Documento6 páginasMurilo Rubião1Lucio ValentimAinda não há avaliações
- Romance Do Século XXDocumento18 páginasRomance Do Século XXSarah Luzia de Carvalho BrandãoAinda não há avaliações
- Moretti - O Século SérioDocumento31 páginasMoretti - O Século SérioRafaella Mendonça britoAinda não há avaliações
- Autobiografia Como Discurso de PoderDocumento7 páginasAutobiografia Como Discurso de PoderYasmin NogueiraAinda não há avaliações
- Ticiano, Ovídio e Os Códigos Da Figuracão Erótica No Século XVIDocumento4 páginasTiciano, Ovídio e Os Códigos Da Figuracão Erótica No Século XVIMarcus LemosAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos Sapuerj 1Documento192 páginasCaderno de Resumos Sapuerj 1Inês AmorimAinda não há avaliações
- A Idade Média Revisitada Por Umberto EcoDocumento16 páginasA Idade Média Revisitada Por Umberto EcoIvani AlbertoAinda não há avaliações
- O Impulso Alegorico Sobre Uma Teoria Do Pos Modernismo de Craig Owens PDFDocumento14 páginasO Impulso Alegorico Sobre Uma Teoria Do Pos Modernismo de Craig Owens PDFGabriela Barzaghi De Laurentiis100% (1)
- Gordas Levitando TerronDocumento13 páginasGordas Levitando TerronJoca Reiners TerronAinda não há avaliações
- O MundoDocumento42 páginasO MundoBloco Pega na MinhaAinda não há avaliações
- "Eu Receberia As Piores Notícias Dos Seus Lindos Lábios": Flashs Poético-Fotográficos em MoldurasDocumento8 páginas"Eu Receberia As Piores Notícias Dos Seus Lindos Lábios": Flashs Poético-Fotográficos em MoldurasRachelina SinfrônioAinda não há avaliações
- 3664-Texto Do Artigo-11352-1-10-20170505Documento12 páginas3664-Texto Do Artigo-11352-1-10-20170505Maximiliano CrespiAinda não há avaliações
- Antoine CompagnonDocumento24 páginasAntoine CompagnonMACLEANE APARECIDA VEIGA GONCALVESAinda não há avaliações
- Cornélio Pena Notas para Um EstudoDocumento14 páginasCornélio Pena Notas para Um EstudoFranklin MoraisAinda não há avaliações
- BARBOSA, Socorro. Modernos e Modernistas de Uma Mocidade Morta No EsquecimentoDocumento16 páginasBARBOSA, Socorro. Modernos e Modernistas de Uma Mocidade Morta No EsquecimentoWeslei Estradiote RodriguesAinda não há avaliações
- A Arte Narrativa Segundo Borges e o Ex-Mágico RubiãoDocumento7 páginasA Arte Narrativa Segundo Borges e o Ex-Mágico RubiãoJosé Luiz100% (1)
- Matos, Olgária. Walter Benjamin A Citação Como EsperançaDocumento3 páginasMatos, Olgária. Walter Benjamin A Citação Como EsperançaWilliam FunesAinda não há avaliações
- Depois Da Fotografia Uma Literatura ForaDocumento4 páginasDepois Da Fotografia Uma Literatura Foragisett laraAinda não há avaliações
- Texto 106364 1 10 20190614Documento12 páginasTexto 106364 1 10 20190614Baquinha FixeAinda não há avaliações
- Noite - Erico VerissimoDocumento116 páginasNoite - Erico VerissimoFernanda Aquino Da SilvaAinda não há avaliações
- Completo Comunicacao Oral Idinscrito 497Documento9 páginasCompleto Comunicacao Oral Idinscrito 497Marcos Venicius Ferreira da SilvaAinda não há avaliações
- Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFDocumento9 páginasSandra Guardini Teixeira Vasconcelos - O Romance Como Gênero Planetário PDFLucas AlvesAinda não há avaliações
- Graciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoNo EverandGraciliano Ramos: uma narrativa social como reflexãoAinda não há avaliações
- STJ - Mitigando A Súmula 699Documento9 páginasSTJ - Mitigando A Súmula 699Márcio Ribeiro BorgesAinda não há avaliações
- Adacto Cavalcante Ferreira Júnior - 0002611Documento59 páginasAdacto Cavalcante Ferreira Júnior - 0002611MateusAinda não há avaliações
- 03 Pra TuDocumento2 páginas03 Pra TuMateusAinda não há avaliações
- Principio Da Insignificancia e PunibilidadeDocumento21 páginasPrincipio Da Insignificancia e PunibilidadeMateusAinda não há avaliações
- Princípio Da Insignificância em Matéria Penal:: Entre Aceitação Ampla e Aplicação ProblemáticaDocumento31 páginasPrincípio Da Insignificância em Matéria Penal:: Entre Aceitação Ampla e Aplicação ProblemáticaMateusAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento22 páginas1 PBMateusAinda não há avaliações
- Brasil de Heróis Essencial 2023 v. 1.0Documento20 páginasBrasil de Heróis Essencial 2023 v. 1.0Henpergt GamesAinda não há avaliações
- TCC Edilayne FINAL 2018 2Documento19 páginasTCC Edilayne FINAL 2018 2MateusAinda não há avaliações
- Pasta NucleoDocumento23 páginasPasta NucleoMateusAinda não há avaliações
- NC 7 - Fatal FrameDocumento1 páginaNC 7 - Fatal FrameMateusAinda não há avaliações
- Antologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos - Editora PersonaDocumento1 páginaAntologia de Poetas Brasileiros Contemporâneos - Editora PersonaDeborah deborahAinda não há avaliações
- Trabalho Administrativo 3Documento22 páginasTrabalho Administrativo 3MateusAinda não há avaliações
- Peça Trabalhista - Débora PimentaDocumento5 páginasPeça Trabalhista - Débora PimentaMateus100% (3)
- Manual 3D&T AlphaDocumento146 páginasManual 3D&T Alphajudanique90% (59)
- Aniquilacao - Jeff VanderMeerDocumento139 páginasAniquilacao - Jeff VanderMeerPauloRodrigo100% (1)
- Usq RPGDocumento3 páginasUsq RPGMateus100% (1)
- Era Uma Vez Um JulgamentoDocumento2 páginasEra Uma Vez Um JulgamentoMateusAinda não há avaliações
- Livro Identificacao Botanica EMBRAPADocumento114 páginasLivro Identificacao Botanica EMBRAPAFarley BrazAinda não há avaliações
- APS 4 DireitoDocumento1 páginaAPS 4 DireitoMateusAinda não há avaliações
- Manual Do Inquisidor PDFDocumento13 páginasManual Do Inquisidor PDFRenato OliveiraAinda não há avaliações
- 3dampt Alpha Brigada Ligeira Estelar Taverna Do Elfo e Do Arcaniospdf PDFDocumento82 páginas3dampt Alpha Brigada Ligeira Estelar Taverna Do Elfo e Do Arcaniospdf PDFMateusAinda não há avaliações
- Sobre Bruxaria ContemporâneaDocumento2 páginasSobre Bruxaria ContemporâneaMateusAinda não há avaliações
- Aula8 Controle de Constitucionalidade - Acao Declaratoria de ConstitucionalidadeDocumento21 páginasAula8 Controle de Constitucionalidade - Acao Declaratoria de ConstitucionalidadeMateusAinda não há avaliações
- Edital TJMGDocumento50 páginasEdital TJMGjoyceAinda não há avaliações
- 4D&T - Planilha OficialDocumento1 página4D&T - Planilha OficialPedro Miguel100% (1)
- Homebrew - Novos Arquétipos D&D 5.0Documento92 páginasHomebrew - Novos Arquétipos D&D 5.0HugoResende100% (1)
- APSIIIDocumento1 páginaAPSIIIMateusAinda não há avaliações
- Aps 2Documento1 páginaAps 2MateusAinda não há avaliações
- Ação!!! - Módulo Básico PDFDocumento128 páginasAção!!! - Módulo Básico PDFThiago PinheiroAinda não há avaliações
- Encontro para ScribDocumento108 páginasEncontro para ScribSylvia SenyAinda não há avaliações
- Lírica - Introd A Lit Grega - Emerson CerdasDocumento29 páginasLírica - Introd A Lit Grega - Emerson CerdasLuciano Monteiro CaldasAinda não há avaliações
- A Crista de Hilst - Diogo AraujoDocumento37 páginasA Crista de Hilst - Diogo AraujoDiogo AraujoAinda não há avaliações
- Lista de Exercícios 1 - Quinhentismo e BarrocoDocumento3 páginasLista de Exercícios 1 - Quinhentismo e Barrocodeyvid henrique “Deyvid” ferreiraAinda não há avaliações
- Exercícios de IntertextualidadeDocumento4 páginasExercícios de IntertextualidadeAngie AbdonAinda não há avaliações
- Literatura Numa Hora DessasDocumento12 páginasLiteratura Numa Hora DessasFernanda Silva OliveiraAinda não há avaliações
- Proposta de Aula - Português - Produção de TextoDocumento1 páginaProposta de Aula - Português - Produção de TextoMaria OrtênciaAinda não há avaliações
- Os Lusíadas - Contextualização Histórico-LiteráriaDocumento15 páginasOs Lusíadas - Contextualização Histórico-LiteráriaSandra Guerin100% (1)
- Cultura 1278Documento3 páginasCultura 1278Lucas Fernandes FeresAinda não há avaliações
- Mitologia ClassicaDocumento1 páginaMitologia ClassicaAluno(a) Diana Filipa Gomes JesusAinda não há avaliações
- Cap 6 BohrerDocumento17 páginasCap 6 BohrerRecriarseAinda não há avaliações
- Prosa Concreta" - As Galáxias de Haroldo de Campos e DepoisDocumento24 páginasProsa Concreta" - As Galáxias de Haroldo de Campos e DepoisVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 461 PAS 1 2019 Matriz PDFDocumento18 páginas461 PAS 1 2019 Matriz PDFFlavio CamposAinda não há avaliações
- Cozinha FuturistaDocumento296 páginasCozinha FuturistaChefe Jose Antonio OlimAinda não há avaliações
- I Ching, o Livro Das Mutações - Livro Primeiro, Hexagrama 54 - Kuei Mei - A Jovem Que Se Casa - Sobre A ChinaDocumento8 páginasI Ching, o Livro Das Mutações - Livro Primeiro, Hexagrama 54 - Kuei Mei - A Jovem Que Se Casa - Sobre A Chinaarianeafetos0% (1)
- Semiótica e Haicais de LeminskiDocumento9 páginasSemiótica e Haicais de Leminskileticia.stortoAinda não há avaliações
- Revista Brasileira 72 - Ciclo Noventa Anos de Arte ModernaDocumento66 páginasRevista Brasileira 72 - Ciclo Noventa Anos de Arte ModernaWagnerAinda não há avaliações
- 011 PDF2 SLL6 MD PD 2bim G20novo-1Documento36 páginas011 PDF2 SLL6 MD PD 2bim G20novo-1Josimar EliasAinda não há avaliações
- Resumo Dos Episódios de Os LusíadasDocumento13 páginasResumo Dos Episódios de Os LusíadasBEATRIZ FERNANDESAinda não há avaliações
- Os MaiasDocumento4 páginasOs MaiasMiguel CuralAinda não há avaliações
- Uma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Documento431 páginasUma Situação Colonial (Paulo Emílio Sales Gomes) (Z-Library)Gustavokw SantosAinda não há avaliações
- Conto de Assombração - A Menina Enterrada VivaDocumento1 páginaConto de Assombração - A Menina Enterrada VivaThais Gama100% (1)
- ResenhaDocumento2 páginasResenhaAndré Domingos PumulaAinda não há avaliações
- Influências Da Lírica Camoniana - Lírica Tradicional e A Inspiração ClássicaDocumento24 páginasInfluências Da Lírica Camoniana - Lírica Tradicional e A Inspiração ClássicaMargarida SilvaAinda não há avaliações
- Língua - Portuguesa - 6 Ano - Slide Aula 26Documento24 páginasLíngua - Portuguesa - 6 Ano - Slide Aula 26Sautchuk100% (1)
- TEORIA SOCIOLÓGICA CONTEMPORANEA: Autores e Perspectivas.: January 2017Documento11 páginasTEORIA SOCIOLÓGICA CONTEMPORANEA: Autores e Perspectivas.: January 2017Ronald OliveiraAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - 7 Ano - 2Documento3 páginasFicha de Leitura - 7 Ano - 2Mini CollapseAinda não há avaliações
- Denotação e ConotaçãoDocumento4 páginasDenotação e ConotaçãoCláudia MoreiraAinda não há avaliações
- Alfabeto de Paul Valery (2010)Documento73 páginasAlfabeto de Paul Valery (2010)Filipa AraújoAinda não há avaliações
- LP - Ensino Fundamental - Lingua Portuguesa - REPACTUADODocumento159 páginasLP - Ensino Fundamental - Lingua Portuguesa - REPACTUADOMano CinderAinda não há avaliações