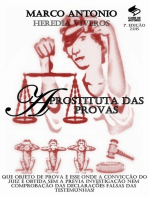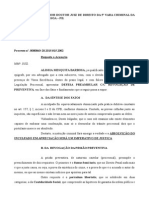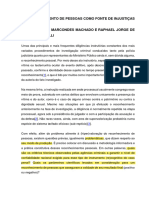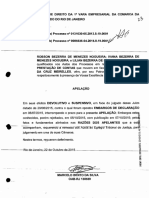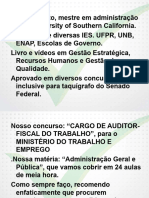Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Reconhecimento de Pessoas Não Pode Ser Porta Aberta À Seletividade Penal. Janaina Matida
Enviado por
Lara HemerlyTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Reconhecimento de Pessoas Não Pode Ser Porta Aberta À Seletividade Penal. Janaina Matida
Enviado por
Lara HemerlyDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O RECONHECIMENTO DE PESSOAS NÃO PODE SER PORTA
ABERTA À SELETIVIDADE PENAL
POR JANAINA MATIDA
Há cerca de duas semanas, o país se chocou com o caso de Luiz Carlos da Costa
Justino. Violoncelista da Orquestra da Grota, em 2 de setembro o jovem de 22 anos
foi preso preventivamente em razão de um delito ocorrido em 2017. Segundo a
acusação, na manhã de 5 de novembro daquele ano Justino teria realizado um roubo
de celular e dinheiro na companhia de mais três pessoas valendo-se, inclusive, do
emprego de arma de fogo. A participação de Justino foi determinada por
reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. O mandado de
prisão foi cumprido apenas em 2020, por ocasião de uma abordagem policial efetuada
após a apresentação musical de Justino, na região das barcas, centro de Niterói.
Tomando como ponto de partida o dia em que a vida de Justino transformou-se em
pesadelo, cabe-nos algumas perguntas: exatamente qual comportamento de Justino
ensejou a suspeita policial? Por que uma prisão preventiva expedida em 2017 foi
cumprida somente em 2020? Como a fotografia de uma pessoa sem qualquer
registro/passagem policial foi parar nas mãos dos investigadores responsáveis pelo
inquérito de 2017? De que modo tal foto foi mostrada à vítima? Em poucas linhas,
muitas irregularidades. No artigo desta sexta-feira (18/9), vou abordar as que
concernem à prova de reconhecimento.
Como se sabe, o procedimento de reconhecimento é tratado pelo artigo 226 do Código
de Processo Penal. A redação de 1941 estipula a forma a ser observada para que,
em sede policial, proceda-se ao reconhecimento. Ali determina-se a realização de um
alinhamento que deverá ser composto pelo suspeito e outras pessoas semelhantes a
ele. Não há dúvidas quanto ao propósito normativo que a redação visa assegurar, no
sentido de reduzir os riscos de que um inocente seja equivocadamente apontado
como culpado. Diz o inciso II:
"A pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado
de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de
fazer o reconhecimento a apontá-la".
No entanto, em razão da expressão "se possível", a realização do alinhamento foi
interpretada pelos tribunais brasileiros como mera recomendação, não servindo a sua
ausência como motivo de nulificação do reconhecimento. A partir dessa interpretação,
o Superior Tribunal de Justiça publicou, ao ano de 2018, entendimento segundo o qual
o reconhecimento por fotografia é válido e suficiente para fundamentar a condenação,
desde que seja repetido em juízo, com contraditório e ampla defesa.
"O reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do
contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para
fundamentar a condenação" (Jurisprudência em teses, nº 105 [1]).
Mas é preciso dizer que a relativização jurisprudencial das exigências normativas para
a realização do reconhecimento descansa suas bases em premissa equivocada: não,
a memória humana não funciona como um filme que conserva intactos os fatos
pretéritos. Não, para que fatos já vividos possam ser facilmente acessados não basta
a simples vontade de os recordar. Não, não basta estar de novo na presença do
suspeito para reconhecê-lo, sem qualquer risco de que um inocente seja confundido
com o culpado.
No que refere à determinação da autoria de um delito, é possível que, a despeito da
vontade de contribuir para a correta determinação dos fatos, a vítima/testemunha
chegue a reconhecer um inocente no lugar do culpado. Muito embora não tenhamos
disponível a taxa de erros judiciários brasileiros, a experiência norte-americana pode
nos servir de referência, principalmente porque as práticas probatórias de lá e nossas,
ao menos no que tange às provas dependentes da memória, são semelhantes. Tanto
lá quanto aqui, pessoas são apontadas a partir de álbuns de fotografias e de
reconhecimentos por show up (quando há apenas um suspeito); tanto lá quanto aqui,
o reconhecimento acompanhado de um grau elevado de certeza da vítima/testemunha
é supervalorado — mesmo quando a defesa chega a produzir provas de fatos
incompatíveis com a hipótese acusatória. Tanto lá quanto aqui, a coerência da
narrativa acusatória serve-se do inflado valor probatório conferido ao reconhecimento
bem como da depreciação de toda e qualquer informação que não se coadune com
ela. O que a experiência norte-americana pode nos dizer a respeito dos riscos de se
reconhecer erroneamente inocentes?
De acordo com o Innocence Project, cerca de 70% das condenações sobre as quais
a referida iniciativa conquistou revisões criminais deveram-se a falsos
reconhecimentos [2]. Trata-se de um dado avassalador. A cada dez condenações de
inocentes, sete deveram-se a reconhecimento falso. As práticas probatórias
brasileiras não permitem que assumamos qualquer postura otimista quanto aos erros
judiciários brasileiros. O reconhecimento realizado sem observância de protocolos
capazes de emprestar mínima fiabilidade faz par perfeito com o viés confirmatório que
acomete os diversos atores da Justiça criminal (investigadores, acusadores e
juízes) [3]. Sem entraves institucionais à sua debilidade probatória, o reconhecimento
ad hoc tem sido bastante para o oferecimento de denúncias, decretação de
cautelares [4], chegando até mesmo a ser suficiente para a condenações com base
em visão de túnel.
"Visão de túnel é uma tendência humana natural que tem efeitos particularmente
perniciosos no sistema de justiça criminal. Por visão de túnel, referimo-nos a um
'compendio de heurísticas comuns e falácias lógicas' as quais estamos todos
suscetíveis, que conduzem os atores do sistema de justiça criminal a focarem no
suspeito, selecionarem e filtrarem as provas que construirão o caso para a
condenação, ao mesmo tempo que ignoram ou suprimem as provas que apontam
para longe da culpa" [5].
Como mudar o lamentável estado de coisas atual?
Em primeiro lugar, é preciso desfazer a ideia de que falsidade e mentira
necessariamente caminham juntas [6]. É possível que a vítima/testemunha esteja
sendo sincera e, ao mesmo tempo, contribua com algo falso. Isso porque, embora
haja correspondência entre o que ela declara e o que recorda, o que recorda e declara
não corresponde à realidade dos fatos. Isso não pode ser confundido com a mentira,
em que há correspondência entre a realidade dos fatos e o recordado, mas não há
correspondência entre o recordado e o declarado. Na mentira, o que é declarado
destoa propositalmente da realidade dos fatos; quem declara sabe que falta com a
verdade. Nas falsas memórias, o que é declarado também destoa da realidade dos
fatos, mas quem declara não sabe que falta com a verdade. Logo, é perfeitamente
possível que a vítima aponte em erro um inocente. Sendo assim, reduzir o problema
do reconhecimento falso à ética dos participantes não satisfaz o compromisso com a
redução dos riscos de se condenar inocentes. É o que fica claro, por exemplo, no
episódio seis da série documentário "O DNA da Justiça", que retrata o caso de Janet
Burke, vítima de estupro que, com 100% de certeza, apontou o inocente Thomas
Haynesworth como seu estuprador. Em sua entrevista, Janet conta que no dia do
julgamento estava nervosa na sala de audiências:
"Eles (os policiais) o trouxeram. Assim que o vi comecei a me descontrolar. Parecia
que eu estava revivendo a experiência de novo na frente de cem pessoas. Me
lembro de ter apontado para o Thomas e ter dito 'tenho 100% de certeza de que é
ele'".
Você também pode gostar
- Álbum de Suspeitos. Janaina Matida e Marcella MascarenhasDocumento7 páginasÁlbum de Suspeitos. Janaina Matida e Marcella MascarenhasLara HemerlyAinda não há avaliações
- Tese ESDP 6Documento5 páginasTese ESDP 6AlineLopesAinda não há avaliações
- Garbin, Aphonso Vinicius 2017Documento5 páginasGarbin, Aphonso Vinicius 2017pavanello.advtrabalhistaAinda não há avaliações
- Reconhecimento Fotográfico e Presunção de Inocência - Janaina MatidaDocumento32 páginasReconhecimento Fotográfico e Presunção de Inocência - Janaina MatidaVinícius RochaAinda não há avaliações
- Memória Não É Polaroid. Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes Da RosaDocumento5 páginasMemória Não É Polaroid. Aury Lopes Jr. e Alexandre Moraes Da RosaLara HemerlyAinda não há avaliações
- Alegações Finais OdineiDocumento24 páginasAlegações Finais OdineiJORGEAinda não há avaliações
- Sentenca Mizael Bispo de Souza 14-3-2013Documento11 páginasSentenca Mizael Bispo de Souza 14-3-2013Patrizia CardosoAinda não há avaliações
- Resumo Caso Irmaos NavesDocumento4 páginasResumo Caso Irmaos NavesMarcelo alves godinhoAinda não há avaliações
- Trabalho Acadêmico Sobre Reconhecimento de Suspeitos Através de Álbum de Fotos em DelegaciasDocumento8 páginasTrabalho Acadêmico Sobre Reconhecimento de Suspeitos Através de Álbum de Fotos em DelegaciasPedro Gabriel VieiraAinda não há avaliações
- Outra Vez Sobre o Reconhecimento Fotográfico. Janaina Matida e William CecconelloDocumento8 páginasOutra Vez Sobre o Reconhecimento Fotográfico. Janaina Matida e William CecconelloLara HemerlyAinda não há avaliações
- Resposta A AcusacaoDocumento7 páginasResposta A AcusacaoSheldon SantosAinda não há avaliações
- O REFLEXO DA FALSIFICAÇÃO DA LEMBRANÇA NO ATO DE RECONHECIMENTO - Cristina Di GesuDocumento8 páginasO REFLEXO DA FALSIFICAÇÃO DA LEMBRANÇA NO ATO DE RECONHECIMENTO - Cristina Di GesuppenalcontempAinda não há avaliações
- HermenDocumento3 páginasHermenPedro LucasAinda não há avaliações
- Falsas Memórias - O Valor Probatório Da Palavra Da Vítima Na Justiça CriminalDocumento15 páginasFalsas Memórias - O Valor Probatório Da Palavra Da Vítima Na Justiça CriminalMelissa CoutinhoAinda não há avaliações
- Das ProvasDocumento11 páginasDas ProvasBruno SzczypkovskiAinda não há avaliações
- Resposta À AcusaçãoDocumento4 páginasResposta À AcusaçãoAcsilva CardosoAinda não há avaliações
- Alegações Finais - Negativa de Autoria - Francisco Adriano Ferreira FontenelesDocumento6 páginasAlegações Finais - Negativa de Autoria - Francisco Adriano Ferreira FontenelesLuciano AlexandroAinda não há avaliações
- Cecconello, Stein - Prevenindo Injustic - AsDocumento17 páginasCecconello, Stein - Prevenindo Injustic - Asisabel.oliveiraAinda não há avaliações
- Sua Peticao S2Documento10 páginasSua Peticao S2rosangelaAinda não há avaliações
- Cecconello Stein 2020Documento17 páginasCecconello Stein 2020Thales AndradeAinda não há avaliações
- Modelo Alegaçoes Finais DrogasDocumento8 páginasModelo Alegaçoes Finais DrogasAdriana M. SilvaAinda não há avaliações
- Resposta Acusado Estupro Vulneravel Tentativa Erro Tipo PN293Documento9 páginasResposta Acusado Estupro Vulneravel Tentativa Erro Tipo PN293Carlos HenriqueAinda não há avaliações
- Relatório de Audiência de Custódia Na PandemiaDocumento25 páginasRelatório de Audiência de Custódia Na PandemiaMariana BarrosAinda não há avaliações
- Decisões - JúriDocumento41 páginasDecisões - JúriBianca BatistaAinda não há avaliações
- Falso TestemunhoDocumento2 páginasFalso TestemunhoWagner VieiraAinda não há avaliações
- Ssa20042021105621 PDFDocumento94 páginasSsa20042021105621 PDFSidnélia LeiteAinda não há avaliações
- (06.05) - Verdade Dos Fatos Não Negocia Com Opiniões - Ainda o ReconhecimentoDocumento5 páginas(06.05) - Verdade Dos Fatos Não Negocia Com Opiniões - Ainda o ReconhecimentoLucas GondimAinda não há avaliações
- "Falsas" Memórias e Processo Penal - (Re) Discutindo o Papel Da TestemunhaDocumento14 páginas"Falsas" Memórias e Processo Penal - (Re) Discutindo o Papel Da TestemunhaLeonardo FariaAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro - As Misérias Do Processo Penal.Documento8 páginasResumo Do Livro - As Misérias Do Processo Penal.milena.fontouraAinda não há avaliações
- Memoriais Finais - HelderDocumento9 páginasMemoriais Finais - HelderWaldir Rodrigues LopesAinda não há avaliações
- Danieli Martins Oliveira - Alegaçoes Finais - ImprocedênciaDocumento16 páginasDanieli Martins Oliveira - Alegaçoes Finais - ImprocedênciaCarla CarvalhoAinda não há avaliações
- Liberdade Provisória ModeloDocumento13 páginasLiberdade Provisória ModeloDiego BerlatoAinda não há avaliações
- Justiça Igual Para Todos, Fala Sério! Vol.iiNo EverandJustiça Igual Para Todos, Fala Sério! Vol.iiAinda não há avaliações
- Semana 9 - O Ministério Público A Colaboração PremiadaDocumento48 páginasSemana 9 - O Ministério Público A Colaboração PremiadaLucas AlvesAinda não há avaliações
- Indício É Prova - Hugo Nigro MazzilliDocumento3 páginasIndício É Prova - Hugo Nigro MazzilliRS77Ainda não há avaliações
- Condenação Criminal Sem Prova de MaterialidadeDocumento2 páginasCondenação Criminal Sem Prova de MaterialidadeCésar Santos SilvaAinda não há avaliações
- Pedro - Henrique - Freitas - Silva - Lima - 7 - Diurno - HC 1 UnidadeDocumento6 páginasPedro - Henrique - Freitas - Silva - Lima - 7 - Diurno - HC 1 UnidadePedro Henrique LimaAinda não há avaliações
- (Apostilas Avulsas) Aula 01 - Direito Probatório - Provas IlícitasDocumento76 páginas(Apostilas Avulsas) Aula 01 - Direito Probatório - Provas IlícitasJuliaAinda não há avaliações
- 10487-Texto Do Artigo-34793-1-10-20200805Documento16 páginas10487-Texto Do Artigo-34793-1-10-20200805henrique289Ainda não há avaliações
- Aspéctos Medico-Legais Do Estupro (Perícia)Documento10 páginasAspéctos Medico-Legais Do Estupro (Perícia)Elen Vasconcellos100% (1)
- A Toda Prova - Janaina Matida PDFDocumento3 páginasA Toda Prova - Janaina Matida PDFLeandro FilhoAinda não há avaliações
- Defesa Prévia - Tentativa de HomicídioDocumento8 páginasDefesa Prévia - Tentativa de HomicídioCícero FilhoAinda não há avaliações
- Defesa Prévia Maria Da Penha (Modelo)Documento10 páginasDefesa Prévia Maria Da Penha (Modelo)leandro santosAinda não há avaliações
- Jurisprudência Sistematizada Dos Tribunais SuperioresNo EverandJurisprudência Sistematizada Dos Tribunais SuperioresAinda não há avaliações
- Aula 07 - Prof Rogerio Schietti - 27 - 03 - 2018 - ppt..1 PDFDocumento47 páginasAula 07 - Prof Rogerio Schietti - 27 - 03 - 2018 - ppt..1 PDFMarcello B OliverAinda não há avaliações
- O Reconhecimento de Pessoas Como Fonte de Injustiças Criminais. Leonardo Marcondes e Jorge de CastilhoDocumento6 páginasO Reconhecimento de Pessoas Como Fonte de Injustiças Criminais. Leonardo Marcondes e Jorge de CastilhoLara HemerlyAinda não há avaliações
- An Lise Do Filme 12 Homens e Uma Senten A Sobre A Tica Do Processo Decis RioDocumento15 páginasAn Lise Do Filme 12 Homens e Uma Senten A Sobre A Tica Do Processo Decis Riopaulinho33Ainda não há avaliações
- Da Aplicação Das Penas de Morte e de Caráter Perpétuo em BeccariaDocumento5 páginasDa Aplicação Das Penas de Morte e de Caráter Perpétuo em BeccariaVinicius SouzaAinda não há avaliações
- Direito Penal - Seção 2 - Revogação Da Prisão PreventivaDocumento12 páginasDireito Penal - Seção 2 - Revogação Da Prisão PreventivarosangelaAinda não há avaliações
- Hábeas Corpus - Pedofilia - Contra Prisão Preventiva Decretada Pela Gravidade Do Crime - Clamor PDocumento8 páginasHábeas Corpus - Pedofilia - Contra Prisão Preventiva Decretada Pela Gravidade Do Crime - Clamor PBruno Artero VilelaAinda não há avaliações
- MemoriaisDocumento6 páginasMemoriaisandre.fo.advAinda não há avaliações
- 7 DelaçãoDocumento4 páginas7 Delaçãopaulo diasAinda não há avaliações
- Alegacoes FinaisDocumento6 páginasAlegacoes Finais15 DefensoriaAinda não há avaliações
- ÁVILA Política Não-Criminal e Processo Penal A Intersecção A Partir Das Falsas Memórias Da Testemunha e Seu Possível Impacto CarcerárioDocumento14 páginasÁVILA Política Não-Criminal e Processo Penal A Intersecção A Partir Das Falsas Memórias Da Testemunha e Seu Possível Impacto CarceráriokarlzitoAinda não há avaliações
- O Uso de Um Criminoso Como Testemunha: Um Problema Especial - Stephen S. TrottDocumento26 páginasO Uso de Um Criminoso Como Testemunha: Um Problema Especial - Stephen S. Trottarquivo abertoAinda não há avaliações
- Cópia de Caso 7 - Prática J. IIIDocumento5 páginasCópia de Caso 7 - Prática J. IIIGabriel CarneiroAinda não há avaliações
- TCC Ii Amanda Lima Definitivo - Pós GraduaçãoDocumento33 páginasTCC Ii Amanda Lima Definitivo - Pós GraduaçãoAmanda LimaAinda não há avaliações
- Alegações Finais PDFDocumento8 páginasAlegações Finais PDFMatheus GarciaAinda não há avaliações
- O Direito de Defesa Na Lava JatoDocumento16 páginasO Direito de Defesa Na Lava JatoLara HemerlyAinda não há avaliações
- Imputação ObjetivaDocumento24 páginasImputação ObjetivaLara HemerlyAinda não há avaliações
- A Relação Entre o Direito Penal e o Direito Administrativo No Direito Penal AmbientalDocumento23 páginasA Relação Entre o Direito Penal e o Direito Administrativo No Direito Penal AmbientalLara HemerlyAinda não há avaliações
- Entre A Imparcialidade e Os Poderes de Instrução No Caso Lava JatoDocumento22 páginasEntre A Imparcialidade e Os Poderes de Instrução No Caso Lava JatoLara HemerlyAinda não há avaliações
- Crítica À Cobertura Midiática Da Operação Lava JatoDocumento15 páginasCrítica À Cobertura Midiática Da Operação Lava JatoLara HemerlyAinda não há avaliações
- Concurso Aparente de Normas PenaisDocumento23 páginasConcurso Aparente de Normas PenaisLara HemerlyAinda não há avaliações
- Colaboração Premiada e Incentivos À Cooperação No Processo PenalDocumento20 páginasColaboração Premiada e Incentivos À Cooperação No Processo PenalLara HemerlyAinda não há avaliações
- A Espetacularização Do Processo PenalDocumento6 páginasA Espetacularização Do Processo PenalLara HemerlyAinda não há avaliações
- A Aplicação Da Teoria Da Cegueira Deliberada Nos Julgamentos Da Operação Lava JatoDocumento16 páginasA Aplicação Da Teoria Da Cegueira Deliberada Nos Julgamentos Da Operação Lava JatoLara HemerlyAinda não há avaliações
- A Colaboração Por Meio Do Acordo de Liniência e Seus Impactos Junto Ao Processo Penal BrasileiroDocumento13 páginasA Colaboração Por Meio Do Acordo de Liniência e Seus Impactos Junto Ao Processo Penal BrasileiroLara HemerlyAinda não há avaliações
- Tutela de UrgenciaDocumento3 páginasTutela de UrgenciaJose Marcelo PimentaAinda não há avaliações
- AV1 - 2021-2 Tutelas Executivas - SEM GABARITODocumento6 páginasAV1 - 2021-2 Tutelas Executivas - SEM GABARITOCaio HenriqueAinda não há avaliações
- Acordo Sem Registro - ESPIGASDocumento3 páginasAcordo Sem Registro - ESPIGASIgor De Aquino Santos100% (1)
- Modelo - Apelação Contra Indeferimento de Prestação de ContasDocumento9 páginasModelo - Apelação Contra Indeferimento de Prestação de ContasEduardoPinheiroAinda não há avaliações
- Recurso OrdinárioDocumento5 páginasRecurso OrdinárioLuan PereiraAinda não há avaliações
- Processo #1500861-28.2019.8.26.0621 (TJSP) : Arquivo Atualizado em 22/04/2022 Às 01:36Documento204 páginasProcesso #1500861-28.2019.8.26.0621 (TJSP) : Arquivo Atualizado em 22/04/2022 Às 01:36brennoAinda não há avaliações
- Prescriçâo PenalDocumento17 páginasPrescriçâo PenalMaiclerson GomesAinda não há avaliações
- Auditor Administracao Geral PublicaDocumento524 páginasAuditor Administracao Geral PublicaJailson MotaAinda não há avaliações
- Promotorias de Justiça Da Comarca de Guarapuava-PRDocumento7 páginasPromotorias de Justiça Da Comarca de Guarapuava-PRhelenarubezAinda não há avaliações
- Contabilidade - Aspectos Qualitativos e Quantitativos Do Patrimonio - Aula 03 Prof ClaudioDocumento20 páginasContabilidade - Aspectos Qualitativos e Quantitativos Do Patrimonio - Aula 03 Prof ClaudioClaudioprofessor ClaudioprofessorAinda não há avaliações
- Resumo de Direito Civil - ContratosDocumento3 páginasResumo de Direito Civil - ContratosAnna Luiza Arving100% (1)
- Foro Central Criminal Barra Funda Emitido Em: 22/06/2023 00:24 Certidão - Processo 0066250-35.2018.8.26.0050 Página: 1Documento2 páginasForo Central Criminal Barra Funda Emitido Em: 22/06/2023 00:24 Certidão - Processo 0066250-35.2018.8.26.0050 Página: 1Mara DiasAinda não há avaliações
- Legislação Mineira - DeCRETO 42843, de 16-08-2002 - Assembleia de MinasDocumento13 páginasLegislação Mineira - DeCRETO 42843, de 16-08-2002 - Assembleia de MinascleubermellloAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderDocumento28 páginasBoaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderGil BatistaAinda não há avaliações
- Resenha - COVID-19 DireitoDocumento3 páginasResenha - COVID-19 DireitodscamiloAinda não há avaliações
- M12 U3 S7 A1Documento12 páginasM12 U3 S7 A1Fernando Avila Castro82% (11)
- Avaliando Aprendizado - 01Documento3 páginasAvaliando Aprendizado - 01Juliana Leite100% (1)
- Modelo Contrato de EmprestimoDocumento10 páginasModelo Contrato de EmprestimoRose SantosAinda não há avaliações
- Introdução: Evolução Histórica Da Sociedade em Nome ColetivoDocumento10 páginasIntrodução: Evolução Histórica Da Sociedade em Nome ColetivoNilzaleti CamaráAinda não há avaliações
- Caso Prático - Ação PopularDocumento5 páginasCaso Prático - Ação PopularGabryell Botelho RibeiroAinda não há avaliações
- 5 - Financiamento Da Seguridade SocialDocumento16 páginas5 - Financiamento Da Seguridade SocialEster LeiteAinda não há avaliações
- Relatórios PeríciaisDocumento17 páginasRelatórios PeríciaisLeticia SantosAinda não há avaliações
- Nota Tecnica 02-2009 - Portaria 1497 MEC - Jornada 30 HorasDocumento6 páginasNota Tecnica 02-2009 - Portaria 1497 MEC - Jornada 30 HorasJuliano QueirozAinda não há avaliações
- Resoluçao SSP-333, de 2005Documento6 páginasResoluçao SSP-333, de 2005Fernando NunesAinda não há avaliações
- Legislação em RadiologiaDocumento204 páginasLegislação em RadiologiaAlunas EstácioAinda não há avaliações
- Trabalho de DIREITO PENALDocumento10 páginasTrabalho de DIREITO PENALMarcos PaulinoAinda não há avaliações
- Súmula Vinculante Comentada Dizer o Direito Sv-41Documento4 páginasSúmula Vinculante Comentada Dizer o Direito Sv-41Chantelle AlexanderAinda não há avaliações
- Lei #5.764 de 16.12.1971 - Lei Das CooperativasDocumento23 páginasLei #5.764 de 16.12.1971 - Lei Das CooperativasMarcos Borges de BarrosAinda não há avaliações
- Ação de Interdição CuratelaDocumento6 páginasAção de Interdição CuratelaÉrica AragãoAinda não há avaliações
- Do Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-DesbloqueadoDocumento17 páginasDo Do 100+Dicas+Fatais+de+PROCESSO+PENAL-Desbloqueadovieira.280110Ainda não há avaliações