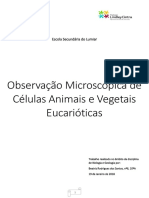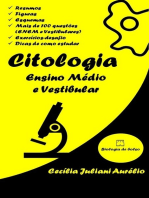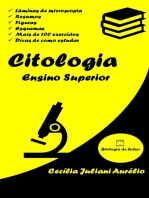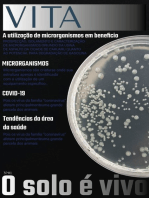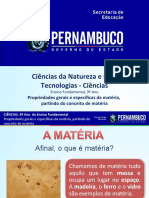Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
MIB1 - Micros
MIB1 - Micros
Enviado por
Matilde AlvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MIB1 - Micros
MIB1 - Micros
Enviado por
Matilde AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LABORATÓRIO DE BIOENGENHARIA
Observação de células e estruturas celulares
INTRODUÇÃO
Existem essencialmente 2 tipos de microscópios: de luz e electrónicos, existindo ainda
entre cada uma destas classes vários tipos, tais como o de microscopia electrónica de
transmissão e de varrimento, microscópio óptico de campo claro, contraste de fase,
fluorescência, etc. As observações efectuadas neste trabalho serão, no entanto, limitadas à
utilização do microscópio óptico de campo claro (Fig. 1). A ampliação usada depende do
tipo de lentes da objectiva usada com a ocular. Os microscópios compostos têm três ou
quatro objectivas com ampliações de: 4x, 10x, 40-44x e imersão 97-100x. A ampliação
total das lentes é calculada pela multiplicação da ampliação da ocular (geralmente 10x) pela
ampliação das lentes da objectiva. A objectiva mais importante em microbiologia é a de
imersão das lentes em óleo, as quais têm maior poder de ampliação.
6 Figura 1 – Microscópio óptico.
4
1 – Botão ON/OFF e regulador de
intensidade de luz.
5 2 – Oculares (10x).
1 3 – Botões macro e micrométrico.
3 4 – Plataforma de suporte da amostra.
5 – Botões reguladores da plataforma.
6 – Objectivas (5x, 10x, 40x, 100x).
A capacidade das lentes revelarem em pequeno detalhe 2 pontos distintos e separados é
chamada poder de resolução ou resolução. O poder de resolução (0,61λ/ΝΑ) é uma função
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 1
do comprimento de onda (λ) da luz utilizada (pode ser alterado por exemplo por filtros,
tendo em média o valor de 0,5) e da abertura numérica (NA) das objectivas (para o ar é 1,0
e para o óleo de imersão 1,4). Α melhor resolução de um microscópio óptico é de cerca de
0,2 µm, isto é, dois objectos que distem menos que este valor não são distinguíveis.
A falta de contraste entre as estruturas celulares e o meio dificulta a sua observação ao
microscópio óptico. No sentido de minimizar este problema, estudaram-se vários tipos de
colorações. Este método, de grande utilidade na observação de estruturas celulares,
apresenta, no entanto, alguns inconvenientes uma vez que os corantes quando combinados
quimicamente com os componentes celulares provocam a morte das células. Os corantes
são compostos químicos sintéticos e para fins práticos são divididos em dois grupos:
corantes ácidos e corantes básicos. Esta propriedade não tem a ver com a sua acidez ou
basicidade, indica se a função de corante é desempenhada pelo anião ou pelo catião.
Consideram-se geralmente três tipos de colorações: 1) simples, 2) diferenciais, e 3)
especiais.
1. Colorações simples - são colorações nas quais se utiliza apenas um corante. Podem ser
positivas - quando as células são coradas (ex: azul de metileno, safranina, cristal de
violeta) - ou negativas - quando o meio é corado (ex: tinta da china, nigrosina). Esta
colorações são usualmente utilizadas quando se pretende saber a morfologia e o arranjo
das células.
2. Colorações diferenciais - são colorações em que se utiliza mais do que um corante. A
coloração diferencial mais vulgar é a coloração de Gram, que é usada como um passo na
caracterização de bactérias. A coloração Gram inicia-se com a aplicação do corante
cristal de violeta seguida da aplicação de uma solução de iodo. Nesta fase todas as
bactérias estão coradas de roxo. As células são em seguida tratadas com uma solução de
álcool e acetona. As células Gram positivas retêm o complexo cristal de violeta-iodo e
permanecem roxas, enquanto as células Gram negativas são completamente descoradas
pelas mistura álcool-acetona. Na última fase do processo aplica-se um novo corante -
safranina - que cora as Gram negativas de vermelho. As células Gram positivas
aparecem coradas de cor púrpura. Diferenças na constituição da parede celular dos
microrganismos explicam estes diferentes comportamentos de coloração.
3. Colorações especiais - são colorações que se destinam a corar estruturas celulares. Um
exemplo deste tipo de coloração é o usado para a observação de flagelos bacterianos. Os
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 2
flagelos, a estrutura mais comum de mobilidade em bactérias, são compostos por finas
estruturas proteicas com origem no citoplasma e projectadas para fora da parede celular.
São muito frágeis e não visíveis com um microscópio de luz. Os flagelos podem ser
observados por intermédio de um revestimento que aumenta o seu diâmetro.
Existem também corantes que coram especificamente estruturas/macromoléculas
celulares. Por exemplo, os corantes fluorescentes acridina laranja e DAPI (4'-6-
diamidino-2-phenilindole), intercalam a dupla hélice do DNA, corando-o
especificamente. O kit Live/Dead foi desenvolvido para diferenciar numa amostra
bactérias viáveis e não viáveis. Este teste baseia-se na integridade da membrana
citoplasmática: as bactérias com membranas intactas coraram de verde e as que têm a
membrana destruída coram de vermelho. Outros corantes, como o carmin acético,
permitem visualizar cromossomas em microscopia de campo claro, tornando possível,
por exemplo, vizualizar as diferentes fases da mitose.
O trabalho experimental tem por objectivo conhecer a morfologia de células de diferentes
grandes grupos de organismos. Adicionalmente, pretende-se observar
estruturas/macromolélulas das diferentes células.
PARTE EXPERIMENTAL
Durante o trabalho laboratorial cada grupo de 2 alunos deverá observar células de diferentes
organismos. Os organismos estarão apenas identificados com letras, pois pretende-se que
durante as aulas laboratoriais sejam caracterizados e apenas no final do período laboratorial
será fornecida uma tabela com a sua identificação.
Durante a aula prática, cada grupo de alunos deverá realizar diferentes preparações de
microscopia de campo claro. Após a observação macroscópica e microscópica de cada
organismo, cada aluno deverá registar TUDO o que observou para poder completar as
tabelas anexas, que devem ser entregues no final da aula. Cada grupo deverá, ainda,
propagar o microrganismo que irá usar nas aulas seguintes, através do método de
estriamento (ver anexo a este protocolo).
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 3
Protocolo experimental de preparações de microscopia óptica de campo claro
Observação de preparação a fresco
1. Limpe cuidadosamente uma lâmina com etanol;
2. Se pretender analisar uma cultura em MEIO SÓLIDO, coloque uma gota de água estéril
na lâmina (com uma ansa);
3. Esterilize a ansa, deixe arrefecer, toque no topo de uma colónia;
4. Misture as células na lâmina com a gota de água. Este procedimento é desnecessário se a
cultura já se encontra re-suspendida ou cultivada em MEIO LÍQUIDO: coloque 25 µl da
cultura na lâmina e passe para o passo 6 (As culturas serão fornecidas pelo docente).
5. Esterilize novamente a ansa;
6. Coloque a lamela em cima da gota, tendo o cuidado de não pressionar o material
biológico;
7. Coloque a preparação no microscópio e foque com a objectiva de menor ampliação
usando em primeiro lugar o parafuso macrométrico (ajuste mais grosseiro) e para o
ajuste mais fino o parafuso micrométrico;
8. Passe sucessivamente para a de maior ampliação, e quando usar a objectiva de 100x,
coloque em cima da área a observar uma gota de óleo de imersão e ajuste novamente a
focagem. NOTA: não use óleo de imersão com qualquer outra objectiva.
9. Observe cuidadosamente a forma, estruturas, tamanho e movimento do
organismo/célula;
10. Registe as observações;
11. Retire a preparação, coloque-a numa solução desinfectante, e limpe o óleo da objectiva
de imersão com papel macio e etanol.
Preparação de um esfregaço (normalmente utilizado para observação de bactérias e
leveduras)
1. Coloque numa lâmina limpa e seca uma gota de água destilada;
2. Esterilize uma ansa, toque numa colónia e misture bem o material biológico na gota de
água (dispersando a água colocada na lâmina com a ansa já inoculada);
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 4
3. Fixe o material celular com o calor, levando a lâmina à chama várias vezes, de modo a
secar sem aquecer demais.
Coloração simples a partir de uma preparação a fresco
1. Prepare uma preparação a fresco sobre a lâmina;
2. Coloque o corante usando a técnica de irrigação: coloque uma gota de corante [azul de
metileno a 1% (p/v)] num dos lados da lamela e arraste o corante com a ajuda de papel de
filtro no lado oposto da lamela.
3. Observe a preparação ao microscópio óptico. Se necessário, recorra à objectiva de
imersão.
Coloração simples a partir de um esfregaço
1. Prepare um esfregaço;
2. Cobra o esfregaço com o corante [azul de metileno a 1% (p/v)]. Deixe actuar durante 1-3
min.;
3.Retire o excesso de corante com água corrente;
4. Seque com papel de filtro;
5. Observe a preparação ao microscópio óptico. Se necessário, recorra à objectiva de
imersão.
Coloração de Gram (parede de peptidoglicano)
1. Prepare um esfregaço;
2. Cubra o esfregaço com solução de cristal de violeta durante 30 segundos;
3. Lave com água e cubra o esfregaço com solução de iodo de Gram durante 30 segundos;
4. Lave com água e lave o esfregaço com solução descolorante. Deixe actuar durante
alguns segundos;
5. Lave o esfregaço com água e cobrir com solução de safranina durante 30 segundos;
6. Lave com água, seque com papel absorvente e observar ao microscópio com objectiva de
imersão (começando com a de menor ampliação);
7. Observe e registe a morfologia celular e o grupo a que pertence a bactéria - Gram
positivas (púrpura) ou Gram negativas (vermelho).
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 5
Coloração diferencial para estudo da estrutura de uma célula vegetal
1. Coloque sobre 4 lâminas de vidro com a pipeta de Pasteur uma gota dos diferentes
corantes diferenciais: solução de Ringer, solução de iodo, vermelho - neutro e azul de
metileno.
2. Utilize o bisturi para fazer quatro pequenos cortes na epiderme da túnica cebola e
coloque-os sobre as gotas dos corantes.
3 . Cubra cautelosamente cada um com as lamelas.
4. Observe a preparação ao microscópio.
Estudo do processo de osmose numa célula vegetal
1. Coloque sobre uma lâmina de vidro com a pipeta de Pasteur uma gota de água.
2. Coloque depois um fragmento da epiderme da túnica cebola e cubra com uma lamela.
3. Observe a preparação ao microscópio.
4. Utilizando a técnica de irrigação, substitua o meio de montagem pela solução de NaCl a
20 %.
5. Substitua novamente o meio de montagem por água destilada.
5. Registe as alterações observadas e esquematize o que observou.
Coloração de cromossomas lineares
1. Coloque 25 µl de carmim acético 2% (p/v) no centro de uma lâmina.
2. Coloque o material celular com a pinça sobre o carmim acético.
3. Dissocie o material com duas agulhas de dissecção e aguarde um minuto.
4. Cobra com a lamela o material dissociado.
5. Retire o excesso de corante da preparação com papel de filtro.
6. Observe a preparação ao microscópio óptico. Se necessário, recorra à objectiva de
imersão.
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 6
Propagação de microrganismos pelo método de estriamento
Propague em meio sólido o organismo 2 que escolheu e anote-o pois vai trabalhar com ele
nas aulas seguintes.
1. Identifique na caixa de Petri de meio sólido PCA o nome do microrganismo que vai
cultivar, o seu nome e a data.
2. Esterilize uma ansa por flamejamento.
3. Deixe arrefecer a ansa, sem a contaminar.
4. Toque numa colónia isolada da cultura de inóculo.
5. Inocule o meio de cultura através da técnica de estriamento (use a ansa como se fosse um
lápis de carvão – cubra toda a superfície do meio, sem nunca voltar atrás, e mude de
direcção, pelo menos 3 vezes) (Anexo 2).
6. Incube as culturas em posição invertida numa estufa incubadora, a 30˚C durante 18
horas.
7. Observe e anote a morfologia colonial do seu organismo (Anexo 1).
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 7
ANEXO 1: Guia de observação e caracterização da morfologia colonial de microrganismos
(culturas em meio sólido)
Morfologia colonial
FORMA
PUNCTIFORME CIRCULAR FILAMENTOSA IRREGULAR RIZOIDE FUSIFORME
ELEVAÇÃO
PLANA ELEVADA CONVEXA PULVINADA UMBUNADA
MARGEM
INTEIRA ONDULADA LOBADA ERUDIDA FILAMENTOSA ENCRESPADA
OUTRAS CARACTER ÍSTICAS:
Cor, brilho, opacidade, consistência, tamanho, etc...
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 8
ANEXO 2: Propagação de um microrganismo pelo método do estriamento.
Método de estriamento
Esterilização da ansa Tocar numa colónia
Arrefecer a ansa isolada
Ansa
Ansa
Bico de Bunsen Bico de Bunsen
Pode esterilizar novamente a ansa
antes de recomeçar o estriamento
noutro quadrante
Placa de Petri com
meio de cultura sólido
Cândida Manuel e Olga Nunes, FEUP, 2008 9
Você também pode gostar
- Relatorio Biologiaaaaaaaa EndDocumento13 páginasRelatorio Biologiaaaaaaaa EnditsbeeeaaaAinda não há avaliações
- Relatorio Epitelio Bucal PDFDocumento6 páginasRelatorio Epitelio Bucal PDFHelena AlvesAinda não há avaliações
- Relatório - Observação Microscopica de Celulas Da Epiderme Da CebolaDocumento12 páginasRelatório - Observação Microscopica de Celulas Da Epiderme Da CebolaKézia Freitas Chaga67% (6)
- Resumo de Matemática BásicaDocumento14 páginasResumo de Matemática BásicaUbirajara da S Santos75% (12)
- Observacao de Celulas Da Epiderme Do Bolbo Da CebolaDocumento9 páginasObservacao de Celulas Da Epiderme Do Bolbo Da CebolaTonny Braga0% (1)
- Aulas Praticas de BCH 2 A 4 2020Documento15 páginasAulas Praticas de BCH 2 A 4 2020Agar Abel MatsinheAinda não há avaliações
- Activ - Bolbo CebolaDocumento7 páginasActiv - Bolbo CebolaOdete RuivoAinda não há avaliações
- PL-Fisiologia Vegetal Introdução À MicrosDocumento5 páginasPL-Fisiologia Vegetal Introdução À MicrosadelaidevassaAinda não há avaliações
- Aula Prática 3 - Relatório 2 - Observação de Estruturas Celulares em Amostras de Tecidos de Cebola (Allium Cepa)Documento7 páginasAula Prática 3 - Relatório 2 - Observação de Estruturas Celulares em Amostras de Tecidos de Cebola (Allium Cepa)Diego SousaAinda não há avaliações
- Aula Prática 3 - Relatório 2 - Observação de Estruturas Celulares em Amostras de Tecidos de Cebola (Allium Cepa)Documento7 páginasAula Prática 3 - Relatório 2 - Observação de Estruturas Celulares em Amostras de Tecidos de Cebola (Allium Cepa)maiathiago0% (1)
- Actvidade Exper 1 .Professor PDFDocumento19 páginasActvidade Exper 1 .Professor PDFMariana CamachoAinda não há avaliações
- Relatório Final Das Práticas - Biologia GeralDocumento5 páginasRelatório Final Das Práticas - Biologia Geralmarcelaalearaujo44Ainda não há avaliações
- BCM - 23 - 24 - Prática Laboratorial 1Documento8 páginasBCM - 23 - 24 - Prática Laboratorial 1carolina cardosoAinda não há avaliações
- Relatório Laboratorial BiologiaDocumento13 páginasRelatório Laboratorial BiologiaCatarina GegalotoAinda não há avaliações
- Relatório BiologiaDocumento8 páginasRelatório BiologiaMariana CarvalhoAinda não há avaliações
- Observação Microscópica de Células: Relatório Da Actividade ExperimentalDocumento13 páginasObservação Microscópica de Células: Relatório Da Actividade ExperimentalEva GonçalvesAinda não há avaliações
- Abrir Relatório Biologia 5Documento9 páginasAbrir Relatório Biologia 5Marco PerezAinda não há avaliações
- Observação de Células Da Epiderme de Bolbo de Allium CepaDocumento7 páginasObservação de Células Da Epiderme de Bolbo de Allium CepalahsafAinda não há avaliações
- Protocololo Laboratorial de Observação de Celulas Animal e Vegetal Ao M.O.Documento2 páginasProtocololo Laboratorial de Observação de Celulas Animal e Vegetal Ao M.O.cristinapinheiro100% (16)
- Observação de Células Do Epitélio de Escamas de Cebola, Células de Elodea e Células Da Mucosa Oral HumanaDocumento9 páginasObservação de Células Do Epitélio de Escamas de Cebola, Células de Elodea e Células Da Mucosa Oral HumanaNilcilene SouzaAinda não há avaliações
- 6 Observacao de Celulas Eucarioticas Celulas Da Epiderme Da CebolaDocumento2 páginas6 Observacao de Celulas Eucarioticas Celulas Da Epiderme Da CebolaelizangelacarAinda não há avaliações
- Aula Prática 1C - MicrosDocumento16 páginasAula Prática 1C - MicrosPaulo Afonso Rodrigues LeãoAinda não há avaliações
- 03.0 BacteriosDocumento20 páginas03.0 BacteriosJulia FelicianoAinda não há avaliações
- Relatorio Luisa TarpDocumento8 páginasRelatorio Luisa TarpEmilda ManjorAinda não há avaliações
- 6 ANO - Observação de Células Eucarióticas Por Meio de Microscópio ÓpticoDocumento4 páginas6 ANO - Observação de Células Eucarióticas Por Meio de Microscópio ÓpticoRafael OliveiraAinda não há avaliações
- ROTEIRO PARA AULAS PRÁTICAS Bacteriologia 2018 Parte 03 Tecnicas de ColoraçãoDocumento16 páginasROTEIRO PARA AULAS PRÁTICAS Bacteriologia 2018 Parte 03 Tecnicas de ColoraçãosgtsoniaAinda não há avaliações
- Técnicas CitológicasDocumento4 páginasTécnicas CitológicasTiago Sabença0% (1)
- Essiaca MuhamadeDocumento15 páginasEssiaca MuhamadeAbacar VascoAinda não há avaliações
- Coloração de GramDocumento9 páginasColoração de GramLUCIMARA LOPES DA SILVAAinda não há avaliações
- Roteiro Prática - de - Coloração - GramDocumento3 páginasRoteiro Prática - de - Coloração - GramVanessa CoelhoAinda não há avaliações
- Modelo Relatório Prática Microbiologia (Editando)Documento11 páginasModelo Relatório Prática Microbiologia (Editando)Josimar Júnior LamarãoAinda não há avaliações
- BIOLOGIA GENERAL - INFORME DE LABORATORIO 2 - CitologiaDocumento5 páginasBIOLOGIA GENERAL - INFORME DE LABORATORIO 2 - CitologiaAlezia Gisell Sandoval UrionaAinda não há avaliações
- Ficha Informativa MOCDocumento8 páginasFicha Informativa MOCana carolAinda não há avaliações
- 5 Observacao de Celulas Eucarioticas Celulas Da Mucosa BucalDocumento2 páginas5 Observacao de Celulas Eucarioticas Celulas Da Mucosa BucalClaudia KarolyneAinda não há avaliações
- Observação Microscópica e Análise Dos Diferentes Tipos de Células ObservadasDocumento14 páginasObservação Microscópica e Análise Dos Diferentes Tipos de Células ObservadasOmphy yAinda não há avaliações
- Provas BioquimicasDocumento8 páginasProvas BioquimicasJonathan RiosAinda não há avaliações
- Relatório de GeologiaDocumento8 páginasRelatório de GeologiamatildecasimiroAinda não há avaliações
- Roteiro Experimental BioquímicaDocumento43 páginasRoteiro Experimental BioquímicaLoading GameAinda não há avaliações
- Apostila de Aulas Práticas 2023Documento22 páginasApostila de Aulas Práticas 2023rsundfeld7Ainda não há avaliações
- Ficha Professor Celulas EucarioticasDocumento11 páginasFicha Professor Celulas EucarioticasLaura HenriquesAinda não há avaliações
- Trabalho 1Documento10 páginasTrabalho 1Quinito ZacarriasAinda não há avaliações
- Relatorio LAB 3Documento12 páginasRelatorio LAB 3Dailyton NhantumboAinda não há avaliações
- BB03 Células Eucariotas e Células ProcariotasDocumento5 páginasBB03 Células Eucariotas e Células Procariotasqueo.sofia.fernandesAinda não há avaliações
- Trabalho de MicrobiologiaDocumento12 páginasTrabalho de MicrobiologiaSamito Alexandre NhamundaAinda não há avaliações
- Atividade - Observação de Células em Divisão MitóticaDocumento4 páginasAtividade - Observação de Células em Divisão Mitóticaleonorcardoso.profAinda não há avaliações
- Biologia Pl-PlotDocumento7 páginasBiologia Pl-PlotLara CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho de Biologia Uninassu 12Documento12 páginasTrabalho de Biologia Uninassu 12Sheila BarrosAinda não há avaliações
- Trabalho de BiologiaDocumento7 páginasTrabalho de BiologiaARIANA GOMESAinda não há avaliações
- Relatorio de Biologia CelularDocumento6 páginasRelatorio de Biologia CelularJoão MatheusAinda não há avaliações
- Trabalho de CitologiaDocumento25 páginasTrabalho de CitologiaJúnior RossoAinda não há avaliações
- Eucariotic Vs Procariotic CellsDocumento9 páginasEucariotic Vs Procariotic CellsrAinda não há avaliações
- Célula VegetalDocumento4 páginasCélula VegetalClarice Rugar RosefeAinda não há avaliações
- Relatório BG 10Documento10 páginasRelatório BG 10Mariana MoreiraAinda não há avaliações
- Correc Modelo Relatorio CelulasDocumento4 páginasCorrec Modelo Relatorio CelulasAna Teresa Dias100% (1)
- Relatório Biologia Osmose em Células VejetaisDocumento12 páginasRelatório Biologia Osmose em Células VejetaisPessoaAinda não há avaliações
- Práticas de Genética, Biologia Molecular, Biotecnologia e EvoluçãoNo EverandPráticas de Genética, Biologia Molecular, Biotecnologia e EvoluçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Biologia Celular E EcotoxicologiaNo EverandBiologia Celular E EcotoxicologiaAinda não há avaliações
- Planilha para 01 CasaDocumento7 páginasPlanilha para 01 CasaEngenheiroBenevidesAinda não há avaliações
- Apostila PedologiaDocumento6 páginasApostila PedologiamarcosmontAinda não há avaliações
- Turma: D Organizações Dos Espaços Escolares Como Ambiente de Aprendizagem e Documentos Normativos Da EscolaDocumento18 páginasTurma: D Organizações Dos Espaços Escolares Como Ambiente de Aprendizagem e Documentos Normativos Da Escolacolarinho cuchupicaAinda não há avaliações
- 8642-Article Text-31697-1-10-20190417Documento19 páginas8642-Article Text-31697-1-10-20190417Constantin DobrotáAinda não há avaliações
- HenriqueMACEDO Anpocs RotaDocumento32 páginasHenriqueMACEDO Anpocs RotaRobertaAinda não há avaliações
- Manual Referências Arquitetônicas Março-2012Documento306 páginasManual Referências Arquitetônicas Março-2012WiltonAinda não há avaliações
- Cronograma de AtividadesDocumento1 páginaCronograma de AtividadesLaércio HernaneAinda não há avaliações
- Fundação PrivadaDocumento206 páginasFundação PrivadampavonneAinda não há avaliações
- Direito Administrativo-Princípios AdministraçãoDocumento3 páginasDireito Administrativo-Princípios AdministraçãoThaís XavierAinda não há avaliações
- Propriedades Gerais e Específicas Da Matéria, Partindo Do Conceito de MatériaDocumento28 páginasPropriedades Gerais e Específicas Da Matéria, Partindo Do Conceito de MatériaJuliana BomfimAinda não há avaliações
- Tema 03 - Comandos de Entrada e SaídaDocumento41 páginasTema 03 - Comandos de Entrada e SaídaVando SérgioAinda não há avaliações
- GovernabilidadeDocumento94 páginasGovernabilidadeLucas MatheusAinda não há avaliações
- Actas IV Encuentro de La HispanidadDocumento225 páginasActas IV Encuentro de La Hispanidadfabricaos100% (1)
- Paineis e TacografosDocumento18 páginasPaineis e TacografosFernando Silva100% (1)
- Prova de Metodologia Cientà Fica UNIP EAD (Prova Com Todas As Questã Es)Documento21 páginasProva de Metodologia Cientà Fica UNIP EAD (Prova Com Todas As Questã Es)Guilherme Alves de Jesus CostaAinda não há avaliações
- Aula Durkheim 01Documento17 páginasAula Durkheim 01Alisson OliveiraAinda não há avaliações
- Projeto MarmorariaDocumento2 páginasProjeto MarmorariaBruno De CesareAinda não há avaliações
- Trabalho de Deontologia ProfissionalDocumento12 páginasTrabalho de Deontologia ProfissionalHafezer RassulAinda não há avaliações
- Sartre e ClariceDocumento74 páginasSartre e ClariceLuciene de Oliveira BatistaAinda não há avaliações
- Organização e Funcionamento Da Administração PúblicaDocumento3 páginasOrganização e Funcionamento Da Administração PúblicaxicoespertoAinda não há avaliações
- Linguagem de Programação C++Documento98 páginasLinguagem de Programação C++agashmidtgmailcom100% (1)
- Como Estudar Na FaculdadeDocumento8 páginasComo Estudar Na FaculdadeJoyce FelixAinda não há avaliações
- Como Aumentar Seu Valor para o Mercado de TrabalhoDocumento18 páginasComo Aumentar Seu Valor para o Mercado de TrabalhoElotec Sala de AulaAinda não há avaliações
- Fichamento Capítulo 17Documento3 páginasFichamento Capítulo 17Pablo CoutoAinda não há avaliações
- Aula Gestão de EstoqueDocumento44 páginasAula Gestão de EstoqueKlaus Henrique SoaresAinda não há avaliações
- MARQUES 2008 AgriculturaCampesinatoNoMundoDocumento33 páginasMARQUES 2008 AgriculturaCampesinatoNoMundolucas gabrielAinda não há avaliações
- Aula Teoria de ErrosDocumento22 páginasAula Teoria de ErrosDacabaca DucubucuAinda não há avaliações
- Avaliação Simplificada de Impactos AmbientaisDocumento15 páginasAvaliação Simplificada de Impactos AmbientaisconceicaobelfortAinda não há avaliações
- SARTORI, Giovanni. Nem Presidencialismo, Nem ParlamentarismoDocumento12 páginasSARTORI, Giovanni. Nem Presidencialismo, Nem ParlamentarismoSônia LimaAinda não há avaliações