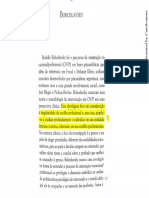Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Estudo de Caso de Um Adolescente Atendido em Psicoterapia
Estudo de Caso de Um Adolescente Atendido em Psicoterapia
Enviado por
Kevin BatistaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Estudo de Caso de Um Adolescente Atendido em Psicoterapia
Estudo de Caso de Um Adolescente Atendido em Psicoterapia
Enviado por
Kevin BatistaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Boletim de Iniciao Cientfica em Psicologia 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
Resumo: Este trabalho se refere a um estudo de caso bem-sucedido realizado em clnica-escola com um adolescente de 17 anos, cujo comportamento se apresentava adequado sua faixa etria, mas que, no entanto, era visto por ele e por seus familiares como inadequado. Foram realizados nove encontros semanais nos meses de maro a maio de 2003, com durao de 50 minutos cada, sendo trabalhados, sob um enfoque fenomenolgico, alguns pontos ligados construo de identidade e auto-imagem do cliente. Ao trmino do trabalho, pde-se verificar uma melhora da auto-imagem e maior autonomia em tomar decises. Palavras-chave: psicoterapia de enfoque fenomenolgico; adolescncia; estudo de caso.
Case study about an adolescent in phenomenological psychotherapy
Abstract: This work describes a successful psychotherapy of a 17 year-old adolescent whose behavior was appropriate to his age but considered inadequate by the client and his family. The work endured nine weekly therapeutic sections that occurred from march to may of 2003. Some matters about identity and self-image were worked in a phenomenological approach. At the end, it was possible to observe a positive change in self-image and in the clients autonomy to make decisions. Keywords: phenomenological approach psychotherapy; adolescence; case report.
Introduo
Primeiramente, o objetivo da apresentao deste trabalho se relaciona ao sucesso alcanado, em curto espao de tempo, no atendimento de base fenomenolgica realizado em clnica-escola a um adolescente. Alm disso, uma vez que abordagens fenomenolgicas tm sido pouco enfatizadas na maioria dos cursos de graduao em psicologia, apresent-las como prtica psicoterpica pode contribuir como meio de ilustrar um tipo de conduta caracterstica das mesmas. O tema adolescncia caracterizado por diversos autores (LEVISKY, 1998; DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1982; GALLATI, 1978) como sendo um perodo da vida permeado por conflitos familiares, crise de identidade, oscilaes de humor, enfim, por in-
77
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
meros fatores que formariam uma espcie de perfil adolescente. Tal perfil incluiria, ainda, a vestimenta, a linguagem e a conduta prprias dessa fase. Erik Erikson (citado por DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1982, p. 20) utiliza o termo crise psicossocial para definir esta etapa do desenvolvimento. Para o autor, a adolescncia, que possui uma faixa etria relativamente definida, o momento em que o indivduo est pronto para fazer certo tipo de aquisio, a qual pode se adaptar ou no ao ambiente em que se est inserido. Erik Erikson (citado por GALLATI, 1978) coloca a idade da adolescncia, que chama de identidade versus confuso de papis, entre as oito idades que estabelece para o ser humano, caracterizada como um perodo crtico, pois o momento em que o indivduo dever refletir e avaliar que tipo de pessoa ele foi no passado, no presente e, provavelmente, ser no futuro. com esta anlise que se processa a formao da identidade, uma vez que o adolescente ir recapitular tudo o que j experienciou e antecipar o que, hipoteticamente, est por vir. Pode-se dizer que, juntamente com a construo da identidade, o adolescente tambm est tentando definir nesta etapa do desenvolvimento sua auto-imagem. Contudo, o adolescente no est sozinho neste perodo de crise. Juntamente com ele est todo um contexto social envolvendo familiares e amigos. Os pais, pessoas teoricamente mais prximas, estaro envolvidos diretamente nessa fase de vida do filho, pois tambm acabam revivendo as crises pelas quais passaram em sua juventude: se os conflitos passados foram bem suportados e se suas opes e escolhas foram coerentes e significativas, a relao que se estabelecer entre pais e o adolescente ser de maior segurana e respeito nas escolhas que este venha a fazer. Da mesma forma, o filho poder adquirir uma imagem positiva dos pais, que lhe proporcionaram a proteo necessria para que, nesse momento, tivesse maior segurana para construir sua prpria independncia (DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1982). No entanto, conflitos familiares sempre existiro, uma vez que o desejo de conquista da autonomia se faz permeado por mudanas individuais (construo da identidade), biolgicas (perda do corpo infantil) e sociais (relaes grupais, profissionais etc.) (ERIK ERIKSON citado por GALLATI, 1978). Citando Davis, Fiori e Rappaport (1982, p. 102-103),
[...] na adolescncia o sujeito deve romper uma srie de ligaes que o prendiam ao mundo infantil. Para tanto, o relacionamento com os pais ser bastante abalado, pelo questionamento que o adolescente far de seus progenitores, de seus cdigos de valores, de seu estilo de vida, de seus hbitos sexuais e sociais, de sua f, de sua ideologia. Este questionamento geralmente cria um ambiente de tenso intrafamiliar, porque feito de maneira agressiva, desorganizada, por uma personalidade que est desestruturada, que est numa situao de busca de si mesma. Os pais, habituados a outro padro de relacionamento desde o nascimento do filho, de modo geral sentem-se ansiosos,
78
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
magoados e desorientados, sem saber muito bem como atuar em relao aos filhos adolescentes. Isto porque a adolescncia dos filhos representa uma poca de mudana tambm para os pais. Muitos deles revivem os conflitos de sua prpria adolescncia, seu prprio relacionamento traumtico com os pais, suas indefinies quanto escolha de uma carreira etc.
As relaes que se estabeleceram com os pais desde a infncia serviro de base para uma interao social adequada no grupo de companheiros, [...], e tero uma influncia duradoura em toda a interao social posterior (DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1992, p. 37). Assim, alm dos pais, o grupo tambm exercer um papel importante na construo da identidade do adolescente. na identificao com o grupo que ser depositada parte da dependncia familiar, permitindo maior segurana na definio de se saber quem . Neste mesmo contexto tambm haver questionamentos sobre o que certo ou errado, bom e ruim. Com isso, um adolescente dito comportado pode adquirir atitudes agressivas ou mesmo destrutivas quando em grupo. Mas tais condutas no podem ser encaradas como desajustadas ou patolgicas se forem atos breves (DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1982). Knobel (citado por DAVIS, FIORI e RAPPAPORT, 1982) define as atitudes adolescentes como sndrome da adolescncia normal, embora aos olhos da sociedade elas sejam consideradas anormais. Como exemplo delas podemos citar no somente manifestaes agressivas ou destrutivas, mas tambm oscilaes de humor, em que ora o garoto ou garota esto sorridentes em grupo, ora, de repente, se fecham em seu mundo, irritadios e tristonhos. Muitos podem confundir tal comportamento como estado depressivo, contudo, deve-se considerar que o adolescente passa por uma fase de perdas e mudanas que o deixam confuso e suscetvel a alteraes bruscas de humor e conduta. Levisky (1998, p. 25) coloca que h em todo esse processo uma violncia construtiva, que permite ao adolescente expressar sua criatividade e insero social, pois, quando a sociedade lhe oferece meios socialmente adequados para suas manifestaes de auto-afirmao, o processo, apesar de turbulento, pleno de paixes, edifica a personalidade e a auto-estima. No entanto, apesar de o adolescente atual viver sua rebeldia como membro transformador da sociedade, os meios formadores levam o jovem a valorizar a conquista do prazer imediato e de uma aparente independncia. Souza (2003) coloca que essa dissoluo da individualidade faz com que a realidade seja aceita incondicionalmente, inclusive em situaes que geram insatisfao. No entanto, para que o jovem alcance seus prprios valores e construa sua autoimagem, ele necessita de contraposies. O esmaecimento dos limites, dos valores, dos costumes, da tica e da moral geram confuso, indiferena e sentimentos de impotncia prejudicando a estruturao egica do jovem [...] (LEVISKY, 1998). O estudo de caso a seguir ilustrar por meio de trechos dos atendimentos psicoteraputicos algumas questes relacionadas adolescncia, que perpassam por relaes
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
79
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
familiares conflituosas, dicotomia dependncia-independncia, desejo de autonomia, identificao grupal, oscilaes de humor e condutas destrutivas, as quais na concepo da sociedade podem ser vistas como psicopatognicas. Conforme ser relatado, considerar as peculiaridades da adolescncia nos mbitos psquico, social, familiar e individual pode contribuir para que o adolescente se insira na fase adulta de uma forma que tanto satisfaa a ele quanto permita uma adaptao adequada aos valores e normas sociais.
Apresentao e anlise do caso
Objetivos Primeiramente, o objetivo da terapia foi ouvir o cliente em sua queixa e experincias vivenciadas, com o intuito de tentar experienciar como ele prprio se via e se sentia diante de tais situaes. Aps isso, a partir do discurso formulado pelo cliente, foram feitas colocaes que promovessem sua reflexo quanto ao que estava sendo dito, a fim de poder ampliar seu foco de viso para as diversas possibilidades de escolhas e pontos de vista que poderia haver sobre sua fala. Dessa forma, o objetivo era retirar o cliente de posies fechadas em que ele se colocava, o que o impedia de assumir e escolher por si s outras formas de agir em relao a um mesmo assunto ou experincia vivida. Ao final de cada sesso sempre era deixado para reflexo um assunto emergente naquele dia, a fim de ser trazido pelo cliente no encontro seguinte. Mtodo O trabalho se desenvolveu na clnica-escola de psicologia de uma universidade da cidade de So Paulo nos meses de maro a maio de 2003, sendo realizado em nmero de nove sesses, com superviso semanal embasada em abordagem fenomenolgica. Os atendimentos foram realizados uma vez por semana, com durao de 50 minutos, tendo como cliente um adolescente de 17 anos, o qual ser chamado de V. Histrico pessoal A infncia do cliente foi marcada por certa desestruturao familiar, uma vez que seus pais se separaram quando ele tinha 3 anos de idade. Entre 3 e 9 anos ele e seus dois irmos uma menina mais velha e um menino mais novo conviveram mais com a av, pois sua me trabalhava o dia todo e quando os encontrava eles j estavam dormindo. Neste perodo ainda havia contato com o pai, o qual residia no litoral. Na escola, o cliente disse ter sido terrvel, relatando que sempre criava confuses, mas dava um jeito de a culpa recair sobre os amigos. Quando criana preferia brincar e ficar sozinho e na pr-escola a me foi chamada algumas vezes devido a esse isolamento, sendo que a resposta dada era que ela havia se separado recentemente e esse fato poderia ser o motivo da conduta do cliente. Nesta fase havia brigas com o irmo, fato que ocorria at a poca de terapia. No entanto, o relacionamento com a irm
80
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
sempre foi bom. Foi dito nunca ter gostado de futebol e videogame, utilizando computador para ver e-mails e fazer alguns programas, j que era programador. Com 9 anos, o cliente sofreu um acidente de bicicleta e ficou uma semana na UTI, devido a fratura na clavcula e inchao no crebro. Disse que ainda fazia exames, mas nenhuma alterao havia sido constatada. Quando o cliente tinha 10 ou 11 anos, ele e seus irmos estavam na casa do pai, no litoral, e este acusou-os de roubo de uma foto de sua filha com a segunda esposa. Como a foto no apareceu, houve uma discusso que culminou na expulso do cliente e de seus irmos da casa pelo pai. A partir daquele momento cessou o contato entre eles. O cliente relatou que a desconfiana do pai pode ter relao com sua conduta, naquela poca, de pegar dinheiro de familiares (me, av, padrasto) sem avisar. Nesse perodo, a estrutura familiar se alterou, pois sua me se casou novamente, porm, com consentimento de todos os filhos. O cliente dizia ter um bom relacionamento com o padrasto. Na adolescncia, entre 13 e 15 anos, o cliente relatou fazer bombas com um amigo e estourar em muros. Por esse motivo, passou por um processo judicial, mas saiu ileso, pois disse ter inventado uma histria que convenceu o juiz. Nessa poca, fumou por cerca de 2 meses, mas relatou nunca ter mexido com drogas. Parou de sair com esse amigo das bombas justamente porque o mesmo lhe ofereceu maconha. Disse que no tinha mais contato com ele e que, juntamente com seu pai, no conseguia olhar no rosto desse garoto. Quanto s relaes com o sexo oposto, o cliente disse ter ficado com vrias garotas, mas namorado apenas duas. Teve sua primeira relao sexual aos 16 anos com uma garota que conheceu pela Internet, mas no tinha mais contato com a mesma. Disse ter sido uma experincia boa e sem planejamento. Depois disso no se relacionou sexualmente com mais ningum. Em relao religiosidade, o cliente relatou que sua famlia era testemunha de Jeov e que ele freqentou a igreja quando tinha 15 e 16 anos. Pela poca da terapia somente comparecia vez ou outra, pois pensava que eles faziam discriminao socioeconmica entre os fiis. Quanto a relacionamentos pessoais, o cliente relatou no ter amigos importantes. Foi dito que os amigos que tem so mais velhos. Falou que no se sentia bem em locais com muitas pessoas, pois no tinha assuntos. Gostava de falar sobre finanas e economia, mas as pessoas preferiam falar de mulher e futebol. Com sua me havia dificuldades de conversar. No entanto, com a av (falecida em 1999) a abertura era maior. Foi hipotetizado pelo cliente que isto ocorria porque no teve muito contato com a me na infncia e sim com a av. Quanto ao pai, disse que era muito parecido com o mesmo, tanto no fsico quanto em suas condutas. Era falado que a convivncia entre os dois sempre foi de ruim a satisfatrio (sic), ou seja, quando eles no discutiam, apenas se cumprimentavam
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
81
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
com bom dia ou oi. No comeo de 2003, o cliente disse ter sido a primeira vez que ligou para o pai depois da briga aos 11 anos. Falou que queria xing-lo, mas ele no estava em casa. Preferia evitar encontr-lo, mas sentia que o pai estava tentando uma aproximao por vias indiretas (av, tia). Disse achar que o pai no gostava dele devido a essa semelhana entre os dois. O cliente disse no ter orgulho de suas atitudes passadas (acidente com a bicicleta, soltar bombas) e relatou que, quando pensava em cenas da infncia e adolescncia, somente se lembrava de fatos que, para ele, eram negativos.
Questes existenciais apresentadas pelo cliente e compreenso fenomenolgica do caso
Quanto queixa assinalada pelo cliente revoltado e de fcil irritao com as pessoas , no se pode desconsiderar o perodo de vida pelo qual ele estava inserido, ou seja, a adolescncia. Ser ou estar irritado ou nervoso com familiares ou outras pessoas de seu convvio corresponde a um fator ligado ao mundo prprio (FORGUIERI, 1993) do jovem nessa faixa etria, pois por intermdio dessas relaes estabelecidas com o mundo humano (FORGUIERI, 1993) e tambm com o mundo circundante (FORGUIERI, 1993) que ser possvel a construo de uma identidade que permita pessoa descobrir e reconhecer a si mesma, bem como atualizar suas potencialidades. Juntamente com a queixa, foram relatados episdios de destrutividade voltada para o meio externo, os quais, em um primeiro momento, foram ligados ao relacionamento conturbado com o pai e necessidade de chamar a ateno. Na primeira sesso de atendimento, por exemplo, o cliente relatou o seguinte:
Aos 10, 11 anos de idade, ele (cliente) estava com seus dois irmos na casa do pai no litoral e sumiu uma foto do batizado de sua irm paterna (fruto de um segundo casamento). O pai acusou os trs filhos de terem roubado a foto e se no devolvessem ele iria chamar a polcia [...] No dia seguinte eles (cliente e irmos) ligaram para a me em So Paulo e contaram o ocorrido. Ela ficou brava e falou que iria peg-los naquela hora [...] o pai retornou para casa (do trabalho) e brigou com os trs filhos, falou vrios palavres e disse para eles sarem de casa. [...] [...] depois disso os filhos no conversaram mais com o pai. Aps estes fatos, o cliente disse que sua irm comeou a namorar um rapaz e ele ficou amigo do irmo deste menino. Os dois comearam a fazer bombas e estourarem nos muros ao redor de sua residncia. [...] com alguns colegas e junto com o irmo do namorado de sua irm, o cliente comeou a retirar os alto-falantes do local (um clube do qual era scio). [...]
82
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
Depois dos alto-falantes, eles resolveram cortar os fios de telefone. Segundo o cliente, o clube ficou uma semana sem comunicao, porque eles cortaram todos os fios existentes.
Dessa forma, houve a tentativa de inserir esses comportamentos dentro da realidade existencial do cliente, no os interpretando ou colocando como fatos isolados. Ou seja, foram considerados acontecimentos passados trazidos na fala do cliente, bem como expectativas futuras quanto ao seu modo de ser, uma vez que
a realidade para o ser humano est originariamente fundamentada na compreenso que ele tem das situaes que vivencia, nela estando implcitas as trs dimenses temporais de seu existir: como ele tem sido (passado), como est sendo (presente) e como poder vir a ser (futuro) (FORGUIERI, 1993).
Com isso, foi possvel perceber que o cliente tinha uma imagem negativa de suas condutas passadas e do seu prprio modo de ser futuro, muito parecida maneira como ele percebia o modo de ser do pai. Estas sensaes o levavam a ter um olhar negativo de si mesmo, gerando insegurana quanto a suas reais possibilidades de escolha e resoluo e superao de certas situaes conflitantes. Dessa forma, contar histrias era uma maneira encontrada pelo cliente de evitar entrar em contato com seus sofrimentos, como se pode observar pelo segmento do relato da terceira sesso apresentado abaixo:
O cliente chegou no horrio indicado falando que brigou com sua me. Perguntado sobre o que se passou, ele disse que no queria falar sobre o assunto. Dessa forma, foi colocado que na semana anterior ele tambm no queria falar sobre algo que no o deixou bem. Da mesma forma, podia-se perceber que o cliente estava contando vrias histrias pelas quais passava, talvez, como uma forma de ele deixar de lado coisas que realmente o estavam incomodando. O que ele dizia era importante, mas parecia existir outras questes que ele sabia que iriam gerar certo sofrimento e que, talvez, nem ele soubesse como seria sua reao ao tocar nelas e, por isso, preferia deixar de lado [...] o cliente disse ter brigado com suas duas ltimas terapeutas sempre nas ltimas sesses. Contou que no ltimo dia que iria encontrar uma de suas terapeutas, disse que no havia falado 65% de sua vida a ela. A mesma props, ento, que eles deveriam continuar com mais sesses, porm, ele falou que existem coisas que so suas e que no falaria. Foi colocado que realmente existem questes somente nossas, que no queremos compartilhar com ningum, no entanto, que ns estvamos ali para um processo psicoterpico e que era importante que ele pudesse se abrir [...] Assim, o cliente comeou dizendo que na semana anterior no estava bem, porque seu professor de Sociologia havia feito uma aula de relaxamento [...] e pediu para os alunos relembrarem sua vidas desde a gestao e o cliente disse no ter se sentido bem com algumas coisas que havia lembrado (falou somente isso e mudou de assunto).
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
83
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
V. relatou estar nervoso no sbado, pois no tinha dinheiro para sair [...] Por volta das 7 horas da noite no suportava mais ler e deu um murro na porta do guarda-roupa, quebrando-a [...] como j havia dito de sua discusso com a me no dia anterior, foi perguntado sobre como havia sido tal discusso. Ele disse que sua me ficou insistindo para ele ir igreja com ela, mas o cliente no queria. Falou que seu irmo de 15 anos ao ver que ele no iria comeou a provocar dizendo que se V. no fosse ele tambm no iria. V. disse que a insistncia foi grande, mas que disse a me que j estava para fazer 18 anos e sabia o que era melhor para si. [...] Como V. no havia se aprofundado em seu mal-estar na aula de Sociologia, foi perguntado os fatos que ele havia se recordado e que no o tinham deixado bem. Ele disse ter lembrado do dia que seu pai foi embora (separao dos pais) [...] Tambm relembrou do acidente que o deixou na UTI e de todas as histrias de bombas que havia soltado e dos muros que havia destrudo. Assim, percebeu que somente havia lembrado coisas ruins que haviam acontecido com ele, diferentemente de seus amigos, que contaram somente coisas boas. Relatou no ter orgulho de nada que fez e que, talvez, no tivesse feito nada daquilo se no fosse a influncia de D. (irmo do namorado da irm de V.), apesar de achar que quando um no quer, dois no fazem (sic). Contudo, disse que talvez tivesse feito, mesmo que sozinho, porque eram coisas novas para ele. Foi colocado que nas outras sesses V. havia relatado tais histrias achando graa (ria muito ao relembr-las), mas que agora parecia que eram coisas que ele via como negativas. Tambm foi dito que a cena de seu pai indo embora o marcou bastante. V. disse que as duas pessoas que ele no conseguia se dar bem e olhar na cara eram seu pai e D. [...] disse ser muito parecido com seu pai tanto de gnio quanto fisicamente [...] sente que o pai no gosta dele por saber que os dois so parecidos [...] disse que simplesmente sente isso, pois nunca teve um pai para ensin-lo andar de bicicleta ou para ele falar sobre sua primeira namorada ou relao sexual.
Na quarta e na quinta sesso o cliente voltou a falar sobre o pai: Quarta sesso:
[...] Foi dito ao cliente que mesmo ele dizendo que seu pai era algo do passado, ele sempre estava comentando sobre ele, mesmo que estes comentrios estivessem relacionados com fatos que V. considerava negativos. Isso talvez tornasse seu pai uma pessoa bastante presente. Assim, foi perguntado, quando V. dizia no conseguir olhar na cara do pai, quais lembranas ele trazia e como ele se sentia em relao a elas. V. disse que se via em seu pai; seus amigos, me e ele mesmo se consideravam parecido com o pai [...] Perguntando o que ele pensava ao se ver to parecido com o pai, V. disse que se via
84
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
futuramente igual ao pai, mas que quando ele tiver um filho no quer que seja igual a ele (o pai).
Quinta sesso
Foi falado que, se V. no gostava do modo como seu pai era, mas se achava muito parecido com ele, isso poderia dizer que ele no gostava do seu prprio modo de ser (V. falou ... como se no tivesse pensado nisso). Ento, seria importante ele comear a pensar o que realmente o incomodava em si e quais seriam suas qualidades.
Segundo Forguieri (1993, p. 49), o no reconhecimento e aceitao da insegurana, paradoxos e limitaes da existncia levam as pessoas que assim agem a se sentirem confusas, desanimadas, alheias ou revoltadas diante deles. A autora ainda coloca que, nos momentos de intenso sofrimento, comum a pessoa sentir-se sozinha e distanciada, no apenas das situaes concretas, mas, principalmente, de seus semelhantes (FORGUIERI, 1993, p. 54). E estes eram fatores trazidos constantemente pelo cliente, tendo o agravante do perodo da adolescncia, em que a influncia do meio externo bastante significativa, como se pode constatar pelo relato abaixo, extrado da sexta sesso:
O cliente disse haver pensado nas qualidades que poderia ter, mas no conseguiu encontrar nada. Disse ter ficado o fim de semana todo pensando sobre o assunto. Como no conseguia descrever suas qualidades, ligou para A. (garota com quem estava ficando) e perguntou a ela quais eram suas qualidades e defeitos. Assim, A. disse que ele era legal, compreensivo, amoroso, amigvel e carinhoso, mas que tambm era chato. V. disse que era chato, porque no vestia qualquer roupa, no comia em qualquer lugar e no saa com qualquer pessoa. (Comentrio) Perguntando se V. se via com estas qualidades citadas por A., ele disse que assim somente com ela, pois j a conhecia h bastante tempo e no seria da mesma forma com outro. Disse pensar j ter sido assim com uma pessoa em quem confiou, mas esta no correspondeu. Ele disse que esta outra pessoa era seu pai. V. relatou no ter estas qualidades com outras pessoas, mas que j foi desta forma. Disse que ele sentiu ter mudado de janeiro de 2002 em diante, quando se tornou mal-humorado, irritado e nervoso [...] Quando no est bem se tranca no quarto e fica ouvindo msica ou pensando no escuro para no incomodar ningum. No sabe dizer se ocorreu algo significativo que possa ter levado a esta mudana de humor. [...] Disse que nunca confiou 100% em algum. Desde pequeno preferia ficar sozinho. V. disse que sua ltima psicloga falou que ele agia desta forma, sem confiar nas pessoas, porque se sentiu abandonado quando seu pai foi embora e que agora ele pensa, inconscientemente, que as pessoas iro abandon-lo. V. disse no concordar nem discordar do
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
85
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
que ela disse, mas falou que com a garota com a qual namorou por quase dois anos tambm era carinhoso e compreensivo, mas devia confiar no mximo 60% nela.
O prprio distanciamento, desnimo e revolta relatados pelo cliente, associados a sua auto-imagem negativa e pouca autonomia sobre suas escolhas, podiam ter relao com o incio de um tratamento psiquitrico e administrao medicamentosa, uma vez que ele mesmo colocava o desnimo e o distanciamento como sintomas de depresso, o que poderia aumentar a sua auto-imagem negativa. Dessa forma, ele acatou ao tratamento psiquitrico sem analisar se realmente era necessrio ou no para si prprio. Contudo, esse tratamento foi considerado desnecessrio diante das relaes adaptativas vivenciadas pelo cliente e que, aparentemente, lhe traziam satisfao e no pareciam se relacionar com qualquer quadro psicopatolgico, mas, sim, a experincias sentidas por qualquer outro adolescente. Neste caso, a me parecia exercer forte influncia em relao a uma imagem de filho problemtico. ela que sugeriu e procurou um psiquiatra para incio de tratamento medicamentoso ao rapaz, conforme exposto nas quarta, quinta e stima sesses: Quarta sesso
[...] Quanto a suas discusses com a me, ele (V.) disse que anda impaciente e fica a maior parte do tempo trancado em seu quarto. Porm, sempre tem algum o chamando ou o incomodando. Disse que na quinta-feira teve uma conversa com sua me e a mesma ficou assustada. Ela perguntou como seria para V. caso seu pai visitasse sua casa. O cliente disse que no deixaria o pai sentar em sua cama e se viesse em seu quarto daria um soco em sua cara e que para ele seu pai era passado em sua vida. Com isso, V. disse que sua me marcou um psiquiatra para ele.
Quinta sesso
O cliente [...] iniciou falando que havia ido ao psiquiatra. V. disse ter gostado do atendimento e que foram feitas perguntas relativas a dados pessoais e ao seu relacionamento familiar. V. disse que a psiquiatra gostou de ele estar fazendo psicoterapia [...]. Ele tambm relatou que sua me j foi atendida por esta mesma mdica e diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. A mdica havia dito que ele estava um pouco deprimido e receitou paroxetina 20 mg, um comprimido ao dia.
Stima sesso
[...] V. disse estar se sentindo melhor com o remdio que estava tomando. Foi colocado o que ele pensava sobre o fato de sua me querer que ele fosse ao psiquiatra e
86
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
tomar remdio. V. disse achar que precisava, pois no estava comendo direito e no queria fazer nada, somente ficar em casa. Foi colocado que, ao longo dos atendimentos psicoterpicos, foi percebido que ele se colocava como um adolescente normal, que tinha amigos, namorava, saa para se divertir e que no demonstrava nenhum fato que fosse muito diferente de qualquer outro adolescente. Mesmo os casos passados de estourar bombas [...] no deixavam de ser atitudes tomadas por diversos outros garotos de sua idade. Era lgico que, a partir do momento em que se colocava em risco a vida de outras pessoas j no era mais um peripcia, contudo, no era o seu caso. Porm, ele tendia a ver todos os acontecimentos passados como algo negativo, o que no necessariamente o era. Com isso, foi colocado que seria interessante ele comear a pensar no que realmente ele sentia como necessrio para sua vida [...], pois quando as pessoas falassem ou dessem suas opinies, ele poderia filtrar o que ele achava relevante para si.
Diante dessas questes e retomando o assunto da destrutividade, iniciou-se um trabalho fenomenolgico que permitisse ao cliente refletir sobre seu modo de ser no mundo, a fim de analisar, relacionar e compreender melhor seus conceitos, idias e significados dados ao mesmo. O objetivo foi permitir que o cliente ampliasse suas possibilidades de escolhas, uma vez que ns somos o que escolhemos ser (SARTRE citado por MAY, 1973, p. 132), mas tambm temos a influncia do meio social sobre nossas escolhas. Assim, foi considerada a prpria fase da adolescncia como ponto de partida para ampliar a conscincia do cliente. A partir dos pontos tidos como negativos para ele, foi colocado o que havia de positivo no negativo. Dessa forma, se as atitudes destrutivas eram vistas como negativas, foi colocado o quanto elas poderiam ser naturais quando adolescente, como forma de ser aceito por um grupo, de testar limites e mesmo de experienciar normas e regras sociais, conforme exposto no seguinte trecho do relato da stima sesso:
Foi colocado que era natural nesta fase (adolescncia) ele ser influenciado por amigos, pelo grupo, por familiares, pois ele tambm estava revendo vrias questes para constituir sua identidade adulta. Mas que, no entanto, era necessrio ele comear a se perceber mais, perceber suas condutas e reaes diante das atitudes e falas de outras pessoas para poder formular as suas opinies de forma mais crtica e a partir do que ele realmente via como bom para si. V. falou que no confia em sua me e prefere guardar o que seu para si. Foi colocado que no somente com a me que V. era fechado, mas com as pessoas no geral e que este fato parecia ser algo caracterstico dele e no um problema. A questo no era confiar ou deixar de confiar e que no querer falar de sua vida para as pessoas era diferente de acatar o que elas falavam [...]. O que as pessoas falavam acabava influenciando na deciso de qualquer pessoa, mas o que ouvido e solicitado por um outro poderia ser acatado apenas como uma possibilidade. Quem iria
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
87
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
avaliar o que era melhor ou pior para si era ele mesmo (V.). Mas, para isso, V. deveria se olhar e tentar perceber suas reais vontades [...] Ele relatou que nunca havia pensado em si por este lado, tentando identificar suas qualidades, pois sempre deu muita nfase a seus defeitos. Disse que, no momento, sentia vontade de sair de casa, que no queria mais morar com sua me e irmos e queria ter sua vida. Assim, foi comentado que era natural nesta idade, em que ele se encontrava quase na maioridade, querer sua independncia, que tambm com a psicloga havia sido desta forma, pois havia sado de sua cidade para estudar e tudo o que mais queria era fazer suas prprias coisas. Com isso, era importante V. perceber que este sentimento no era muito diferente do sentido por diversos outros adolescentes.
Knobel citado por Rappaport (1982, p. 39) j dizia que, no grupo, alm de se depositar parte da dependncia familiar, tambm se pode experienciar a crueldade e a violncia como forma de o adolescente se defrontar com suas fantasias destrutivas, para em seguida poder domin-las. Mesmo o bater de frente com o pai poderia no ser fruto apenas de uma atitude revoltada e imatura, mas tambm uma forma de dizer o quanto este pai era importante e o quanto fazia falta sua presena. Os conflitos com a me e irmos e o desejo de independncia, tambm colocados como negativos, foram exemplificados pela experincia da prpria estagiria, uma jovem que passou pelos mesmos problemas, mas os superou. Tais conflitos familiares exacerbados na adolescncia so colocados por Cassorla (1998) como uma vivncia de pais e filhos. Os primeiros, porque podem tanto se orgulhar do crescimento dos filhos, quanto invej-los por sentirem que os mesmos possam ter uma vida melhor do que tiveram. J os adolescentes, ao mesmo tempo que querem se afastar dos pais e construir sua independncia, ainda se sentem inseguros e vem a famlia como protetora de obstculos e sofrimentos. Quanto autonomia de escolhas, o trabalho foi voltado a uma maior reflexo do cliente quanto importncia de se conhecer. Mais uma vez a adolescncia foi retomada como um perodo em que o jovem influencia e influenciado por amigos e familiares, mas que era importante o cliente perceber que, mesmo sendo influenciado pelo meio externo, havia a necessidade de filtrar e selecionar as opinies que realmente faziam sentido com suas vontades e necessidades. Para tanto, era preciso estar sempre se percebendo em suas vivncias e sensaes, ou seja, se conhecer para poder tomar decises autnomas, que fossem escolhidas de acordo com o que importava para si. Esse trabalho remeteu a atitudes, tomadas pelo cliente, que no foram analisadas pelo mesmo, mas apenas acatadas, tais como a administrao de medicamento e seu conceito de estar deprimido. Ao final do trabalho foi possvel tanto ampliar um pouco da conscincia do cliente quanto permitir uma maior autonomia de ao, criando condies para que ele decidisse pelo que genuinamente lhe era importante.
88
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
V. faltou oitava sesso e compareceu nona. Esse fato foi considerado, hipoteticamente, como um perodo necessrio de elaborao pelo cliente dos contedos trabalhados. Nona sesso:
O cliente chegou meia hora atrasado sesso. Ele comeou falando que havia parado de tomar o medicamento fazia uma semana [...]. Disse ter tomado esta deciso devido s conversas que havamos tido na ltima sesso. Falou ter pensado melhor e percebido que no tinha nada e que era um adolescente normal, que sua fase depressiva foi momentnea. Disse ter lido (em uma revista), que nove entre dez adolescentes tm depresso e que percebeu ser natural da idade. [...] Ele disse que estava se sentindo bem e que iria psiquiatra encerrar os atendimentos com ela [...] no pensava necessitar de remdio. [...] Foi perguntado se era de seu interesse (de V.) permanecer no prximo semestre [...] V. disse que preferia encerrar por aqui, uma vez que se sentia melhor. Disse eu sou apenas um adolescente normal (sic) e que preferia no continuar os atendimentos.
Isso nos remete mais uma vez fala de Forguieri (1993, p. 47), a qual dizia que a liberdade de escolher tanto maior quanto mais ampla for a abertura do ser humano percepo e compreenso de sua vivncia no mundo.
Concluses
De incio, o atendimento parecia estar estagnado em assuntos trazidos pelo cliente que no contribuiriam de forma significativa para qualquer mudana. Aparentemente, ele tinha uma necessidade de falar sobre tais questes no somente como desabafo, mas tambm como uma forma de evitar contato com outros fatores que o afligiam e que por vezes eram explicitados em sua fala. Dessa forma, foi necessrio enfocar determinados contedos relatados por ele, remetendo-o constantemente reflexo sobre tais questes e evitando, com isso, que houvesse disperses, as quais sempre retornavam aos assuntos menos angustiantes. O relacionamento conturbado com o pai e a sensao negativa que o cliente tinha de suas atitudes passadas bem como de sua auto-imagem presente foram os principais temas abordados. Em certo momento, foi colocada explicitamente ao cliente esta sua tendncia de evitar tais assuntos, fato confirmado pelo mesmo. A partir da, foi possvel estabelecer um vnculo baseado em maior confiana, possibilitando ao cliente trazer fatos importantes, mas secundrios, em sua fala. Conseqentemente, tambm foi possvel que ambos, cliente e terapeuta, refletissem e ampliassem o campo de viso como forma de o cliente perceber que poderiam existir vrias formas de ver, sentir e experienciar uma mesma histria.
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
89
Auryana Maria Archanjo, Nicolau Tadeu Arcaro
Como se tratava de um adolescente bastante influenciado pelas opinies e decises tomadas por amigos e familiares, o papel da terapeuta foi bastante ativo no sentido de refletir de maneira sistemtica, junto com o cliente, as condutas acatadas por ele. Por outro lado, ao mesmo tempo, a terapeuta formulava perguntas abertas que o levassem a refletir por si s e no apenas receber idias prontas, como ele fazia em seu relacionamento com pessoas de seu convvio social. Neste sentido, o terapeuta tinha a vantagem de estar vendo os acontecimentos de fora, fator que facilitava sua autoobservao, a fim de no assumir apenas um papel de amigo conselheiro. Diante de todos esses fatores e posturas da terapeuta, foi possvel, ao final do trabalho, que o cliente tomasse decises um pouco mais autnomas. Ele decidiu parar com o medicamento que estava tomando, cancelar suas consultas com o psiquiatra e tambm no continuar com a terapia no prximo semestre, fato que, no olhar da terapeuta, foi uma deciso importante, uma vez que, pelo menos momentaneamente, o cliente pde se perceber como um adolescente normal (sic) e escolher, dentre as influncias externas recebidas (no esquecer que a atitude do terapeuta tambm era uma influncia externa), aquelas que mais pudessem estar relacionadas com suas prprias necessidades. Finalizando, pde-se concluir que o cliente se deu alta e que este fato foi de extrema importncia para uma pessoa que estava prestes a atingir a maioridade. Isso porque, apesar de idade cronolgica e psicolgica se diferenciarem, no se pode desconsiderar que atingir a maioridade na sociedade atual remete efetivamente a mudanas psicolgicas. Dessa forma, para o cliente, talvez, a melhor atitude que ele poderia ter tomado neste momento foi decidir por si s que no mais continuaria a terapia. Para a terapeuta, as expectativas remeteram ao que interessava, a satisfao do cliente. E parece que este objetivo foi atingido neste momento, apesar do curto perodo de atendimentos. Com isso, este trabalho tambm repercutiu em uma maior confiana tanto no desenvolvimento do trabalho quanto na satisfao de ver os objetivos atingidos.
Referncias Bibliogrficas
CASSORLA, R. M. S. Prefcio: refletindo sobre Pavlik Morozov. In: LEVISKY, D. L. Adolescncia: pelos caminhos da violncia: a psicanlise na prtica social. So Paulo: Casa do Psiclogo, 1998. DAVIS, C.; FIORI, W. R.; RAPPAPORT, C. R. (Org). Psicologia do desenvolvimento: a idade escolar e a adolescncia. So Paulo: EPU, 1981-1982. v. 4. FORGUIERI, Y. C. Psicologia fenomenolgica: fundamento, mtodo e pesquisa. So Paulo: Pioneira, 1993.
90
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
Estudo de caso de um adolescente atendido em psicoterapia com enfoque fenomenolgico
GALLATI, J. E. Adolescncia e individualidade: uma abordagem conceitual da psicologia da adolescncia. So Paulo: Harbra, 1978. LEVISKY, D. L. (Org.). Adolescncia: pelos caminhos da violncia a psicanlise na prtica social. So Paulo: Casa do Psiclogo, 1998. MAY, R. Psicologia existencial. In: MILLON, T. Teorias da psicologia e personalidade: ensaios e crticas. Rio de Janeiro: Interamericana, 1973. SOUZA, R. M. de. Escola e juventude: o aprender a aprender. So Paulo: EDUC/Paulus, 2003.
Contatos:
Auryana Maria Archanjo Nicolau Tadeu Arcaro E-mail: amarchanjo@yahoo.com.br
Tramitao Recebido em dezembro/2003 Aceito em maio/2004
Bol. Inic. Cient. Psic. 2003, 4(1): 77-91
91
Você também pode gostar
- World of Wisdom - Análise Do Nascimento + Analise Dinâmica (2014-2017) para Errantes Do Reino PDFDocumento51 páginasWorld of Wisdom - Análise Do Nascimento + Analise Dinâmica (2014-2017) para Errantes Do Reino PDFyliddwql67% (3)
- Módulo 4Documento38 páginasMódulo 4Henrique SilvaAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Do Jovem e Do AdultoDocumento26 páginasDesenvolvimento Do Jovem e Do AdultoJoana FerreiraAinda não há avaliações
- AdultoDocumento27 páginasAdultojoi-dantas100% (1)
- Neves Da Silva - Citações e Pensamentos de Sigmund FreudDocumento142 páginasNeves Da Silva - Citações e Pensamentos de Sigmund FreudAnonymous qMO58h100% (1)
- Linguagem Oral No Espaço Escolar - Rediscutindo o Lugar Das Práticas e Dos Gêneros Orais Na EscolaDocumento26 páginasLinguagem Oral No Espaço Escolar - Rediscutindo o Lugar Das Práticas e Dos Gêneros Orais Na EscolaRafaela DefendiAinda não há avaliações
- #29358 - Curso Asssedio Sexual - Cartilha - INTERATIVO FinalDocumento17 páginas#29358 - Curso Asssedio Sexual - Cartilha - INTERATIVO FinalKeytiane JVAinda não há avaliações
- 10a Aula Psicopat Stress PS SomaticosDocumento22 páginas10a Aula Psicopat Stress PS SomaticosMary ChristmasAinda não há avaliações
- Psicologia Organizacional e Do TrabalhoDocumento13 páginasPsicologia Organizacional e Do TrabalhoFelipe PêAinda não há avaliações
- Estudo de Caso Sobre Os Transtornos Da PersonalidadeDocumento7 páginasEstudo de Caso Sobre Os Transtornos Da PersonalidadeThayssa GabrielaAinda não há avaliações
- Adolescência PDFDocumento53 páginasAdolescência PDFFABIA JULIANA AZEVEDO DA SILVAAinda não há avaliações
- Testes Psicométricos e TarefasDocumento13 páginasTestes Psicométricos e TarefasJosé RobertoAinda não há avaliações
- Aula 4 A Função Social Da Atuação Do Psicólogo 1Documento23 páginasAula 4 A Função Social Da Atuação Do Psicólogo 1João Vitor100% (1)
- Questionário Psico SocialDocumento4 páginasQuestionário Psico Socialescuta ativaAinda não há avaliações
- SATEPSI - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - HomeDocumento6 páginasSATEPSI - Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos - HomeElaine SilvaAinda não há avaliações
- Filme - O CoringaDocumento2 páginasFilme - O CoringaAlef PradoAinda não há avaliações
- Atividade Rapport e ComportamentoDocumento1 páginaAtividade Rapport e ComportamentoLucas MateusAinda não há avaliações
- Aconselhamento PsicológicoDocumento6 páginasAconselhamento PsicológicoArlan PintoAinda não há avaliações
- Psicologia Social Sílvia LaneDocumento8 páginasPsicologia Social Sílvia LaneMillena ArantesAinda não há avaliações
- Psicologia SocialDocumento19 páginasPsicologia SocialKornor Uniord PenturAinda não há avaliações
- BlendEdu Ebook Lideranca InclusivaDocumento13 páginasBlendEdu Ebook Lideranca InclusivaCamilaAinda não há avaliações
- Roda Da Oportunidade de Negócios PDFDocumento1 páginaRoda Da Oportunidade de Negócios PDFGleyceAinda não há avaliações
- 4-Interação Social e Papéis SociaisDocumento13 páginas4-Interação Social e Papéis SociaisLuana FonsecaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Minorias SociaisDocumento22 páginasAula 1 - Minorias SociaisDaniele Rodrigo Monteiro Oliveira100% (1)
- O Perfil Dos Psic Logos Do Trabalho PDFDocumento9 páginasO Perfil Dos Psic Logos Do Trabalho PDFManuel PintoAinda não há avaliações
- Artigo - Inclusão de PCD No Mercado de Trabalho.Documento20 páginasArtigo - Inclusão de PCD No Mercado de Trabalho.Rick Luis HenriqueAinda não há avaliações
- Entrevista AconselhamentoDocumento6 páginasEntrevista AconselhamentoCéu CavalcantiAinda não há avaliações
- Práticas Do Psicólogo EscolarDocumento111 páginasPráticas Do Psicólogo EscolarFáhSantosAinda não há avaliações
- Orientação Vocacional - BohoslavskyDocumento6 páginasOrientação Vocacional - BohoslavskyCarla AraújoAinda não há avaliações
- Aula 1 Testes Psicolc3b3gicosDocumento21 páginasAula 1 Testes Psicolc3b3gicosPedro BrasilAinda não há avaliações
- 05 Intervenção PsicossocialDocumento19 páginas05 Intervenção PsicossocialGabriel LimaAinda não há avaliações
- Unidade III - O Normal e o Patológico - Aspectos Do Funcionamento Psicológico PDFDocumento22 páginasUnidade III - O Normal e o Patológico - Aspectos Do Funcionamento Psicológico PDFSilmara SilvaAinda não há avaliações
- Texto 5 - ComunidadepdfDocumento19 páginasTexto 5 - ComunidadepdfMirella DelmondesAinda não há avaliações
- Condicionamento OperanteDocumento42 páginasCondicionamento OperanteAdriana XavierAinda não há avaliações
- Papel Do Psicólogo No CAPS Ad - Texto Do Artigo-27880-1-10-20201116Documento23 páginasPapel Do Psicólogo No CAPS Ad - Texto Do Artigo-27880-1-10-20201116Pablo Mateus dos Santos JacintoAinda não há avaliações
- Artigo - Ética e MoralDocumento16 páginasArtigo - Ética e Moralfabiocamargo21Ainda não há avaliações
- Aula 2 Saúde Mental e TrabalhoDocumento49 páginasAula 2 Saúde Mental e TrabalhoAdriana EmídioAinda não há avaliações
- Adulto e Seus DilemasDocumento16 páginasAdulto e Seus DilemasthaisAinda não há avaliações
- Ética e Moral - Entre o Bem e o MalDocumento39 páginasÉtica e Moral - Entre o Bem e o MalPaulo TarabaiAinda não há avaliações
- PDF Slides - Laudo PsicológicoDocumento8 páginasPDF Slides - Laudo PsicológicoPaula VilarAinda não há avaliações
- Tecnicas e Instrumentos de Testagem Psicologica - Grupo 1 - Turma 1Documento13 páginasTecnicas e Instrumentos de Testagem Psicologica - Grupo 1 - Turma 1maida lucasAinda não há avaliações
- Apostila Digital Manejo Clínico em Casos LimítrofesDocumento183 páginasApostila Digital Manejo Clínico em Casos LimítrofesJoceli teixeira rodriguesAinda não há avaliações
- Texto 03 - Vida e A Obra de Ignacio Martin BaroDocumento22 páginasTexto 03 - Vida e A Obra de Ignacio Martin BaroCândida PsiAinda não há avaliações
- Liderança e Seu Papel Na InclusãoDocumento135 páginasLiderança e Seu Papel Na InclusãoPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Ebook Liderança - Azeredo CostaDocumento54 páginasEbook Liderança - Azeredo CostadufacioliAinda não há avaliações
- Programas de Intervenção Na AdolescênciaDocumento14 páginasProgramas de Intervenção Na AdolescênciaNeyldson MoreiraAinda não há avaliações
- Slides Vida AdultaDocumento11 páginasSlides Vida AdultaCatiuce CardosoAinda não há avaliações
- Revisão Desenvolvimento Humano 2 ATUALDocumento14 páginasRevisão Desenvolvimento Humano 2 ATUALLashawn BaldwinAinda não há avaliações
- O Que É Projeto SocialDocumento5 páginasO Que É Projeto Socialnuro2010Ainda não há avaliações
- Conceitos Básicos Do Aconselhamento Não-DiretivoDocumento15 páginasConceitos Básicos Do Aconselhamento Não-DiretivosergioAinda não há avaliações
- Diálogos Entre A Ética e A Psicoterapia PDFDocumento5 páginasDiálogos Entre A Ética e A Psicoterapia PDFjessica rochAinda não há avaliações
- 2 Aconselhamento e Saude MentalDocumento29 páginas2 Aconselhamento e Saude MentalLiza LisAinda não há avaliações
- Abordagem Centrada Na Pessoa - Carl Rogers e Abraham MaslowDocumento5 páginasAbordagem Centrada Na Pessoa - Carl Rogers e Abraham MaslowAna cristina Borges candido100% (1)
- Slides PDFDocumento15 páginasSlides PDFMateus Butinhone100% (1)
- Entrevista Inicial em Terapia HumanistaDocumento9 páginasEntrevista Inicial em Terapia HumanistaGrazielle SantosAinda não há avaliações
- Psicanálise e TCCDocumento3 páginasPsicanálise e TCCmary AzevedoAinda não há avaliações
- Trabalho Apresentação PsicologiaDocumento26 páginasTrabalho Apresentação PsicologiaNatalia Antunes50% (2)
- Introdução A Psicanálise 01-O Que É A Psicanálise Principais PressupostosDocumento18 páginasIntrodução A Psicanálise 01-O Que É A Psicanálise Principais PressupostosAwo Awopeju OlagbajuAinda não há avaliações
- Depreesão No TrabalhoDocumento11 páginasDepreesão No TrabalhoGeu TeixeiraAinda não há avaliações
- AaaVida e A Obra de Ignacio Martin Baro e oDocumento26 páginasAaaVida e A Obra de Ignacio Martin Baro e ostefanie.santosAinda não há avaliações
- A Adolescência Como Ideal SocialDocumento7 páginasA Adolescência Como Ideal SocialAlexandre Dos SantosAinda não há avaliações
- O sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNo EverandO sentido da educação para adolescentes em conflito com a leiNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Manual de desenvolvimento de instrumentos psicológicosNo EverandManual de desenvolvimento de instrumentos psicológicosAinda não há avaliações
- Auto Percepção Como Parceiro Romêntico PDFDocumento204 páginasAuto Percepção Como Parceiro Romêntico PDFLillian OliveiraAinda não há avaliações
- Ensaio para Uma Teoria Político-SexualDocumento19 páginasEnsaio para Uma Teoria Político-SexualLillian OliveiraAinda não há avaliações
- Neurociências No Brasil PDFDocumento7 páginasNeurociências No Brasil PDFLillian OliveiraAinda não há avaliações
- Neuropsicologia 02.unlockedDocumento40 páginasNeuropsicologia 02.unlockedLillian Oliveira100% (1)
- Neuropsicologia 01.unlockedDocumento31 páginasNeuropsicologia 01.unlockedLillian OliveiraAinda não há avaliações
- Neuropsicologia 02.unlockedDocumento40 páginasNeuropsicologia 02.unlockedLillian Oliveira100% (1)
- NeuropsicologiaEPensamentoComplexo PDFDocumento17 páginasNeuropsicologiaEPensamentoComplexo PDFLillian OliveiraAinda não há avaliações
- ABC Das Alagoas A-FDocumento592 páginasABC Das Alagoas A-FLeonardo Amaral100% (1)
- Citacoes Filosoficas PolemicasDocumento192 páginasCitacoes Filosoficas PolemicasAguinaldo PavãoAinda não há avaliações
- Estratégias para o Sucesso DOC John C. Maxwell & Jim DornanDocumento89 páginasEstratégias para o Sucesso DOC John C. Maxwell & Jim DornanBaboi Júnior100% (1)
- Artes Na Educação: Carmela SoaresDocumento202 páginasArtes Na Educação: Carmela SoaresLeandro Freitas MenezesAinda não há avaliações
- FEEDFORWARDDocumento4 páginasFEEDFORWARDJaíneAinda não há avaliações
- Avaliação CHA (Respostas) PDFDocumento1 páginaAvaliação CHA (Respostas) PDFanderson.caueAinda não há avaliações
- Escala de Avaliacao de Tipos PsicologicoDocumento10 páginasEscala de Avaliacao de Tipos PsicologicoAugusto SavoldiAinda não há avaliações
- 5 2 3+-+identificando+seus+valoresDocumento3 páginas5 2 3+-+identificando+seus+valoreshadina gomesAinda não há avaliações
- Plano de Aula 5 - Dinâmica para Empreender - Busca JovemDocumento3 páginasPlano de Aula 5 - Dinâmica para Empreender - Busca JovemEdvânia Savani PerinAinda não há avaliações
- Estilo de Comportamento de Uma Minoria e A Sua Influência Nas Respostas de Uma MaioriaDocumento27 páginasEstilo de Comportamento de Uma Minoria e A Sua Influência Nas Respostas de Uma MaioriaCDuque100% (18)
- Livro O Processo Da Obsessão e DesobsessãoDocumento36 páginasLivro O Processo Da Obsessão e DesobsessãoViagem Sobre Duas RodasAinda não há avaliações
- Antes de Dizer Sim IDEAL 2Documento21 páginasAntes de Dizer Sim IDEAL 2Aender Borba100% (4)
- Temor de Homens e Respeito Por DeusDocumento9 páginasTemor de Homens e Respeito Por DeusMoacyr Lima100% (1)
- HPV MaterialApoio CV3 FK23ADocumento20 páginasHPV MaterialApoio CV3 FK23AAniceto McuacuaAinda não há avaliações
- A Importância Do Auto-Conceito txt8 AnoDocumento3 páginasA Importância Do Auto-Conceito txt8 Anobiogeo1011100% (1)
- Cópia de EBOOK 2 - Final OkDocumento120 páginasCópia de EBOOK 2 - Final Okeversonmachado9482100% (2)
- Atitude Do Terapeuta Na Relação Terapêutica e A Perspectiva Dialógica 2Documento26 páginasAtitude Do Terapeuta Na Relação Terapêutica e A Perspectiva Dialógica 2Vanessa GomesAinda não há avaliações
- 7 Técnicas para Ser Mais CorajosoDocumento4 páginas7 Técnicas para Ser Mais CorajosoBruno Damaceno de Almeida100% (1)
- Reflexão - UFCD 6559 - Comunicação Na Prestação de Cuidados de Saúde - Lígia BreyerDocumento7 páginasReflexão - UFCD 6559 - Comunicação Na Prestação de Cuidados de Saúde - Lígia BreyerLígia BreyerAinda não há avaliações
- Como Vender Qualquer Coisa Pra Qualquer UmDocumento165 páginasComo Vender Qualquer Coisa Pra Qualquer UmPatricia AntunesAinda não há avaliações
- Módulo 4 TCATDocumento14 páginasMódulo 4 TCATAndre FreitasAinda não há avaliações
- Por Que PerdoarDocumento17 páginasPor Que PerdoarperitapaulafernandaAinda não há avaliações
- Movimentos Na UmbandaDocumento10 páginasMovimentos Na UmbandaHersonAinda não há avaliações
- Mod 05 - Mercado Consumidor e Comportamento Do ConsumidorDocumento15 páginasMod 05 - Mercado Consumidor e Comportamento Do ConsumidorNivea BelloseAinda não há avaliações
- Tríade Do ConhecimentoDocumento23 páginasTríade Do ConhecimentoIsrael Levi AmancioAinda não há avaliações
- Sugestão de Plano de AulaDocumento1 páginaSugestão de Plano de AulaFelipe RodriguesAinda não há avaliações
- Manual Expansivo Do Portilho v1.0 Da v1.0Documento107 páginasManual Expansivo Do Portilho v1.0 Da v1.0Arthur HenriquesAinda não há avaliações