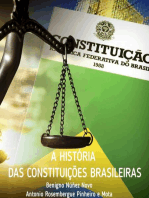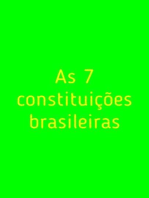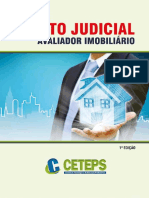Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livreto Michel Temer A5 Final
Livreto Michel Temer A5 Final
Enviado por
LucasTauferTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livreto Michel Temer A5 Final
Livreto Michel Temer A5 Final
Enviado por
LucasTauferDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Michel Temer
POR UMA
DEMOCRACIA
EFICIENTE
POR UMA
DEMOCRACIA
EFICIENTE
Michel Temer
2013
D
esde a Constituio republicana de 1891, sempre tivemos
crise institucional no Brasil. A cada perodo de vigncia de
uma Carta Magna, as crises se sucediam. Tivesse, ou no,
a Constituio, contedo democrtico. Foi assim em 1891,
com a primeira Constituio, editada logo depois do Decreto n1, de 15
de novembro de 1889 que proclamou a Repblica como forma de gover-
no e a Federao como forma de Estado. Inspirou-se na Constituio
norte-americana. Por isso, trouxe em seu interior as teses do liberalis-
mo. As amplas liberdades no evitaram crises de consequncias pol-
ticas dramticas: Guerra de Canudos, Revolta da Chibata, Guerra do
Contestado, o Movimento Tenentista e a Coluna Prestes. Tudo isso at
o golpe de 1930 quando se inaugurou sistema declaradamente direto-
rial que perdurou at 1934.
Nesse ano, breve intervalo com a nova Constituio exigida pela classe
poltica e vrios setores da nacionalidade. Mas as crises no findaram.
Continuaram at 1937, quando se edita nova Constituio. Desta vez,
de feito jurdico declaradamente autoritrio e centralizador. O Presi-
dente, que governou por decreto no perodo de 1930 a 1934, obteve,
no texto Constitucional a prerrogativa de legislar por meio de decre-
tos-leis. Tudo isso perdurou at 1945, com os mais variados movimen-
tos insurrecionais. Sempre crise institucional. Veio a Constituio de
Por uma democracia eficiente
Michel Temer
Vice-Presidente da Repblica
1946, com dizeres democrticos. Mas a crise institucional no termi-
nou. Em 1950, retornou, pela via eleitoral, o Presidente Getlio Vargas
que governara, no passado, com o Legislativo fechado. Mesmo com a
vigncia de critrios democrticos derivados da Constituio de 1946,
os conflitos no diminuram e tinham repercusso nas instituies e
na sociedade. Tudo isso levou ao suicdio de Vargas e sucessivas crises
institucionais com a assuno ora do Vice-Presidente ora de outras au-
toridades, segundo a vocao constitucional: o presidente da Cmara,
Carlos Luz e o do Senado, Nereu Ramos. No houve paz interna at
a eleio de Juscelino Kubitschek, cujo governo tambm enfrentou
sedies. Veja-se Aragaras e Jacareacanga.
Veio a eleio de Janio Quadros, que renunciou em seis meses. Nova
crise, portanto, a que se seguiu outra: a posse ou no, de Joo Goulart,
vice-presidente. Para que Jango pudesse assumir, engendrou-se o par-
lamentarismo. Trs primeiros-ministros passaram pelo poder, com a
gerao de grande instabilidade poltica e social. O parlamentarismo
durou pouco. Em 1963, aps plebiscito, retornou-se ao sistema presi-
dencialista. Jango, j presidente, enfrentou crise aps crise. Os conflitos
eram tantos que sobreveio o golpe de 31 de Maro de 1964. Findava-se o
perodo regido pela Constituio de 1946 e iniciava-se outro cuja regn-
cia era dada pelos Atos Institucionais. Foram vrios. Todos centralizando
o poder na figura do presidente da Repblica. Especialmente o AI-5 de
1968, apesar de havermos editado Constituio em 1967. Os conflitos se
sucediam, inclusive com movimentos armados que, por meio de guer-
rilha, buscavam derrubar o Poder que fora constitudo s custas e atos
jurdicos impositivos extremamente autoritrios. Foram tais e tantas as
crises que o povo exigiu o retorno democracia, no sem antes termos
passado por vrias perturbaes institucionais. Vejam que remarco e in-
sisto na expresso crise institucional. Porque esta a mais grave delas.
A palavra merece uma gradao, e fao, aqui, um parntesis. A crise
pode ser administrativa quando h desmando ou m conduo
das atividades pblicas. Pode ser econmica quando os critrios
regentes da economia geram perdas para o Pas. Pode ser poltica
quando, na democracia, o Executivo no tem suficiente apoio no
Parlamento, para levar adiante os seus planos. E pode ser institu-
cional. As primeiras so contornveis. A ltima a mais grave delas
porque, no geral, exige mudana da prpria estrutura do Estado, ou
nova ordem constitucional. Ou seja, novo Estado. Foi o que aconte-
ceu em 1934, 1937, 1946, 1964/67 quando as vrias crises abalaram
os alicerces do Estado e os destruram ao ponto de demandar um
novo Estado. Fecho o parntesis.
Chegamos a 1988, quando a Assemblia Constituinte produziu o
Estado brasileiro atual. Conseguiu na Constituio um amlgama da
democracia direta (plebiscito, referendo, iniciativa popular) com a
indireta (representao dos parlamentos). Nela esto preceitos de
liberalismo (longo elenco de direitos individuais, liberdades como a
da imprensa, da reunio, de associao) ao lado de direitos sociais.
Dou como exemplo o direito alimentao e moradia, preceitos que
geraram o Bolsa Famlia e o programa Minha Casa Minha Vida. Milha-
res de brasileiros ascenderam socialmente e atendeu-se ao princpio
da dignidade humana (C.F., art 1, III). Como todos esses preceitos
vm sendo aplicados, no temos crise institucional. Diferentemente
do passado, e embora a Constituio Federal j tenha a idade de 25
anos, no se esboa nenhuma necessidade de modificao institu-
cional. Ainda recentemente, convivemos com um movimento popu-
lar, nas ruas, de enorme dimenso. Embora alguns se incorporassem
a esses movimentos para gerar uma crise institucional ( exemplo o
caso dos depredadores do patrimnio pblico e privado), o pas no
se abalou. Ao contrrio. Executivo e Legislativo atenderam ao clamor
popular tomando mais rapidamente serie de medidas exigidas por
aqueles movimentos.
Rompemos, assim, com o ciclo histrico brasileiro que fazia com a que
cada 20, 25 anos, tivssemos de recriar o Estado. Este, ancorado nos
preceitos da Constituio, continua forte e sobranceiro. Temos sido
capazes de evitar crise institucional pela aplicao dos dispositivos
constitucionais. Afinal, o direito existe para regular as relaes sociais
em busca da harmonia entre os vrios setores da nacionalidade. Em
outra palavra: o direito estabelece quais so as regras do jogo. Desde
que se as obedea, no h porque mudar.
E, agora, tento explicar as razes do movimento popular recente que
ocupou as ruas das principais cidades brasileiras. Embora tenha de-
monstrado vigor, no abalou as instituies do Estado. Importante,
em tudo, que no nos desviemos dos critrios democrticos fixa-
dos na Constituio Federal. a aplicao deles que tem impedido a
crise institucional.
Relembro: o Estado brasileiro nasceu juridicamente em 5 de outubro
de 1988, data da Constituio Federal. O texto foi escrito sob o efeito
das liberdades consquistadas. Da porque se adotaram os precei-
tos da democracia depois da Constituo passou por trs fases. A pri-
meira delas a democracia liberal quando as liberdades individuais
e as liberdades pblicas foram no s enfatizadas no texto constitucio-
nal, mas aplicadas com grande empenho.
Para explicar o movimento que foi s ruas, costumo dizer que depois
de 1988 tivemos trs formulas da democracia: a primeira delas que
chamei de democracia liberal, quando as liberdades pblicas e indi-
viduais foram estabelecidas no texto constitucional e praticadas
saciedade. A segunda frmula democrtica foi a democracia social,
quando aqueles que usufruram das liberdades passaram a perceber
que elas por si s no eram suficientes. Faltava aquilo que podemos
chamar de democracia social ou democracia do po sobre a mesa.
Ou seja, da busca pela saciedade dos direitos sociais, do atendimen-
to s necessidades individuais sociais mais bsicas. E esta frmula
democrtica ensejou no s planos como o Bolsa Famlia e o Minha
Casa Minha Vida, como permitiu extraordinria ascenso social de
mais de 35 milhes de pessoas classe mdia, ainda que no primeiro
patamar daquela classe.
Ora, estes que foram para a classe mdia se incorporaram a outros
milhes de pessoas que j nela se achavam e passaram a exigir no
apenas aquilo que j haviam conquistado, como bens de consumo,
mas passaram a exigir outra frmula de democracia. A esta, eu chamo
de democracia eficiente. Ou seja, passou a se exigir maior qualidade
nos servios pblicos prestados ao povo. At porque, quem no tinha
carro e o adquiriu vai para as ruas e fica preso no trnsito das gran-
des cidades. Levam duas, trs horas para chegar ao trabalho. Quando
entram no metr, nos nibus e em avies os encontram superlotados
e incapazes de lhe oferecer um mnimo de conforto e dignidade no
transporte. Passou-se a exigir, volto a insistir, uma democracia eficien-
te. E esta busca por uma democracia eficiente fez com que muitos mi-
lhares de pessoas fossem s ruas.
Sem a compreenso das fases pelas quais passou a democracia bra-
sileira (liberal, social e eficiente) fica difcil entender as razes do mo-
vimento popular. Mas, ao mesmo tempo em que se exigiam servios
pblicos eficientes, passou-se a exigir tambm um comportamento
poltico eticamente inatacvel do homem pblico. Da a razo pela
qual essa eficincia democrtica exige tambm reformulaes no
sistema poltico brasileiro. Geraram, por isso, movimentaes no Exe-
cutivo e no Legislativo para dar agilidade a processos antes cogitados,
estudados e examinados. Agora, eles passam a ser aplicados. Na de-
mocracia que emergiu das ruas brasileiras nos ltimos dias, a voz dos
manifestantes no era rouca, mas clara, lmpida e cristalina.
Note-se: houve grande movimentao e agitao social, mas no se
cogitou de nenhuma crise institucional. E volto a dizer, para referendar
o histrico que fiz desde a primeira constituio republicana, que as
razes da estabilidade institucional e da adequao social s realida-
des constitucionais derivam exatamente de obedincia estrita aos pa-
dres jurdicos estabelecidos pela atual Constituio Federal. Portan-
to, devemos saudar este momento brasileiro em que, sem embargo
das movimentaes sociais, o Estado brasileiro continua funcionando
com pleno vigor institucional.
Fundao Ulysses Guimares Nacional
Cmara dos Deputados Anexo I 26 Andar Salas 3 e 4
CEP 70160-900 Braslia DF
61 3216.9758 3216.9759
ead@fundacaoulysses.org.br
FundaoUlyssesGuimaresNacional
FundUlysses
FundUlysses
#EDUCAOLIBERTA
www.fundacaoulysses.org.br
Você também pode gostar
- Jorge Reis Novais - Teoria Do Estado 4 PDFDocumento126 páginasJorge Reis Novais - Teoria Do Estado 4 PDFPedro Elias100% (2)
- PDF para GCM Completo OrganizadoDocumento255 páginasPDF para GCM Completo Organizadopaulo ricardo100% (1)
- Artigo CONSTITUIÇÃO de 1937.Documento5 páginasArtigo CONSTITUIÇÃO de 1937.Dalva NetaAinda não há avaliações
- D. Constitucional - Constitucionalismo - Etapas de EvoluçãoDocumento3 páginasD. Constitucional - Constitucionalismo - Etapas de Evoluçãoguiill9009100% (1)
- Principios Penais Constitucionais e Politica Criminal - Dermeval FariasDocumento3 páginasPrincipios Penais Constitucionais e Politica Criminal - Dermeval FariasTaiênny Santos100% (1)
- Cidadania No Brasil ResumoDocumento9 páginasCidadania No Brasil Resumojooaokiau50% (2)
- REDEMOCRATIZAÇÃO 9º Leandro e BrunaDocumento3 páginasREDEMOCRATIZAÇÃO 9º Leandro e BrunaAna Paula Danilo100% (1)
- Mapa Eu Vou Passar AFRFDocumento23 páginasMapa Eu Vou Passar AFRFInteracursos ParnamirimAinda não há avaliações
- CP Iuris - Ebook de Direito ConstitucionalDocumento8 páginasCP Iuris - Ebook de Direito ConstitucionalValter NogueiraAinda não há avaliações
- Direito Constitucional II Márcia Cabral BarrosoDocumento67 páginasDireito Constitucional II Márcia Cabral BarrosoDuarte BastosAinda não há avaliações
- A Cidadania Após A RedemocratizaçãoDocumento3 páginasA Cidadania Após A RedemocratizaçãoKarenDayseAinda não há avaliações
- Crises Da Democracia-9788537818848Documento25 páginasCrises Da Democracia-9788537818848Márcio FabrisAinda não há avaliações
- Resumo - Aula Constitucional - LFGDocumento29 páginasResumo - Aula Constitucional - LFGCamila Sanson100% (1)
- Constitucionalismo Abusivo, Flavio MartinsDocumento13 páginasConstitucionalismo Abusivo, Flavio MartinsCharlles SantosAinda não há avaliações
- BERCOVICI, Gilberto - Tentativa de Institucionalização Da Democracia de MassasDocumento41 páginasBERCOVICI, Gilberto - Tentativa de Institucionalização Da Democracia de MassasIsaias Mota Alves FilhoAinda não há avaliações
- 1 Apostila Constitucional 1Documento73 páginas1 Apostila Constitucional 1Ma Zinha100% (1)
- Aula 1Documento50 páginasAula 1RCdoctor100% (1)
- As Múltiplas Face Da Constituição CidadãDocumento22 páginasAs Múltiplas Face Da Constituição CidadãPaulo SantosAinda não há avaliações
- Democracia e MercadoDocumento39 páginasDemocracia e MercadoFARK BRAinda não há avaliações
- Democracia e MercadoDocumento44 páginasDemocracia e MercadoMaria catarinaAinda não há avaliações
- Disserte Sobre A Constitucionalização Do Direito Da Responsabilidade CivilDocumento10 páginasDisserte Sobre A Constitucionalização Do Direito Da Responsabilidade CivilLaryssa Custódio de FrançaAinda não há avaliações
- DemocraciaDocumento16 páginasDemocraciaTaislaineAinda não há avaliações
- Atividade I - O Estado Neoconstitucinalista - André Pires BitencourtDocumento2 páginasAtividade I - O Estado Neoconstitucinalista - André Pires BitencourtBitencourt_AndreAinda não há avaliações
- DIREITOCONSTITUCIONALDocumento12 páginasDIREITOCONSTITUCIONALlidiamdfariasAinda não há avaliações
- 2bimestreparteiié de PapeloupravalerDocumento5 páginas2bimestreparteiié de Papeloupravaleranny Karollynny Da silva gomesAinda não há avaliações
- RedemocratizaçãoDocumento3 páginasRedemocratizaçãoHenrique OliveiraAinda não há avaliações
- Jose Murilo de Carvalho Cidadania Estadania e Apatia PDFDocumento6 páginasJose Murilo de Carvalho Cidadania Estadania e Apatia PDFMárciaLúcia100% (1)
- TCC - OsvaldoDocumento16 páginasTCC - OsvaldocelioAinda não há avaliações
- O Que É Cidadania e o Que Falta No Brasil? - Politize!Documento8 páginasO Que É Cidadania e o Que Falta No Brasil? - Politize!vitoriaclavilhoAinda não há avaliações
- A história das constituições brasileiras: Constituições brasileirasNo EverandA história das constituições brasileiras: Constituições brasileirasAinda não há avaliações
- A Constituição de 1934Documento65 páginasA Constituição de 1934Davi FaildeAinda não há avaliações
- Resumo Constitucional e Metodologia Jurídica - 26ºDocumento253 páginasResumo Constitucional e Metodologia Jurídica - 26ºDaniela Bezerra de MenezesAinda não há avaliações
- Constitucional e Metodologia Juridica - DesatualizadoDocumento305 páginasConstitucional e Metodologia Juridica - Desatualizadojorgejunior1987Ainda não há avaliações
- Resumo Constitucional e Metodologia Juri Üdica - 26Documento217 páginasResumo Constitucional e Metodologia Juri Üdica - 26ItaporangaAinda não há avaliações
- As 7 constituições brasileiras: Constituições do BrasilNo EverandAs 7 constituições brasileiras: Constituições do BrasilAinda não há avaliações
- Constitucionalismo e Suas EspéciesDocumento11 páginasConstitucionalismo e Suas EspéciessouacademicadedireitoAinda não há avaliações
- As 7 Constituições Brasileiras e A GlobalizacaoDocumento8 páginasAs 7 Constituições Brasileiras e A Globalizacaosamuel080Ainda não há avaliações
- Trabajo Final FundamentosDocumento16 páginasTrabajo Final FundamentosJorge Fuentes ContrerasAinda não há avaliações
- As Constituições Do BrasilDocumento3 páginasAs Constituições Do BrasilSimmAinda não há avaliações
- Aula - 2.9 - A Cidadania Redemocratizacao Brasil AtualDocumento11 páginasAula - 2.9 - A Cidadania Redemocratizacao Brasil AtualLup TênisAinda não há avaliações
- Documento Sem Título-1Documento7 páginasDocumento Sem Título-1herbertvictors86Ainda não há avaliações
- Somos Todos Constituintes - Revista de HistóriaDocumento4 páginasSomos Todos Constituintes - Revista de HistóriaDanilo NogueiraAinda não há avaliações
- O Novo Constitucionalismo Latino AmericanoDocumento5 páginasO Novo Constitucionalismo Latino AmericanoamandacmmoreirammAinda não há avaliações
- 04 HistoriaDocumento38 páginas04 HistoriaGenivaldo Alexandre SantosAinda não há avaliações
- AULA 14 HISTÓRIA MAPA TEXTUAL (1) - Documentos GoogleDocumento3 páginasAULA 14 HISTÓRIA MAPA TEXTUAL (1) - Documentos Googletaylon.duarteAinda não há avaliações
- A Constituição e A Democracia Portuguesa - Jorge MirandaDocumento9 páginasA Constituição e A Democracia Portuguesa - Jorge MirandaAna MargaridaAinda não há avaliações
- DFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDocumento25 páginasDFS - A Baixa Densidade Democrática No Brasil e Sua Relação Com Conservadorismo Do Poder Judiciário Na Interpretação ConstitucionalDenival SilvaAinda não há avaliações
- Resumo PDF CF 01Documento12 páginasResumo PDF CF 01Felipe RibeiroAinda não há avaliações
- Resenha - Metamorfoses Do Estado Brasileiro No Final Do Século XX. SALLUM, BrasilioDocumento8 páginasResenha - Metamorfoses Do Estado Brasileiro No Final Do Século XX. SALLUM, BrasilioDanilo VieiraAinda não há avaliações
- Bps n.17 PolíticasocialDocumento82 páginasBps n.17 PolíticasocialDiogo CalsAinda não há avaliações
- A Constituição de 1988 e A Democracia ParticipativaDocumento19 páginasA Constituição de 1988 e A Democracia ParticipativaDayvson MouraAinda não há avaliações
- Direito Constitucional CompletoDocumento162 páginasDireito Constitucional Completoivohfa100% (1)
- Análise: Estado Novo: o Que Trouxe de Novo?Documento6 páginasAnálise: Estado Novo: o Que Trouxe de Novo?João Paulo CamposAinda não há avaliações
- Redemocratização Do BrasilDocumento4 páginasRedemocratização Do Brasilcardosoyasmim838Ainda não há avaliações
- 10 Pontos Importantes Da Republica BrasileiraDocumento5 páginas10 Pontos Importantes Da Republica Brasileiraitaney_lacerda7635Ainda não há avaliações
- Regime DemograficoDocumento90 páginasRegime DemograficoDias AssessoriaAinda não há avaliações
- Monitoria 1Documento5 páginasMonitoria 1Junio ResendeAinda não há avaliações
- A Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraDocumento21 páginasA Democracia Participativa Na Gestão Pública BrasileiraDaniel DemarqueAinda não há avaliações
- História Constitucional Portuguesa PDFDocumento52 páginasHistória Constitucional Portuguesa PDFmaria50% (2)
- República BrasileiraDocumento4 páginasRepública BrasileiraCarolina LimaAinda não há avaliações
- Fundamentos NettoDocumento2 páginasFundamentos NettoDavid MoraisAinda não há avaliações
- Exame História 2023 (2 Fase)Documento6 páginasExame História 2023 (2 Fase)leonorfonseca872Ainda não há avaliações
- Constitucionalismo e Neoconstitucionalismo - BarrosoDocumento23 páginasConstitucionalismo e Neoconstitucionalismo - BarrosoEliezer CavalheiroAinda não há avaliações
- CARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Documento226 páginasCARVALHO José Murilo De. Cidadania No Brasil1Lidi MesquitaAinda não há avaliações
- Trinca1 PDFDocumento177 páginasTrinca1 PDFLucasTauferAinda não há avaliações
- Volvismo Nova ExponencialDocumento88 páginasVolvismo Nova ExponencialLucasTauferAinda não há avaliações
- A Histria de Um RebeldeDocumento428 páginasA Histria de Um RebeldeLucasTauferAinda não há avaliações
- Vol 01 Tancredo NevesDocumento360 páginasVol 01 Tancredo NevesLucasTaufer100% (1)
- Do - Do - Curso 181965 Aula 02 Prof Paulo H Sousa 277f CompletoDocumento28 páginasDo - Do - Curso 181965 Aula 02 Prof Paulo H Sousa 277f CompletoAndréAinda não há avaliações
- O Futuro Da Democracia - Um Resumo Da Obra de Norberto BobbioDocumento112 páginasO Futuro Da Democracia - Um Resumo Da Obra de Norberto BobbioOsmar Reis100% (1)
- Apostila Ceteps Corretor JudicirioDocumento235 páginasApostila Ceteps Corretor Judiciriofernando2203Ainda não há avaliações
- Resumo Teoria Da Escolha PublicaDocumento3 páginasResumo Teoria Da Escolha Publicanetolonlive100% (1)
- História Das 4 Primeiras ConstituiçõesDocumento2 páginasHistória Das 4 Primeiras ConstituiçõesAndre LuizAinda não há avaliações
- Direito Internacional Privado PDFDocumento96 páginasDireito Internacional Privado PDFRodrigo EjkAinda não há avaliações
- Dossiê Contra Liminar de Despejo Atlantic BeachDocumento22 páginasDossiê Contra Liminar de Despejo Atlantic BeachJoaoAinda não há avaliações
- Direito EconomicoDocumento20 páginasDireito EconomicoLúvia Faria de OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo Direito e Processo Penal Militar - Aula 01 (08.11.2011) PDFDocumento18 páginasResumo Direito e Processo Penal Militar - Aula 01 (08.11.2011) PDFDouglas AlbaradoAinda não há avaliações
- 2018 Dis Icamaia PDFDocumento177 páginas2018 Dis Icamaia PDFElaina ForteAinda não há avaliações
- OAB - Provas PDFDocumento451 páginasOAB - Provas PDFFrancisco Lima Figueiredo100% (2)
- O Princípio Da Proibição de Abuso Dos Direitos FundamentaisDocumento10 páginasO Princípio Da Proibição de Abuso Dos Direitos FundamentaisJose Carlos HenriquesAinda não há avaliações
- GONÇALVES, Marcos. As Tentações Integralistas - Um Estudo Sobre As Relações Entre Catolicismo e Política No Brasil (1908-1937)Documento364 páginasGONÇALVES, Marcos. As Tentações Integralistas - Um Estudo Sobre As Relações Entre Catolicismo e Política No Brasil (1908-1937)JoaoAinda não há avaliações
- 0000392-47.2021.8.03.0000 - #106 - Acórdão-Provimento em Parte - 6032367Documento12 páginas0000392-47.2021.8.03.0000 - #106 - Acórdão-Provimento em Parte - 6032367JoaoVitorAinda não há avaliações
- Deputados e Senadores Assinam Pedido de 'Impeachment' de BarrosoDocumento31 páginasDeputados e Senadores Assinam Pedido de 'Impeachment' de BarrosoAnderson ScardoelliAinda não há avaliações
- Monografia - Proteção Jurídica Da Segurança e Saúde Dos TrabalhadoresDocumento80 páginasMonografia - Proteção Jurídica Da Segurança e Saúde Dos TrabalhadoresRanniery CastelloAinda não há avaliações
- Relatório ADO 47Documento5 páginasRelatório ADO 47Sinpol-DFAinda não há avaliações
- Textos de ApoioDocumento20 páginasTextos de ApoioA Tall Chatinha MachacaAinda não há avaliações
- Prerrogativas e Garantias Dos Defensores Públicos Relacionadas Com o Processo)Documento25 páginasPrerrogativas e Garantias Dos Defensores Públicos Relacionadas Com o Processo)Vitor Bittencourt HeitnerAinda não há avaliações
- A Crise e o Direito PúblicoDocumento220 páginasA Crise e o Direito PúblicoLucccasAinda não há avaliações
- Wellington Barbosa Nogueira Júnior. Do Pluralismo Jurídico Ao Diálogo TransconstitucionalDocumento105 páginasWellington Barbosa Nogueira Júnior. Do Pluralismo Jurídico Ao Diálogo TransconstitucionalAdriano de SousaAinda não há avaliações
- A Sindicabilidade Do Ato Administrativo Decorrente Do Poder Discricionário Pelo JudiciárioDocumento6 páginasA Sindicabilidade Do Ato Administrativo Decorrente Do Poder Discricionário Pelo Judiciáriom074h3u5Ainda não há avaliações
- Questões Provão Caveiras IDocumento13 páginasQuestões Provão Caveiras IYuri kauan MTAAinda não há avaliações
- E-Book Pos Ead Comum - (PBE)Documento38 páginasE-Book Pos Ead Comum - (PBE)Walter Ferreira RebouçasAinda não há avaliações
- Polêmica Entre Robert Alexy e EugenioDocumento11 páginasPolêmica Entre Robert Alexy e EugenioAlexsandre Victor Leite PeixotoAinda não há avaliações