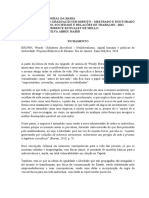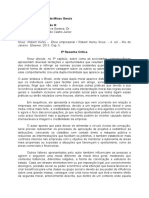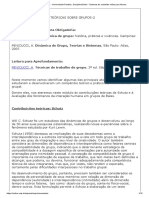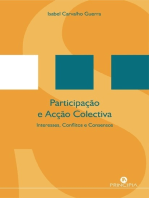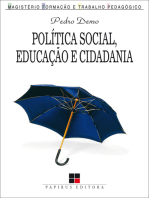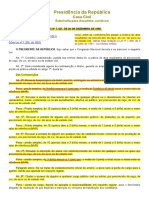Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Motta - Administração e Participação - Reflexões para A Educação
Motta - Administração e Participação - Reflexões para A Educação
Enviado por
Beatriz Gomes NadalTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Motta - Administração e Participação - Reflexões para A Educação
Motta - Administração e Participação - Reflexões para A Educação
Enviado por
Beatriz Gomes NadalDireitos autorais:
Formatos disponíveis
369
Educao e Pesquisa, So Paulo, v.29, n.2, p. 369- 373, jul./ dez. 2003
Ad m inis t r a o e p a r t ic ip a o : reflexes para a educao
Fernando C. Prestes Motta
Uni versi dade de So Paul o
R e s u m o
Este artigo trata dos conceitos de participao conflitual, par-
ticipao funcional, participao administrativa, co-gesto e
autogesto, discutindo a noo e o papel da educao
participativa na construo de uma nova sociedade.
P a l a v r a s - c h a v e
Administrao Participao Co-gesto Auto-gesto
Educao.
Do ponto de vista meramente descriti-
vo, administrar planejar, organizar, coordenar,
comandar e controlar.
Essa definio, que data dos primrdios
da teoria organizacional, continua absoluta-
mente correta, mesmo considerando-se todos
os avanos que esse campo do conhecimento
experimentou durante o sculo XX.
Entretanto, nem sempre se atenta para
o fato de que se administrar planejar, organi-
zar, coordenar, comandar e controlar; ser admi-
nistrado significa ser planejado, organizado,
comandado e controlado. Tambm no se aten-
ta para o fato de que quem administra uma
minoria, enquanto que a maioria absoluta da
populao administrada.
O que observei serve apenas para indicar
que a administrao possui tambm um significa-
do poltico freqentemente negligenciado. Do
ponto de vista poltico, administrar significa exer-
cer um poder delegado.
Com isso quero chamar a ateno para
o fato de que se administra em nome daque-
les que dispem dos meios de administrao,
isto , que dispem de poder econmico ou
poltico, ou em nome prprio.
Isso s ocorre quando os prprios
administradores detm o poder econmico e po-
ltico, o que parece ser seu projeto, mas que ain-
da no corresponde totalmente aos contextos
sociais dos pases ditos capitalistas. Evidente-
mente, s se exerce poder sobre algum, sobre
algum grupo, ou sobre uma coletividade. Isso
quer dizer que se exerce um poder delegado
pela elite econmica e poltica sobre aqueles
que no detm poder algum ou, na melhor das
hipteses, dispem de pouco poder real.
Por poder entendo a posse de recursos
que permite direcionar o comportamento do
outro ou dos outros em determinada direo
almejada por quem a detm. H muitas formas
de se exercer poder. Pode-se impor, pode-se
coagir pode-se corromper, pode-se persuadir,
pode-se seduzir, pode-se manipular. Em muitas
situaes todas essas possibilidades podem
entrar no jogo do poder e nem sempre fcil
discernir uma modalidade da outra.
As vrias modalidades de exerccio do
poder permeiam as relaes sociais. No vejo a
possibilidade de qualquer relao social na qual
pelo menos uma modalidade de exerccio do
poder no acabe ocorrendo.
Educao e Pesquisa, So Paulo, v.29, n.2, p. 369- 373, jul./ dez. 2003
370
H, entretanto, o caso do poder exer-
cido por um conjunto de administradores pro-
fissionais que se estruturam hierarquicamente e
que, em nome da racionalidade e do conheci-
mento, planejam, organizam, coordenam, co-
mandam e controlam, por uma relao de
mando e subordinao, uma determinada cole-
tividade. A isto, inspirado em Max Weber, cha-
mo dominao.
1
A primeira indagao que me ocorre
refere-se questo da racionalidade. Quer me
parecer que a racionalidade a que geralmente
se refere quando se fala de administrao
apenas um tipo de racionalidade, a saber, a
racionalidade instrumental, aquela vinculada
adequao mais eficiente entre meios e fins.
Isso significa que geralmente se deixa de
lado a racionalidade com relao a valores, isto
, os modos de pensar que orientam aes liga-
das ao que se percebe como desejvel, adequado
e inadequado, justo e injusto, e assim por diante.
Ocorre tambm que a prpria ao
afetiva entre seres humanos no se baseia
numa irracionalidade, mas num determinado
modo de pensar. Entretanto, no dessas lti-
mas formas que vive a administrao.
Outro ponto refere-se ao conhecimen-
to como base para o exerccio do poder.
importante ressaltar que h questes adminis-
trativas que exigem conhecimento especializa-
do, enquanto outras exigem apenas conheci-
mento comum.
O problema, entretanto, est em saber
se o conhecimento especializado pode ser le-
gitimamente suficiente para a dominao.
A questo s se toma relevante na medi-
da em que se vive num mundo cada vez mais
administrado, isto , num mundo onde predomi-
nam as grandes organizaes como o Estado, as
grandes empresas, etc. A dominao mediante
organizao inseparvel da opresso, na medi-
da em que se retira do dominado a faculdade de
pensar e decidir sobre o que faz, pelo menos em
determinadas esferas da vida, como o trabalho.
Tambm inseparvel da opresso na
medida em que implica uma administrao do
tempo, contrria a qualquer noo conhecida de
liberdade, bem como em uma organizao geral-
mente rgida do espao, alm da utilizao regular
de sanes disciplinares e da regulao das rela-
es sociais em benefcio da produtividade.
Opresso no necessariamente sinni-
mo de explorao. A primeira categoria pol-
tica, enquanto a segunda econmica. Mesmo
que os administrados no estejam sendo explo-
rados, ainda assim podem estar sendo oprimidos.
Se a administrao nos moldes em que
a conhecemos parece, em sentido absoluto, no
poder perder o aspecto coercivo que lhe
prprio, certamente pode ter esse aspecto
minimizado. Uma das formas de minimizar o
aspecto coercivo da administrao a partici-
pao. Falo evidentemente de participao
autntica e no de modalidades de manipula-
o camufladas sob este rtulo.
Evidentemente, participar no significa
assumir um poder, mas participar de um poder,
o que desde logo exclui qualquer alterao
radical na estrutura de poder. Ainda, freqen-
temente difcil avaliar at que ponto as pes-
soas efetivamente participam na tomada e na
implementao das decises que dizem respeito
coletividade e at que ponto so manipula-
das.
Uma observao mesmo superficial de
algumas experincias participativas revela
que os dois aspectos no so excludentes,
isto , que perfeitamente possvel que a co-
letividade influa sobre o poder, ao mesmo
tempo em que este procura coopt-la para
seus objetivos.
Todavia, a preocupao com a participa-
o algo que decorre de valores democrticos,
isto , da idia de que a sociedade ou as cole-
tividades menores como a empresa ou a escola
so pluralistas, constituindo-se num sistema de
pessoas e grupos heterogneos, e que, por isto
mesmo, precisam ter seus interesses, suas von-
tades e seus valores levados em conta.
1. WEBER, Max. Economia y Sociedad. Mxico, Fundo de Cult ura Econ-
mi ca, Tomo II. 1975.
371
Educao e Pesquisa, So Paulo, v.29, n.2, p. 369- 373, jul./ dez. 2003
Participar no implica necessariamente
que todas as pessoas ou grupos opinem sobre
todas as matrias, mas implica necessariamen-
te algum mecanismo de influncia sobre o
poder. Para participar necessrio algum co-
nhecimento e certas habilidades polticas. Isso
varia conforme a amplitude da participao e a
natureza das matrias em que se participa.
Boa parte desses conhecimentos e ha-
bilidades so entretanto fruto da prpria expe-
rincia, o que significa que no se pode espe-
rar que s se inicie a participao quando es-
ses requisitos estiverem preenchidos.
Evidentemente, uma educao parti-
cipativa favorece a aquisio de habilidades de
valor na participao na administrao na idade
adulta. Participar tambm implica um desejo. Pes-
soas educadas em contextos muito autoritrios
podem simplesmente preferir no participar. Esse
aspecto parece essencial, visto que a participao
implica um alto grau de envolvimento e, com fre-
qncia, o envolvimento implica desgaste emoci-
onal ou mesmo fsico.
2
A participao imposta, isto , os for-
matos participativos criados pela prpria admi-
nistrao e voltados para a maior eficincia da
organizao, para a melhoria dos canais de
comunicao e de nvel de satisfao no so
necessariamente indesejveis.
O problema que se coloca para a par-
ticipao imposta que ela abre uma oportu-
nidade, mas no um leque de possibilidades, a
ser explorada pela prpria coletividade. Ela, at
mesmo, com freqncia, ignora se a participa-
o um desejo efetivo de comunidade. Entre-
tanto, o que a preocupao com a participao
e os movimentos participacionistas revelam
que esse desejo vem se ampliando na maioria
dos pases, desde aqueles de tradio democr-
tica mais forte at aqueles de tradio mais
autoritria.
H formatos participativos em pases
capitalistas avanados como os Estados Unidos,
a Frana, a Alemanha, a Gr-Bretanha, em pa-
ses que se dizem socialistas como os do Leste
europeu e em pases subdesenvolvidos como o
Brasil. certo que varia muito a natureza des-
ses formatos e seus resultados, de contexto para
contexto, mas tambm certo que dia a dia
ampliam-se as experincias participativas seja em
nvel de Estado, seja em outros nveis, como os
da escola e da empresa.
Historicamente, os movimentos parti-
cipacionistas surgem com a situao de explora-
o e de opresso na empresa que a aplicao do
taylorismo, primeira teoria administrativa, tornou
transparente. O taylorismo implicou a destruio
dos restos de oficio que o trabalho conservava.
Separou concepo de execuo, introduziu tem-
pos e movimentos rgidos e, seguido do fordismo,
organizou rigidamente o espao.
Chama-se participao conflitual aquela
que se desenvolveu como oposio ao taylorismo.
Baseia-se no processo de negociao coletiva
entre patronato e sindicato de trabalhadores. Essa
forma de participao vigora na maior parte dos
pases ocidentais, mas seus resultados nem sem-
pre tm se mostrado suficientes.
Entre outros problemas, a negociao
coletiva exclui a maioria dos trabalhadores e
regressiva, visto que supe que as cpulas sin-
dicais falem pelos trabalhadores. Isso tem leva-
do os trabalhadores a procurar outras formas
um pouco mais autnomas de participao.
Chama-se participao funcional a pr-
tica de reunies peridicas entre patres e tra-
balhadores, entre administradores, funcionrios
e trabalhadores, entre unidades organizacionais
e entre nveis hierrquicos em geral. Essas reu-
nies servem de ocasio para o debate, para a
consulta e a informaao.
Participao administrativa um tipo
especial de participao, que se organiza por
representao. H, neste caso, a formao de
comisses de trabalhadores, ou de trabalhado-
res e funcionrios ou ainda de comisses que
renem administradores e trabalhadores, ou
administradores, funcionrios e trabalhadores.
2 . SILVA, Jorge F. da, Pl anej ament o e Admi ni st rao Part i ci pat i vos em
Educao. Conferncia. 4. Rio de Janeiro, Instituto de Estudos Avanados
em Educao, Fundao Getlio Vargas. Mimeografado.
372 Fernando C. P. MOTTA. Admi ni st rao e part i ci pao. . .
Essas comisses so muito semelhantes
a algumas experincias no plano da administra-
o da educao, especialmente em termos de
universidade, no que se refere a rgos de re-
presentao discente, ou a rgos colegiados
que renem representantes tanto do corpo
docente quanto do corpo discente.
Co-gesto uma forma avanada de par-
ticipao administrativa que implica co-deciso em
determinadas matrias e direito de consulta em
outras. Ela pode ser paritria ou no. Na Alema-
nha Ocidental, onde existe este sistema por
fora de lei, ela paritria em dois setores in-
dustriais e no paritria nos demais.
Entretanto, a maioria absoluta de expe-
rimentos participativos caracterizada pela na-
tureza consultiva dos rgos de representao e
no por uma natureza deliberativa e normativa.
3
Autogesto no participao. Por
autogesto se entende um sistema no qual a co-
letividade se auto-administra. Portanto, no se
trata de participar de um poder, mas sim de ter
um poder. H experincias autogestionrias his-
tricas como a da Comuna de Paris, o movi-
mento machnovista na Ucrnia em 1917 e boa
parte da Espanha entre 1936 e 1939. H tam-
bm o caso da Iugoslvia, que se proclama
autogestionria, mas cujo carter autogestionrio
pelo menos discutvel. H ainda movimentos
pela autogesto importantes como o Solidarie-
dade na Polnia e experincias setoriais de
autogesto em empresas e escolas.
No caso particular das escolas preci-
so distinguir autogesto pedaggica de auto-
gesto institucional. Enquanto a primeira se
refere dinmica do trabalho pedaggico, a
segunda se refere administrao do estabele-
cimento de ensino.
Nem sempre a participao visa a
auto-gesto. Da mesma forma, discutvel se
a favorece ou a dificulta. Segundo querem al-
guns estudiosos de algumas filiaes ideol-
gicas, ela um caminho; segundo outros,
mais um descaminho.
Um ltimo ponto a ser considerado
que a participao no precisa necessariamen-
te se restringir ao nvel das instituies. Tam-
bm se fala de participao para se referir a
movimentos sociais autnomos de trabalhado-
res e de outros grupos que procuram afirmar
seus direitos na sociedade. Tambm caberia
aqui perguntar sobre o papel desse movimen-
to na construo de uma sociedade ao mesmo
tempo igualitria e pluralista.
A eventual construo de uma sociedade
autogestionria passa inquestionavelmente pela
questo da educao politcnica e polivalente,
pela aprendizagem no-autoritria.
Por aprendizagem no-autoritria enten-
do aquele que impede a internalizao dos me-
canismos de submisso e conformidade. A
aprendizagem para uma nova sociedade precisa
centrar-se na erradicao da angstia, do medo,
da culpa e da dependncia. A aprendizagem
no-autoritria fomenta o apoio mtuo; no
trata, como salienta o Sindicato de Enseanza
da CNT espanhola, a criana como um adulto
imperfeito na qual o adulto completo precisa
colocar aquilo que julga faltar.
Nessa concepo, aprender torna-se
uma prtica contnua de ao direta, na qual
a experincia torna-se a meta ao mesmo tem-
po em que no reminiscncia, mas prtica
continuada.
Num processo desse tipo, o que se pode
esperar que a criana aprenda a ser livre, sa-
bendo respeitar e se fazendo respeitar, que
aprenda a pensar com autonomia, a ser sincera,
a ser capaz de amar e ser amada, que possa
lutar pela promoo da pessoa humana, que
possa criar uma conscincia crtica e autocrtica,
que saiba se expressar e ser justa, que venha a
possuir uma cultura verdadeira.
Esses objetivos singelos parecem-me
verdadeiros e traduzem em sua pureza o dile-
ma da educao: reproduo e criao. A nova
sociedade depende dessa pureza, que no pode
e nem deve ser confundida com ingenuidade.
Naturalmente os obstculos so vrios, mas no
3 . MOTTA, Fer nando C. P. Par t i ci pao e co- gest o: novas f or mas de
administ rao. 29 ed. (s. n. ). So Paulo, 1984.
373
Educao e Pesquisa, So Paulo, v.29, n.2, p. 369- 373, jul./ dez. 2003
se constri nada a no ser enfrentando e supe-
rando obstculos.
A nova sociedade pressupe ainda o
aprendizado da ao poltica, da utilizao da
vontade da criao de uma disponibilidade para
ajudar e ser ajudada, bem como da capacidade de
fruir coletiva e igualitariamente a vida. Isto tudo,
entretanto, s se pode alcanar no contexto de
uma sociedade anti-autoritria. Entendo aqui a
expresso contexto anti-autoritrio no sentido de
uma sociedade que despreze e lute contra as
foras opressivas e homogeneizadoras, que per-
ceba a fora da singularidade no igualitrio.
Certamente, o respeito singularidade
no pode excluir a solidariedade e ajuda mtua,
que precisam nortear as relaes entre indiv-
duos e grupo, e precisam excluir a emulao
competitiva, o domnio e a dependncia, o
preo de cada um no mercado e a subservin-
cia a objetivos gerais abstratos.
4
Em termos
mais radicais, uma atitude desse tipo implica o
fim da criao e transmisso da cultura separada
da vida, trao fundamental da educao mera-
mente voltada para a reproduo da explorao
e da opresso. Evidentemente, a grandeza da
tarefa, pode desestimular os muito vidos, que
no percebem a natureza processual e lenta da
verdadeira transformao.
O passo inicial parece estar em uma
mudana de atitude, e isso se refere a todos os
participantes diretos e indiretos das unidades e
sistemas escolares. Com isso quero frisar que as
mudanas na educao so um assunto de
todos. Constituem um tema que se refere a
educadores e educandos e, de uma forma mais
geral, educadores e educandos so, simulta-
neamente, todos os membros de uma socieda-
de. Por essa razo a comunidade no pode
deixar de participar, a menos que, suicidamente,
ela opte pela no educao, pela estagnao,
pela repetio, pelo retrocesso.
No mbito da escola, a participao
constitui tema de estudantes, professores, ad-
ministradores, supervisores, orientadores e fun-
cionrios. Aos administradores educacionais,
cabe especialmente o desafio no pequeno de
descobrir e delinear formatos organizacionais
que, adequados a contextos especficos, asse-
gurem a educao participativa voltada para a
construo de uma sociedade verdadeiramente
igualitria, no apenas em termos econmicos,
mas em termos de distribuio do poder.
4 .
CORTEZ, Franci sco F. Orel l ana: l a assambIea em l a escuel a. Bi l bao,
Zerozyx, 1978.
Você também pode gostar
- Fichamento - Brown, Wendy. Cidadania SacrificialDocumento5 páginasFichamento - Brown, Wendy. Cidadania SacrificialMara HabibAinda não há avaliações
- FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder InstitucionalDocumento4 páginasFALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder Institucionaledna0877100% (2)
- Gayo II PDFDocumento980 páginasGayo II PDFRootulias100% (12)
- Parecer - N - 09 2013 CPLC Depconsu PGF AguDocumento11 páginasParecer - N - 09 2013 CPLC Depconsu PGF AguDébora MedeirosAinda não há avaliações
- Resumo de Administração No Contexto BrasileiroDocumento7 páginasResumo de Administração No Contexto BrasileiroFrank Roseno RosenoAinda não há avaliações
- Tema 4 Liderança, Poder e AutoridadeDocumento40 páginasTema 4 Liderança, Poder e AutoridadelifetexAinda não há avaliações
- Corrupção e FoucaultDocumento138 páginasCorrupção e FoucaultGiovanna ToledoAinda não há avaliações
- InstituiçõesDocumento5 páginasInstituiçõesraquel.sales.moreira25Ainda não há avaliações
- Participação Responsável e Intervenção Social Evar J Das MangasDocumento11 páginasParticipação Responsável e Intervenção Social Evar J Das MangasEvaristo Das MangasAinda não há avaliações
- Liderança, Poder e AutoridadeDocumento54 páginasLiderança, Poder e AutoridadeRodrigoAinda não há avaliações
- Seção 7 Resumo Cap 2 Evolucao Do Pensamento AdministrativoDocumento4 páginasSeção 7 Resumo Cap 2 Evolucao Do Pensamento AdministrativoDanibmacedo100% (2)
- CHEFIADocumento87 páginasCHEFIASilvanio Manuel MarquesAinda não há avaliações
- 80 Resenha Do Livro - FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder Institucional. 9 Ed., São Paulo - Cortez, 2009Documento5 páginas80 Resenha Do Livro - FALEIROS, Vicente de Paula. Saber Profissional e Poder Institucional. 9 Ed., São Paulo - Cortez, 2009Elen Nogueira100% (2)
- 606 1254 1 PBDocumento4 páginas606 1254 1 PBLuciana RamosAinda não há avaliações
- Resumo Relações de PoderDocumento3 páginasResumo Relações de PoderAnonymous ZmJuyip6Ainda não há avaliações
- A Relação de Poder Dentro Das OrganizaçõesDocumento3 páginasA Relação de Poder Dentro Das OrganizaçõesEliude RubemAinda não há avaliações
- O Que São Mecanismos de Sustentação Dos Grupos SociaisDocumento5 páginasO Que São Mecanismos de Sustentação Dos Grupos SociaisNyx100% (1)
- Processos GrupaisDocumento11 páginasProcessos GrupaisCamiloAinda não há avaliações
- Escola Do PoderDocumento2 páginasEscola Do PoderCaroline Santos de AlmeidaAinda não há avaliações
- 1 ROMANO EmpoderamentoDocumento7 páginas1 ROMANO Empoderamentorafaeldesconsi100% (2)
- 8 Temática - GDE E PARTICIPAÇÃODocumento14 páginas8 Temática - GDE E PARTICIPAÇÃOBEATRIZ SENA DA SILVAAinda não há avaliações
- Accountability e Transparência Pública Aula 2Documento24 páginasAccountability e Transparência Pública Aula 2Carlos DominguesAinda não há avaliações
- TEXTO 10.2 - Réplica Comparação ImpossívelDocumento2 páginasTEXTO 10.2 - Réplica Comparação Impossíveldiego.messiasAinda não há avaliações
- 1 - Organizacoes IIDocumento42 páginas1 - Organizacoes IIRichard GraffettiAinda não há avaliações
- Resenha - Srour (2013) Cap. 5Documento2 páginasResenha - Srour (2013) Cap. 5André Bax JuniorAinda não há avaliações
- ELIE - GANEM - Ética e Cidadania - Educação Como Convivência DemocráticaDocumento7 páginasELIE - GANEM - Ética e Cidadania - Educação Como Convivência DemocráticaFelipe ValentimAinda não há avaliações
- Auto GestaoDocumento3 páginasAuto GestaoCarol ScissorAinda não há avaliações
- AA2 - Vanessa Viturino de Farias Lutterbach - Seminário Temático IDocumento4 páginasAA2 - Vanessa Viturino de Farias Lutterbach - Seminário Temático IVanessa LutterbachAinda não há avaliações
- 2016 Proposta Olliver 3Documento6 páginas2016 Proposta Olliver 3Olliver Mariano RosaAinda não há avaliações
- Apostila 1 - Cultura e Poder Nas OrganizaçõesDocumento20 páginasApostila 1 - Cultura e Poder Nas OrganizaçõesRodrigo SilvaAinda não há avaliações
- Artig Afinal Quem Manda AquiDocumento2 páginasArtig Afinal Quem Manda Aquidyegobp2Ainda não há avaliações
- Apostila de Chefia & LiderançaDocumento93 páginasApostila de Chefia & LiderançaAriana Oliveira BeberAinda não há avaliações
- Formatação Resenha Modelo IADocumento3 páginasFormatação Resenha Modelo IAAntonio AreiasAinda não há avaliações
- Resenha 1 ComunitariaDocumento2 páginasResenha 1 ComunitariaIrineu BorgesAinda não há avaliações
- Portifólio Unidade 3 Modalidades Gestão SocialDocumento5 páginasPortifólio Unidade 3 Modalidades Gestão Socialmarcilene passosAinda não há avaliações
- Estilo GerencialDocumento11 páginasEstilo GerencialelenAinda não há avaliações
- ResumoDocumento6 páginasResumochiticueleticia7Ainda não há avaliações
- Processo G 4Documento10 páginasProcesso G 4luana lopesAinda não há avaliações
- João Ubaldo Ribeiro - Política - Trechos - Capítulo 1 e 2Documento14 páginasJoão Ubaldo Ribeiro - Política - Trechos - Capítulo 1 e 2Igor MombrineAinda não há avaliações
- A Relação Entre Ciência Política e PoderDocumento5 páginasA Relação Entre Ciência Política e PoderGustavo Henrique Castro De AndradeAinda não há avaliações
- Cópia de Che - Contra o BurocratismoDocumento8 páginasCópia de Che - Contra o BurocratismoRafael FalcãoAinda não há avaliações
- Enfoque Participativo Out 2005Documento9 páginasEnfoque Participativo Out 2005Rafael FurlanAinda não há avaliações
- A Supervisão Institucional Como Intervenção Sócio AnalíticaDocumento3 páginasA Supervisão Institucional Como Intervenção Sócio AnalíticaAnaCris VanAinda não há avaliações
- Segundo Teste de CODocumento7 páginasSegundo Teste de COWilma ChauAinda não há avaliações
- TCC Gestão EscolarDocumento93 páginasTCC Gestão EscolarLuiz Eduardo PaineirasAinda não há avaliações
- Participação e Acção Colectiva: Interesses, Conflitos e ConsensosNo EverandParticipação e Acção Colectiva: Interesses, Conflitos e ConsensosAinda não há avaliações
- AULA 6 - O Que É ParticipaçãoDocumento11 páginasAULA 6 - O Que É ParticipaçãoAlberto Barros100% (1)
- Aula 05Documento26 páginasAula 05Karine PereiraAinda não há avaliações
- Manual de Introdução À Psicologia e Pedagogia - 12 Classe - 3º Trimestre - 2018Documento39 páginasManual de Introdução À Psicologia e Pedagogia - 12 Classe - 3º Trimestre - 2018Nicolle MutisseAinda não há avaliações
- 05 Gabarito de Administração ParticipativaDocumento1 página05 Gabarito de Administração ParticipativaGusttavo HenriqueAinda não há avaliações
- 11 Construção Da CidadaniaDocumento12 páginas11 Construção Da CidadaniaJulia AndradeAinda não há avaliações
- Metodos de Extensao Rural e ParticipacaoDocumento6 páginasMetodos de Extensao Rural e ParticipacaoMarcos Morais SantanaAinda não há avaliações
- Guia Gerenciamento de AbrigosDocumento31 páginasGuia Gerenciamento de AbrigosTaciana PillonettoAinda não há avaliações
- Dimensão Do PoderDocumento9 páginasDimensão Do PoderHerbert SchutzerAinda não há avaliações
- Análise e Comparação Dos Textos Weber e A Sociologia Das Organizações e Organizações, Valores e Princípios.Documento3 páginasAnálise e Comparação Dos Textos Weber e A Sociologia Das Organizações e Organizações, Valores e Princípios.LYSSANDRA FERREIRA BORGESAinda não há avaliações
- NOcoES DE ADMINISTRAcaO I - Patrimonialismo e Burocracia (Caracteristicas, Reformas e Evolucao Da Administracao Publica) - 2017120117355262Documento116 páginasNOcoES DE ADMINISTRAcaO I - Patrimonialismo e Burocracia (Caracteristicas, Reformas e Evolucao Da Administracao Publica) - 2017120117355262cristiano juniorAinda não há avaliações
- Nota de Aula 4 ERU 380Documento7 páginasNota de Aula 4 ERU 380Marcelo RomarcoAinda não há avaliações
- Texto de PosicionamentoDocumento2 páginasTexto de PosicionamentoVinicius AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido Larissa Rodrigues BDocumento2 páginasEstudo Dirigido Larissa Rodrigues BLarissa BianguloAinda não há avaliações
- O poder judiciário e as políticas públicas sociais: a intervenção em busca da eficiênciaNo EverandO poder judiciário e as políticas públicas sociais: a intervenção em busca da eficiênciaAinda não há avaliações
- Programas para a juventude pobre como ação de um Estado-coachNo EverandProgramas para a juventude pobre como ação de um Estado-coachAinda não há avaliações
- Prova Encceja 2008Documento10 páginasProva Encceja 2008Luciana LuAinda não há avaliações
- ZINSLY - Mariana.FEMVERTISING E EMPOWERTISING - TCCDocumento111 páginasZINSLY - Mariana.FEMVERTISING E EMPOWERTISING - TCCRochelle SantosAinda não há avaliações
- Estatuto Do Povo CiganoRomani - Uma Análise Agregadora 2023Documento9 páginasEstatuto Do Povo CiganoRomani - Uma Análise Agregadora 2023Ruiter DurdevicAinda não há avaliações
- Deliberação CEE 105 de 2011Documento8 páginasDeliberação CEE 105 de 2011Eduardo Aparecido AmbrozetoAinda não há avaliações
- REsumo de PP, Que Está No DNADocumento10 páginasREsumo de PP, Que Está No DNAGersonzandamelaAinda não há avaliações
- EU-SADocumento5 páginasEU-SADra Daliana CostaAinda não há avaliações
- Ufmg17 2012 Festas ReligiosasDocumento189 páginasUfmg17 2012 Festas ReligiosasCarlos Henrique Silva de CastroAinda não há avaliações
- Marx e A Comuna de Paris PDFDocumento29 páginasMarx e A Comuna de Paris PDFRoger Filipe SilvaAinda não há avaliações
- 11 - Lei 7437 - Lei CaóDocumento2 páginas11 - Lei 7437 - Lei CaóLucian TenórioAinda não há avaliações
- ALBUQUERQUE, Wlamira. Abolicao - e - Racializacao PDFDocumento18 páginasALBUQUERQUE, Wlamira. Abolicao - e - Racializacao PDFRicardo LuizAinda não há avaliações
- Política Social e Direitos Humanos Sob o Julgo Dos Estados UnidosDocumento22 páginasPolítica Social e Direitos Humanos Sob o Julgo Dos Estados UnidosPedro Rafael RafaelAinda não há avaliações
- Direitos Humanos PDFDocumento9 páginasDireitos Humanos PDFDislene SilvaAinda não há avaliações
- Lei - 9868 Adi e Adc Pelo STFDocumento82 páginasLei - 9868 Adi e Adc Pelo STFLais CrivellaroAinda não há avaliações
- J. R. Guzzo - 'A Falência Da Sete Brasil É Prova Do Delírio Das Decisões de Lula Quanto À Política Industrial'Documento5 páginasJ. R. Guzzo - 'A Falência Da Sete Brasil É Prova Do Delírio Das Decisões de Lula Quanto À Política Industrial'Alfredo PotumatiAinda não há avaliações
- MEMÓRIA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO RIO DE JANEIRO - Ana - Maria - VilellaDocumento10 páginasMEMÓRIA DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO RIO DE JANEIRO - Ana - Maria - VilellaPlinio AlvesAinda não há avaliações
- Ilke - Os Quilombos No Brasil - Questões Conceituais e NormativasDocumento11 páginasIlke - Os Quilombos No Brasil - Questões Conceituais e NormativasESCRIBDA00Ainda não há avaliações
- Universidade Federal Da Paraiba Centro DDocumento217 páginasUniversidade Federal Da Paraiba Centro DAna Carolina Medeiros CaldasAinda não há avaliações
- Tarefa História (Questões)Documento40 páginasTarefa História (Questões)BeatrizAinda não há avaliações
- História Da Expansão Portuguesa - IndiceDocumento4 páginasHistória Da Expansão Portuguesa - IndiceCBM100% (2)
- Aula Cooperativismo - AssociativismoDocumento20 páginasAula Cooperativismo - AssociativismoSuzana GrassiAinda não há avaliações
- Capitalismo X SocialismoDocumento4 páginasCapitalismo X SocialismoJanice.scribdAinda não há avaliações
- SP Folha de S Paulo 100324 - 240310 - 075830Documento40 páginasSP Folha de S Paulo 100324 - 240310 - 075830sirely.raiellyAinda não há avaliações
- Sousa M. - Cerco Do PortoDocumento4 páginasSousa M. - Cerco Do PortoGonçalo Lencastre Medeiros100% (1)
- O Mercado de Trabalho Das TécnicasDocumento11 páginasO Mercado de Trabalho Das TécnicasKarina Rodrigues AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Vestibular-A Ditadura Militar No BrasilDocumento8 páginasVestibular-A Ditadura Militar No BrasilgabiassisAinda não há avaliações
- Lya Luft - FelicidadeDocumento2 páginasLya Luft - FelicidadeRoger Willian CabralAinda não há avaliações
- Estratificação SocialDocumento2 páginasEstratificação SocialLeonardo S. BrazAinda não há avaliações
- Prova História 2°bim. A2Documento9 páginasProva História 2°bim. A2Karen TiemiAinda não há avaliações