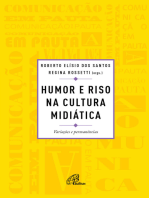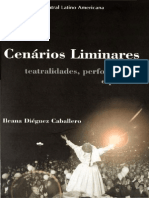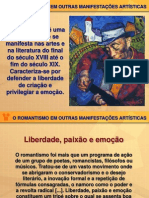Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Ismail Xavier - Melodrama, Ou A Seducao Da Moral Negociada PDF
Ismail Xavier - Melodrama, Ou A Seducao Da Moral Negociada PDF
Enviado por
larissatheiss2468Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Ismail Xavier - Melodrama, Ou A Seducao Da Moral Negociada PDF
Ismail Xavier - Melodrama, Ou A Seducao Da Moral Negociada PDF
Enviado por
larissatheiss2468Direitos autorais:
Formatos disponíveis
M E L O D R A M A , O U A S E D U O
D A M O R A L N E G O C I A D A
Ismail Xavier
RESUMO
O artigo examina as razes da permanncia do melodrama como gnero hegemnico na esfera
dos espetculos desde o incio do sculo XIX, com origem no teatro popular francs, at os dias
de hoje, sobretudo no formato high-tech do cinema hollywoodiano e na mdia televisiva. Ao
abordar a recente reviso crtica do estatuto do melodrama e sua repercusso na discusso
sobre a mdia, o autor busca refletir sobre os sentidos da eficcia desse gnero no contexto
contemporneo da "sociedade do espetculo".
Palavras-chave: melodrama; cinema contemporneo; Hollywood; mdia.
SUMMARY
This article examines the reasons why melodrama has remained as a dominant genre within the
entertainment sphere from the early nineteenth century, with its origins in French popular
drama, to this day, especially in its high-tech format in the movie industry and on television. In
reviewing recent critical revisions of melodrama and their impact on discussions dealing with
media, the author seeks to rethink the significance of this genre's effectiveness within the
contemporary "entertainment society" context.
Keywords: melodrama; contemporary film; Hollywood; media.
A ttulo de esquema, comum se dizer que o realismo moderno e
a tragdia clssica so formas histricas de uma imaginao esclarecida
que se confronta com a verdade, organizando o mundo como uma rede
complexa de contradies apta a definir os limites do poder dos homens
sobre o seu destino, ao mesmo tempo que se recusa a poup-los de um
incmodo reconhecimento de sua parcela de responsabilidade sobre
aes que terminam por produzir efeitos contrrios aos desejados. Em
contrapartida, ao melodrama estaria reservada a organizao de um
mundo mais simples, em que os projetos humanos parecem ter a vocao
de chegar a termo e o sucesso produto do mrito e da ajuda da
Providncia, ao passo que o fracasso resulta de uma conspirao exterior
que isenta o sujeito de culpa e o transforma em vtima radical. Esta terceira
via da imaginao traria, portanto, as simplificaes de quem no suporta
ambigidades nem a carga de ironia contida na experincia social, algum
que demanda proteo ou precisa de uma fantasia de inocncia diante de
JULHO DE 2000 81
MELODRAMA, OU A SEDUO DA MORAL NEGOCIADA
qualquer mau resultado. Associado a um maniquesmo adolescente, o
melodrama se desenha, neste esquema, como o vrtice desvalorizado do
tringulo, sendo no entanto a modalidade mais popular na fico moder-
na, aparentemente imbatvel no mercado de sonhos e de experincias
vicrias consoladoras.
Embora aceitvel para um comeo de conversa, tal esquema no d
conta de muitos problemas quando deparamos obras concretas ou certos
percursos histricos. A distino entre melodrama e tragdia gera contro-
vrsias que envolvem Shakespeare e, conforme o rigor do classicismo,
tambm Eurpedes
1
. Por sua vez, as relaes entre melodrama e realismo
geram intrincado debate, havendo ntidas interfaces, por exemplo, na
histria do cinema, como em King Vidor, Pudovkin, Murnau, Marcel Carne
e Vittorio de Sica. Da produo recente lembremos Terra e liberdade
(1995), de Ken Loach, e Segredos e mentiras (1996), de Mike Leigh, para
citar os de maior interesse.
Apesar das dificuldades, as distines que expus acima, grosso modo,
serviram de baliza, ao longo do sculo XX, para estruturar a oposio entre
uma fico alternativa e a rotina dos meios de comunicao. Com raras
excees, como as encontradas no cinema italiano, de Visconti a Bertolucci,
a tendncia do cinema de autor dos anos 1950 e 1960 era ressaltar o
divrcio entre o gnero popular e o cinema crtico. No entanto, a dcada
de 1970 trouxe revises de repercusso inegvel, reabrindo o processo do
melodrama.
Um movimento simultneo, no coordenado, de cineastas e crticos
fez refluir um modernismo mais incisivo no ataque ao cinema narrativo de
gnero e revalorizou o dilogo com os produtos da indstria como
estratgia de sobrevivncia de um novo cinema poltico que se queria mais
estvel na comunicao com o pblico. Naquela conjuntura, foi de
Fassbinder a experincia emblemtica, de maior risco e de maior interesse.
Em 1972 ele encontra Douglas Sirk e escreve o ensaio crtico de elogio
figura-smbolo do gnero nos anos 1950
2
, preparando o seu prprio
movimento de reapropriao em Lgrimas amargas de Petra Von Kant
(1972) e Ali: o medo corri a alma (1973). A dramaturgia de Fassbinder
peculiar e ainda espera uma anlise capaz de esclarecer sua fora incontes-
te, seu estatuto a meio caminho entre Brecht e o melodrama. Num outro
contexto, algo similar acontece nos longos filmes de Manoel de Oliveira, o
mais talentoso dentre os ironistas da Pennsula Ibrica, implacvel com a
melancolia romntica portuguesa e sua morbidez. Neste caso, e tambm
nos filmes de Carlos Saura, Bigas Luna, Arnaldo Jabor, Humberto Solas,
Arturo Ripstein e, recentemente, Gutierrez lea, compem-se alegorias a
partir de material melodramtico, incorporando os excessos com ironia ou
fazendo um teatro de cmera francesa, como em Melo (1984), de Alain
Resnais.
De forma variada, estes so exemplos nos quais estamos num terreno
alheio ao melodrama mais cannico, pois a incorporao de alguns de seus
traos se d em filmes em que prevalece uma tonalidade reflexiva, irnica,
82 NOVOS ESTUDOS N. 57
(1) Esta questo das demarca-
es do trgico, seja ou no
em cotejo com o melodrama,
envolve muitos autores, desde
o Nietzsche de O nascimento
da tragdia, ou helenismo e
pessimismo (traduo, notas e
posfcio de Jac Guinsburg.
So Paulo: Companhia das Le-
tras, 1992) at acadmicos
como Robert Heilman, em Tra-
gedy and melodrama: versi-
ons of experience (Seattle: Uni-
versity of Washington Press,
1968). No clssico Paideia: the
ideals of Greek culture (Nova
York: Oxford University Press,
1945, vol. I), Werner Jaegger
faz comentrios sobre a ques-
to na sua avaliao de Eur-
pedes. Jean-Marie Tomasseau,
um historiador do melodrama,
volta ao assunto em Drame
et tragdie (Paris: Hachette,
1995). Sobre a tragdia grega,
ver: Vernant, Jean-Pierre e Vi-
dal-Naquet, Paul. Mito e trag-
dia na Grcia antiga. So Pau-
lo: Brasiliense, 2 vols., 1988/
1991; Lesky, Albin. A tragdia
grega. So Paulo: Perspectiva,
1976; Kitto, H. D. F. Greek
tragedy, a literary study. Lon-
dres: Methuen, 1994; Romilly,
Jacqueline de. La tragdie grc-
que. Paris: PUF, 1970.
(2) Fassbinder, Rainer W.
"Fassbinder on Sirk". Film
Comment, nov./dez. 1975.
ISMAIL XAVIER
que se faz estilo de encenao, havendo sempre o toque moderno de no-
inocncia nas relaes entre cmera e cena, msica e emoo. Explora-se
o potencial energtico do gnero mas inverte-se o jogo, pondo em xeque
a ordem patriarcal ou buscando, ao contrrio de enlevos romnticos, uma
anatomia das lutas de poder na vida amorosa e no cenrio domstico.
Tarefa que, em muitos casos, se fez de uma mescla de revalorizao e
deboche em face do imprio do kitsch, num esquema reativado por
produes recentes mas que se inaugurou l nos anos 1960 falo da
apropriao pop do melodrama, que teve mltiplas verses e encontrou em
Almodvar sua vertente mais visvel a partir dos anos 1980. A vertente pop
incorpora, por meio da pardia, os deslocamentos de valores operados
pelo hedonismo da sociedade de consumo, dentro do j tematizado
choque do arcaico e do moderno que ns brasileiros vivenciamos estetica-
mente com o tropicalismo, a partir de 1967-68.
Ao apontar tais desdobramentos no pretendo me alinhar reviso
crtica que tem gerado euforias ingnuas quanto ao alcance do gnero,
principalmente em suas verses mais convencionais. Pensando nestas, e
em contrapartida ao exposto, vale lembrar que, infelizmente, as estrat-
gias de um cinema crtico e as revises dos tericos da mdia se mostram,
na cultura de mercado, uma pequena onda quando as comparamos com
o dado mais avassalador da retomada de iniciativa por parte de Hol-
lywood, realizada exatamente por meio de uma reciclagem do melodrama
mais cannico, tal como o fizeram Spielberg e Lucas a partir de meados
dos anos 1970. O salto tecnolgico, aliado experincia na lida com
afetaes sentimentais, engendrou a nova frmula, marcando a persistn-
cia das polaridades do bem e do mal. Com a reciclagem da fico
cientfica a partir de Guerra nas estrelas (1977), o filme de gnero veio
mostrar o quanto sua vertente mais industrial e infantil era capaz de
assumir, numa verso domesticada, aquele status de representao de
segundo grau, eivada de citaes e referncias ao prprio cinema, que se
associa ao ps-moderno. O melodrama encontrou novas tonalidades
vitrometlicas sem perder seu perfil bsico, evidenciando sua adequao
s demandas de uma cultura de mercado ciosa de incorporao do novo
na repetio. Titanic (1997), por exemplo, soube muito bem se inserir
nesta via aberta pela nova gerao da indstria: de um lado, as agonias do
par amoroso, no caso temperadas pela oposio entre o altrusmo do
jovem plebeu e a vilania dos aristocratas (tema do sculo XVIII que
Hollywood no pra de reciclar); de outro, as imagens de impacto a
indiciar alta tecnologia e dinheiro. Esta articulao entre melodrama e
efeitos especiais de uma enorme eficcia, pois nos gratifica das mais
variadas formas em sua operao de "tornar visvel". Runas perdidas no
fundo do mar guardam o segredo de um romance mais precioso do que
o diamante procurado. E a enorme engrenagem narrativa se pe em
marcha para que, no final, a pedra finalmente v ao fundo levando suas
ressonncias simblicas, enquanto, em outro plano, a experincia romn-
tica que a retira de circulao atinge o pice do seu valor de troca.
JULHO DE 2000 83
MELODRAMA, OU A SEDUO DA MORAL NEGOCIADA
Essa combinao de sentimentalismo e prazer visual tem garantido
ao melodrama dois sculos de hegemonia na esfera dos espetculos, do
teatro popular do sculo XIX que j era orgulhoso de seus efeitos
especiais ao cinema que conhecemos. Por mais de um sculo, grosso
modo at a I Guerra Mundial, a Frana definiu o plo de maior vigor e
interesse. A partir de ento, o show business anglo-americano tem sido o
foco privilegiado das experincias que dominam o mercado, e as anlises
mais sugestivas do estatuto do melodrama em nosso tempo tm vindo
justamente das revises feitas pela crtica de lngua inglesa. Destas revi-
ses, tomo como referncia A imaginao melodramtica, de Peter
Brooks, pois foi este livro que, pela sntese a contida, deu um novo
impulso s reflexes sobre o nexo entre o melodrama e a indstria do
udio-visual
3
.
Para Brooks, o melodrama apresenta todo esse vigor porque algo
mais do que um gnero dramtico de feio popular ou receiturio para
roteiristas. a forma cannica de um tipo de imaginao que tem
manifestaes mais elevadas na literatura, at mesmo na fatura de escritores
tomados como mestres do realismo Balzac, Henry James. Permeando o
alto e o baixo, tal imaginao , para o autor, uma feio quase onipresente
da modernidade, em que cumpre uma funo modeladora capaz de incidir
sobre as mais variadas formas de fico. Seu livro se concentra nas
afinidades entre os romances do sculo XIX e o teatro popular posterior
Revoluo Francesa, um tema j presente na crtica literria que, entretanto,
ele amplifica e desloca para o centro, conferindo um grau de generalidade
a observaes sobre o melodrama que entusiasmaram leitores interessados
na discusso da mdia contempornea terreno onde sua teoria tem sido
mais profcua mas no encontraram a mesma recepo no campo
literrio propriamente dito.
H motivos para tal reticncia, dado que a tradio literria torna
menos convincente o seu esquema binrio, em que quase tudo se explica
pela oposio entre melodrama e tragdia, tomados como categorias
dramticas exclusivas na definio de pocas (uma das questes elididas no
livro envolve o outro vrtice do tringulo: o realismo). Tal reduo, sem
dvida questionvel, se liga forma como Brooks ajusta a periodizao
histrica ao seu objeto. Ele precisa privilegiar, na esfera das categorias
dramticas, uma oposio correlata quela que observa entre os contextos
sociais do Antigo Regime e da modernidade burguesa, contextos a que se
refere, no entanto, somente em grandes pinceladas. Seu problema, se
quisermos pensar nas implicaes maiores de sua teoria, dar uma feio
por demais homognea sociedade posterior Revoluo, como se esta
tivesse institudo, numa nica virada de pgina, uma modernidade laica e
84 NOVOS ESTUDOS N. 57
(3) Brooks, Peter. The melo-
dramatic imagination: Balzac,
Henry James and the mode of
excess. New Haven: University
of Yale Press, 1976.
ISMAIL XAVIER
burguesa que se impusesse igualmente a todos. Inversamente, sua virtude
inegvel quando esta mesma ateno ao "esprito de poca" se desdobra
no ataque idia do melodrama como categoria a-histrica e na especifi-
cao dos traos que vinculam sua estrutura e sentido modernidade.
Observando a imaginao melodramtica nos seus prprios termos,
Brooks esclarece muita coisa ao narrar a forma de sua emergncia no sculo
XVIII. No v a sua ascenso como sinal de uma perda, nem toma a "morte
da tragdia" como um sintoma de crise da cultura, como o fez George
Steiner
4
. Vale mais, para Brooks, a constatao de que o melodrama
substitui, digamos assim, o gnero clssico porque a nova sociedade
demanda outro tipo de fico para cumprir um papel regulador, exercido
agora por esta espcie de ritual cotidiano de funes mltiplas. Se a moral do
gnero supe conflitos, sem nuanas, entre bem e mal, se oferece uma
imagem simples demais para os valores partilhados, isto se deve a que sua
vocao oferecer matrizes aparentemente slidas de avaliao da expe-
rincia num mundo tremendamente instvel, porque capitalista na ordem
econmica, ps-sagrado no terreno da luta poltica (sem a antiga autoridade
do rei ou da Igreja) e sem o mesmo rigor normativo no terreno da esttica.
Flexvel, capaz de rpidas adaptaes, o melodrama formaliza um imagin-
rio que busca sempre dar corpo moral, torn-la visvel, quando esta parece
ter perdido os seus alicerces. Prove a sociedade de uma pedagogia do certo
e do errado que no exige uma explicao racional do mundo, confiando na
intuio e nos sentimentos "naturais" do individual na lida com dramas que
envolvem, quase sempre, laos de famlia.
A tragdia clssica tambm se apoiou nos dramas de famlia e nos
conflitos entre os direitos da linhagem de sangue e os da comunidade, entre
a cadeia da vingana e a prtica da justia mediada pelas instituies da
polis. H, porm, uma diferena essencial na articulao do pblico e do
privado que separa os gneros e seus tempos histricos, pois na cultura
burguesa o interesse pelo drama que mobiliza laos naturais vem de
sentimentos considerados universais, cuja dignidade no precisa de sua
projeo na esfera pblica. A seriedade do drama no mais exige reis e
rainhas, nobres ou figuras de alta patente cujo destino se confunde com o
da sociedade como um todo. Como bem explicou Diderot, o que interessa
no lamento de Clitemnestra ao perder Ifignia no sua condio de
rainha, mas sua condio individual de me portadora de uma dor que seria
igualmente digna numa camponesa
5
. Ou seja, a substncia do drama
pessoal pode ser semelhante: tenses entre lei e desejo, questes de
identidade, falsos parentescos. Mas preciso considerar as diferenas, no
contexto social e na envergadura dos heris, que separam melodrama e
tragdia. Um dado fundamental a identidade de status a aproximar as
figuras do palco e da platia marcando a ancoragem histrica do melodra-
ma, sua insero numa cultura laica de mercado desde 1800
6
.
Mencionar aqui Diderot invocar a baliza maior do prprio Brooks
e de outros que se ocuparam do tema, pois sua teoria do drama srio
burgus aliada sua crtica s formas de encenao do teatro clssico
JULHO DE 2000 85
(4) Steiner, George. The death
of tragedy. Nova York: Hill and
Wang, 1963. Sobre esta ques-
to do percurso trgico e a
modernidade, ver tambm:
Rosenfeld, Anatol. Prismas do
teatro. So Paulo: Perspectiva/
Edusp/Edunicamp, 1993; Bor-
nheim, Gerd. O sentido e a
mscara. So Paulo: Perspec-
tiva, 1975; Williams, Raymond.
Modern tragedy. Stanford:
Stanford University Press,
1966; Domenach, Jean-Marie.
Le retour du tragique. Paris:
Seuil, 1967.
(5) Ver: Diderot, Denis. Dis-
curso sobre a poesia dramti-
ca. Traduo, apresentao e
notas de L. F. Franklin de Ma-
tos. So Paulo: Brasiliense,
1986; Szondi, Peter. On textual
understanding and other es-
says. Minneapolis: University
of Minnesota Press, 1986.
(6) Para referncia pode-se to-
mar a pea Cline, ou l'enfant
du mystre, de Gilbert de Pix-
rcourt, estreada em 1800,
como o momento em que se
consolida a forma cannica do
melodrama no teatro. Sobre o
melodrama, ver: Thomasseau,
Jean-Marie. Le mlodrame. Pa-
ris: PUF, 1984; Ginisty, Paul. Le
mlodrame. Plan de la Tour:
ditions d'Aujourd'hui, 1982;
Rahill, Frank. The world of me-
lodrama. Philadelphia: Univer-
sity of Pennsylvania Press,
1967; Gledhill, Christine(org.).
Home is where the heart is: stu-
dies in melodrama and the
woman's film. Londres: BFI,
1987. Sobre o gnero irmo, o
folhetim, a referncia maior e
mais completa o livro de
Marlyse Meyer, Folhetim
uma histria (So Paulo, Com-
panhia das Letras, 1996).
MELODRAMA, OU A SEDUO DA MORAL NEGOCIADA
em sua poca mostra muito bem que a cena apropriada a exacerbaes
sentimentais no precisou esperar o teatro popular para se acoplar
decisivamente a esse primado do "tornar visvel". J se apresenta, no
filsofo, a concepo da cena como um tableau, a aproximao de
performance teatral e composio pictrica como linguagens do olhar. Ao
entrelaar drama e experincia visual, ele legitima a exibio, em cena, do
que pode criar a ponte entre os olhos e o corao, includas as aes
extremas, ao contrrio do que acontecia na tragdia clssica. Sabemos que
neste particular um ponto de inflexo fundamental foi Shakespeare com
suas mortes em cena, mas a valorizao do ilusionismo s se consolidou
no sculo XVIII, contribuindo, ao lado da codificao romntica da
"msica de fundo", para que o teatro popular, com sua verve pedaggica,
consagrasse, depois da Revoluo, o melodrama cannico. Este se fez
prevalecente at meados do sculo XX na mdia, com seu enredo e
retrica orientados para tornar visvel a moral crist, s vezes ativando
paradigmas de renncia e sacrifcio redentor, s vezes distribuindo recom-
pensas segundo um direito felicidade que depende de solues dram-
ticas balizadas pela idia de Providncia. medida que o sculo XX
avanou, as mudanas sociais e as novas questes trabalhadas na fico
deram lugar a um imaginrio gradualmente marcado pela psicologia
moderna e por uma franca medicalizao do senso comum, em que a
admisso da utilidade do prazer para a vida sadia veio combater o
ascetismo religioso e ajustar os padres morais do melodrama tolerncia
e ao hedonismo da sociedade de consumo. Neste processo, o movimento
em favor de uma crescente gratificao visual o dado constante, ao lado
da maleabilidade do gnero, que, embora ainda afeto s encarnaes do
bem e do mal, incorpora muito bem as variaes que tais noes tm
sofrido. A teoria atual observa que no o contedo especfico das
polarizaes morais que importa, mas o fato de haver tais polarizaes
definindo os termos do jogo e apelando para frmulas feitas. H melodra-
mas de esquerda e de direita, contra ou a favor do poder constitudo, e
o problema no est tanto numa inclinao francamente conservadora ou
sentimentalmente revolucionria, mas no fato de que o gnero tradicio-
nalmente abriga e, ao mesmo tempo, simplifica as questes em pauta na
sociedade, trabalhando a experincia dos injustiados em termos de uma
diatribe moral dirigida aos homens de m vontade.
Na parbola moral, embora o triunfo da virtude seja o roteiro
tradicional e o final feliz prevalea na indstria, o infortnio da vtima
inocente tambm uma forma cannica. Na verdade, o melodrama tem
sido o reduto por excelncia de cenrios de vitimizao. Basta lembrar o
tema da virgem ameaada, ou da inocncia desprotegida, que o gnero
herdou da Idade Mdia e que, antes dele, foi trabalhado pelo drama
burgus ou em obras decisivas na consolidao do romance como produto
de mercado, tais como Clarissa (1744-49), de Samuel Richardson. Em suas
primeiras verses, o roteiro da virtude ultrajada significou um gesto da
classe em ascenso, disposta a denunciar a decadncia moral da aristocracia
86 NOVOS ESTUDOS N. 57
ISMAIL XAVIER
e a caracterizar o nobre como um vilo obcecado. Mais tarde, a ameaa
mudaria de sinal e passaria a ser encarnada pela suposta barbrie das
classes laboriosas; a burguesia inverteria a direo do olhar, elegendo novo
inimigo de classe, estigmatizando o pobre, os povos colonizados, outras
etnias, tal como ainda acontecia no perodo clssico de Hollywood,
obviamente sem excluir os viles aristocratas, que continuaram a exibir
sua arrogncia de classe e esnobismo ( notvel a galeria dos eruditos
perversos no cinema americano).
Em seu gosto por um ilusionismo visual de impacto, de resto
embalado por uma sonoridade melodiosa (o meios do drama), o gnero
sempre se pautou pela intensidade, pela gerao de estados emocionais
catalisadores da credulidade no apenas a f inocente mas fundamen-
talmente a consentida. E radicalizou os ideais de transparncia, de expres-
so direta dos sentimentos na superfcie do corpo, onde verdades "aflo-
ram" porque livres da linguagem convencional. Vale a a f na "voz muda
do corao" e na espontaneidade do gesto (embora este seja produto de
convenes teatrais), e leva-se a ao extremo o princpio da imitao: tudo
pode ser traduzido numa aparncia oferecida aos sentidos. O mundo
visvel torna-se uma superfcie de enorme plasticidade, espcie de fisiono-
mia natural onde se expressam a interioridade dos indivduos e mesmo
ordens maiores do universo. O que coloca a questo da verdade em
termos da oposio moral entre as foras da sinceridade e as foras do
engano. A batalha entre autenticidade e hipocrisia passa a ter no olhar a
sua pedra de toque. E afirma-se no teatro, antes de no cinema, uma
concepo do drama apoiada na fora da imagem, plenamente vontade
na conduo dos excessos alheios ao gosto clssico, eficaz na conduo
de uma pedagogia que expulsa a ambigidade do seu reduto maior (o da
imagem). O melodrama cannico separa a transparncia prpria ao ser
autntico, inteiro, sem zonas de sombra, da duplicidade e do jogo de
mscaras prprios ao hipcrita. Tal oposio entre autnticos, do "nosso"
lado, e hipcritas, no campo oposto, define uma retrica de uso comum
nas vrias regies do espectro ideolgico. Pelo seu "valor de exibio",
toda performance oferecida ao olhar far parte de um sistema de enun-
ciados, no fundo menos propriamente espontneos do que elementos de
um teatro da espontaneidade.
Invertendo a direo do argumento e saindo do referencial de
Brooks, vale a pena explorar o que neste ideal de transparncia , enfim,
teatro. E, pela via do melodrama, voltar nossa ateno para aspectos
centrais da esfera pblica da mdia nos dias de hoje.
No melodrama tradicional, se a vtima emociona porque sua
condio ganha corpo e visibilidade mediante a performance que oferece
JULHO DE 2000 87
MELODRAMA, OU A SEDUO DA MORAL NEGOCIADA
um modelo de sofrimento: o que chamo aqui de "teatro do bem", feito de
gestos e palavras que invocam a virtude em seu momento exibicionista,
quando ela enuncia as suas marcas, dramatiza seu percurso de aflies e
expresses truncadas at o momento catrtico em que finalmente capaz
de "dizer tudo". Tal catarse ainda uma pice de rsistance da novela
moderna, plena de exploses em que falam o sentimento e a performance
do bem, seja em seu triunfo consolador, seja em seu lamento quando perde
para o teatro do mal. A vitria da corrupo, to comum no cinema e na TV
de hoje, no significa propriamente um mergulho substancial no realismo,
quando comparada com a antiga justia potica que punia bandidos e
premiava inocentes
7
. Se o bem triunfante sugeria a tranqilidade sob uma
figura protetora, o mal triunfante pode tambm confortar, notadamente
quando se encarna numa figura de bode expiatrio cuja culpa nos purifica,
pois ela rene em si todos os sinais da iniqidade. Exibindo as marcas que
permitem o reconhecimento do pecado como sua origem, o mal no
seno o teatro do mal, razo por que seu agente deve ser deliberado,
conspirador e caprichoso; e o bem no seno teatro do bem, razo por
que seu agente deve ser autntico, "naturalmente" prestativo, modesto, de
bom senso. Podem se alterar o eixo e a escala dos valores, mas o essencial
a clareza das performances e o "dizer tudo" neste teatro da moralidade em
que, no obstante, a vilania de intenes proclamadas move a trama e
garante o encanto do espetculo.
Como observou Eric Bentley, o melodrama, como acting out, extro-
verso, a quintessncia do teatro, palco de aes que visam eficcia
simblica, e no simplesmente conseqncias prticas (a psicanlise v a
o nexo entre a linguagem do melodrama e a histeria)
8
. Assim, o que importa
nele no o mal praticado a seco, ao danosa em surdina, mas o mal se
exibindo como teatro do mal, como prazer da transgresso, muitas vezes
em simbiose com a vtima, que no encarna a ao silenciosa da virtude mas
a afetao desta. Mario Praz, entre outros, acentua como este teatro em que
se complementam o carrasco e a vtima encontra sua contrapartida em
Sade, que trabalha justamente a ironia endereada virtude no recompen-
sada, e faz do princpio do "suportar sofrimento" um ingrediente da liturgia
do sdico, deliberado transgressor que o avesso do melodrama, sua ima-
gem especular na teatralidade do bem e do mal
9
. Esta aproximao entre os
opostos sugere o quanto o melodrama contm, em seu prprio princpio,
a sua negao. A dialtica de natureza e artifcio, sinceridade e dissimula-
o, esconde uma outra que mobiliza, no mesmo movimento, a indignao
moral proclamada e o franco voyeurismo.
Desta dialtica, prpria ao espetculo, os cineastas deram conscincia
desde o incio do sculo XX
10
. E se algum antes j tomou o melodrama
pelo seu valor proclamado, difcil hoje imaginar tal recepo para valer,
notadamente num contexto em que um senso comum derivado da
psicanlise evidencia a cada passo a face jesutica dos desejos. Numa
cultura em que se desfez o mito da transparncia do sujeito a si, tomar o
melodrama aparentemente letra se faz, no entanto, possvel como esperta
88 NOVOS ESTUDOS N. 57
(7) comum se apontar a dife-
rena entre as telenovelas da
Rede Globo e a tradio dos
dramalhes importados da
Amrica hispnica a partir da
oposio entre realismo (tele-
novelas modernas) e melodra-
ma (novelas tradicionais), o
que me parece um equvoco,
visto que a produo brasileira
atual continua a observar as
regras do gnero e se pauta
pela mesma presena de um
coeficiente de realismo (po-
der-se-ia dizer naturalismo) na
representao que caracterizou
o cinema hollywoodiano dos
anos 1950, o que no significa
um abandono do melodrama
como matriz do que pode ou
deve acontecer na fico, en-
fim, do que se assume como
plausvel ou desejvel no an-
damento da trama (sabemos
que cada gnero narrativo-dra-
mtico define o seu prprio
verossmil, ou seja, o campo
do que, dentro dele, aceit-
vel na composio das perso-
nagens e de sua interao).
(8) Bentley, Eric. The life of
drama. Nova York: Atheneum,
1964. Para a relao entre me-
lodrama e histeria, ver Elsa-
esser, Thomas. "Tales of sound
and fury: observation on the
family melodrama". In: Gled-
hill, op. cit.
(9) Praz, Mario. A carne, a
morte e o diabo na literatura
romntica. Campinas: Editora
da Unicamp, 1996, em espe-
cial caps. 3 e 4.
(10) Ver Xavier, Ismail. "Cine-
ma e teatro: a noo clssica
de representao e a teoria do
espetculo de Griffith a Hitch-
cock". In: O cinema no sculo.
Rio de Janeiro: Imago, 1996.
ISMAIL XAVIER
nostalgia, ativao de uma cena imaginria sempre pronta a gratificar desde
que, na sua exibio para o olhar, o aparato simulador consiga impor sua
fora. O que se torna mais fcil quando a competncia tcnica de fabricao
das imagens projeta o fascnio gerado pelos efeitos especiais sobre a
consistncia do drama (cujas bases so arcaicas). O cinema high tech tem
demonstrado exatamente isto, a capacidade de aliar tcnica supermoderna
e mitologia, mostrando que visualidade e "valor de exibio" so premissas
fundamentais para a eficcia do gnero.
No universo mais geral da mdia, dada volatilidade dos valores, a
vitalidade do melodrama se apia em sua condio de lugar ideal das
representaes negociadas (em todos os sentidos do termo). Isto vale para o
telejornalismo, em que h, de um lado, o acesso intimidade, "ao pior", e de
outro a neutralizao do efeito propriamente crtico quando a exposio do
corpo ou do "carter" vale mais como resposta a um apetite por imagens que,
por isto mesmo, custam cada vez mais. A noo de interesse humano ou
social legitima certas sensaes do jornalismo, e a descarada afetao
romntica embala um cinema de fico no qual a crtica ao fetiche do
mercado faz parte das atraes que garantem o lucro. De tal lgica, a prpria
indstria oferece as evidncias, fazendo graa ao comentar o nosso fascnio,
celebrando diamantes sem preo ou robs altrustas que se suicidam para
salvar a humanidade da supremacia da mesma tcnica que sustenta a
hegemonia de Hollywood.
No h novidade aqui, e rememoro um saber partilhado sobre esses
momentos lacrimosos de complacncia em que, diante da tela, damos vo
livre para a nostalgia, nos consolamos de uma perda ou de feridas que o
melodrama sempre recobriu com eficincia. Ele o continua fazendo, agora
exibindo maior autoconscincia do seu encanto e de sua utilidade para as
negociaes que envolvem os diferentes grupos (classes, etnias, identida-
des sexuais, naes) em conflito ou em sintonia com a ordem social. No
autocomentrio o melodrama celebra a sua legitimidade como santurio
de nossa auto-indulgncia, lugar onde cedemos com prazer experincia
regressiva que o gosto exigente e a racionalidade julgam cafona e sem
efeito de conhecimento, mas a que se tem reconhecido, um papel na
economia da psique, seguindo um psicologismo contemporneo que, por
sua vez, no elimina o debate crtico sobre essa dialtica do "valor de
exibio".
Antes culpada e se ancorando num ideal moralizante de transparn-
cia, tal dialtica se faz hoje mais desinibida, prestando servios a um esprito
performtico de ostentao de imagem. Torna-se ento um elemento-chave
nas representaes que balizam o cotidiano e a poltica, nas narraes dos
pecadilhos ou dos desastres, estes quase sempre travestidos de tragdia,
termo imprprio porm muito em voga.
O regime da visualidade da mdia e o melodrama tm se mostrado
duas faces de uma mesma liberao ou perda de decoro que ambgua em
sua significao poltica. Fale-se em dessublimao repressiva ou simples-
mente em permissividade, o dado concreto este da imagem negociada
JULHO DE 2000 89
MELODRAMA, OU A SEDUO DA MORAL NEGOCIADA
cujo espetculo satisfaz, ao mesmo tempo, a retrica de convocao da
virtude e a prtica consentida do voyeurismo. Este, se antes j instalado no
espao moral controlado pela religio, s teve a ganhar com a ascenso de
um senso comum moral apoiado na cincia, mais ajustado esfera dos
desejos, mais adequado para a racionalizao do "valor de exibio" de
todas as coisas e todos os corpos, deste af por flagrar o detalhe, seja no
encontro sexual, seja no desastre do carro onde estava a princesa ou no
naufrgio do navio conduzido por aristocratas. Se o melodrama a
quintessncia do teatro, por que sua experincia no haveria de encontrar
tais desdobramentos numa sociedade que Guy Debord muito bem definiu
como a sociedade do espetculo?
90 NOVOS ESTUDOS N. 57
Recebido para publicao em
13 de abril de 2000.
Ismail Xavier professor da
ECA-USP. Publicou nesta re-
vista "A Falecida e o realismo,
a contrapelo, de Leon Hirsz-
man", n 50.
Você também pode gostar
- WILLIAMS, Raymond - Tragédia Moderna PDFDocumento262 páginasWILLIAMS, Raymond - Tragédia Moderna PDFVanja Poty100% (13)
- Poderosa Afrodite de Woody Allen e A Poética de AristótelesDocumento3 páginasPoderosa Afrodite de Woody Allen e A Poética de AristótelesLucas ScalonAinda não há avaliações
- XAVIER, Ismail - O Olhar e A CenaDocumento75 páginasXAVIER, Ismail - O Olhar e A CenaED JUNIOR100% (2)
- Humor e riso na cultura midiática: Variações e permanênciasNo EverandHumor e riso na cultura midiática: Variações e permanênciasAinda não há avaliações
- Eduardo Geada Os Mundos Do Cinema 1998 OcrDocumento392 páginasEduardo Geada Os Mundos Do Cinema 1998 Ocrozufilmfan100% (1)
- O Cinema e A Invenção Da Vida ModernaDocumento8 páginasO Cinema e A Invenção Da Vida ModernaJoão Cintra0% (1)
- XAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFDocumento15 páginasXAVIER, Ismail Cinema, Revelação e Engano PDFSergio100% (1)
- Dissertação Fabio Reis MotaDocumento172 páginasDissertação Fabio Reis MotaBruno Leipner MibielliAinda não há avaliações
- Cenarios LiminaresDocumento209 páginasCenarios LiminaresRicardo Goulart100% (1)
- Melodrama Ou A Sedução Da Moral NegociadaDocumento11 páginasMelodrama Ou A Sedução Da Moral NegociadaMarcio MarkendorfAinda não há avaliações
- Simulacros e simulações de Sérgio Sant'Anna: um cruzamento de lugares, um cruzamento de discursosNo EverandSimulacros e simulações de Sérgio Sant'Anna: um cruzamento de lugares, um cruzamento de discursosAinda não há avaliações
- APAAHFv 1Documento5 páginasAPAAHFv 1johnfelix7000Ainda não há avaliações
- Sociedade EspetáculoDocumento14 páginasSociedade EspetáculoleilavercosaAinda não há avaliações
- Helga FinterDocumento8 páginasHelga FinterCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- O Cinema Marginal Revisitado - Ismail XavierDocumento4 páginasO Cinema Marginal Revisitado - Ismail XavierNalú SouzaAinda não há avaliações
- MelodramaDocumento5 páginasMelodramaPietra ReisAinda não há avaliações
- ABREU, Caio Fernando e NUNES, Luiz Arthus - A Maldição Do Vale NegroDocumento82 páginasABREU, Caio Fernando e NUNES, Luiz Arthus - A Maldição Do Vale NegroJefferson Almeida100% (1)
- O Melodrama - Jean-Marie ThomasseauDocumento72 páginasO Melodrama - Jean-Marie ThomasseauDaniela Proença Guerrieri100% (3)
- Mara Antonieta Coppola RococoDocumento8 páginasMara Antonieta Coppola RococoJaquelineBezerraAinda não há avaliações
- Entre A Letra e A Tela - GarateDocumento228 páginasEntre A Letra e A Tela - GarateHernán MoralesAinda não há avaliações
- Noiva CadáverDocumento10 páginasNoiva CadáverCaio MarquesAinda não há avaliações
- Catalogo Mostra ParaaprovacaoDocumento40 páginasCatalogo Mostra Paraaprovacaopedroh_350100% (1)
- Utopias e Distopias Urbanas Nas Telas Do CinemaDocumento11 páginasUtopias e Distopias Urbanas Nas Telas Do CinemaMarcos Antonio de MenezesAinda não há avaliações
- Dramaturgia ContemporâneaDocumento31 páginasDramaturgia ContemporâneaMario Righetti100% (5)
- As Vanguardas Cinematograficas Dos Anos 20 Na EuropaDocumento29 páginasAs Vanguardas Cinematograficas Dos Anos 20 Na EuropacarlosmusashiAinda não há avaliações
- ROUBINE. A Mutação NaturalistaDocumento13 páginasROUBINE. A Mutação NaturalistaBruno MarcosAinda não há avaliações
- Luís de Sttau MonteiroDocumento10 páginasLuís de Sttau MonteiroRute FerreirinhaAinda não há avaliações
- História Do Teatro - Drama Burguês - Século XXDocumento20 páginasHistória Do Teatro - Drama Burguês - Século XXErika Paiva100% (1)
- Felizmente Há LuarDocumento25 páginasFelizmente Há LuarJorge MartinhoAinda não há avaliações
- Novalis - Art Et UtopieDocumento193 páginasNovalis - Art Et UtopieDerick MarbasAinda não há avaliações
- Jose CarlosDocumento12 páginasJose CarlosLucas OlléAinda não há avaliações
- QUINTELA SOARES - María Antonieta PDFDocumento48 páginasQUINTELA SOARES - María Antonieta PDFHoracio Miguel Hernán ZapataAinda não há avaliações
- Paródia, Carnavalização e Função Poética em A Invenção Do Brasil - Marcos de Medeiros PDFDocumento14 páginasParódia, Carnavalização e Função Poética em A Invenção Do Brasil - Marcos de Medeiros PDFRICARDO ESCUDEIRO SABINOAinda não há avaliações
- Do Teatro Realista Ao Teatro Do RealDocumento12 páginasDo Teatro Realista Ao Teatro Do RealAndrew KnollAinda não há avaliações
- Cinema Moderno No Brasil de 1968Documento14 páginasCinema Moderno No Brasil de 1968Aldrin Philippe Santos PereiraAinda não há avaliações
- Sosé Mena AbrantesDocumento8 páginasSosé Mena AbrantesRenata DarivaAinda não há avaliações
- 09a Luis+Marcio+Arnaut+de+Toledo A+dialética+Toledo+revDocumento22 páginas09a Luis+Marcio+Arnaut+de+Toledo A+dialética+Toledo+revMaryllu CaixetaAinda não há avaliações
- Pantomima Ou MímicaDocumento8 páginasPantomima Ou MímicaBeto CavalcanteAinda não há avaliações
- Pré Projeto 2017Documento10 páginasPré Projeto 2017LubsAinda não há avaliações
- (Ic) Silva Junior (2017)Documento22 páginas(Ic) Silva Junior (2017)Maria Clara FaroAinda não há avaliações
- Chanchada e A Estética Do LixoDocumento14 páginasChanchada e A Estética Do LixoÉrica SarmetAinda não há avaliações
- 206-Texto Artigo-991-1-10-20160201Documento5 páginas206-Texto Artigo-991-1-10-20160201Isabela PereiraAinda não há avaliações
- Cinema - Cinema e Literatura Desencontros Formais - Mirian TavDocumento16 páginasCinema - Cinema e Literatura Desencontros Formais - Mirian TavThiago PennaAinda não há avaliações
- Grandes Filmes Da HumanidadeDocumento54 páginasGrandes Filmes Da HumanidadeMaria Paula de Souza TurimAinda não há avaliações
- RANCIÈRE, Jacques. Paradoxos Da Arte PolíticaDocumento31 páginasRANCIÈRE, Jacques. Paradoxos Da Arte PolíticaVictoria ShintomiAinda não há avaliações
- Relatório de Arte e Cultura ModernaDocumento6 páginasRelatório de Arte e Cultura ModernaFred LisboaAinda não há avaliações
- 114 430 1 PBDocumento21 páginas114 430 1 PBRenato Hack IvoAinda não há avaliações
- Aula 03 - Pensamento Marxista, Realismo, AutoriaDocumento47 páginasAula 03 - Pensamento Marxista, Realismo, AutoriaAdil LepriAinda não há avaliações
- Dossier Pedagogico A Cacatua VerdeDocumento84 páginasDossier Pedagogico A Cacatua VerdeTereza MaiaAinda não há avaliações
- Cinema Nacional Anos 90 - Ismail XavierDocumento6 páginasCinema Nacional Anos 90 - Ismail XavierCaíque Mello RochaAinda não há avaliações
- Surrealismo e CinemaDocumento44 páginasSurrealismo e CinemaMarcelo RibaricAinda não há avaliações
- Enfim Só (S) - Fim Do Mundo Como Idílio PDFDocumento11 páginasEnfim Só (S) - Fim Do Mundo Como Idílio PDFArthur G D JúniorAinda não há avaliações
- Atividades - 2º Trimestre - RomantismoDocumento10 páginasAtividades - 2º Trimestre - RomantismoMaria Clara VazAinda não há avaliações
- Belair e CAMDocumento7 páginasBelair e CAMLuiz Antonio BrasilAinda não há avaliações
- 18 Folha de S.paulo - Jacques Rancière - O Cineasta, o Povo e o Governo - 26-08-2001Documento4 páginas18 Folha de S.paulo - Jacques Rancière - O Cineasta, o Povo e o Governo - 26-08-2001nícollas ranieriAinda não há avaliações
- O Romantismo em Outras Manifestações ArtísticasDocumento25 páginasO Romantismo em Outras Manifestações ArtísticasAnne Oliveira100% (1)
- O Teatro Do Romantismo PDFDocumento157 páginasO Teatro Do Romantismo PDFCris Pagoto100% (1)
- Eduardo Geada O Poder Do Cinema 1985 OcrDocumento116 páginasEduardo Geada O Poder Do Cinema 1985 Ocrozufilmfan100% (1)
- Expresionismo y Revolución, El Abismo de La RealidadDocumento28 páginasExpresionismo y Revolución, El Abismo de La RealidadFelipePGAinda não há avaliações
- Simbolismo PDFDocumento10 páginasSimbolismo PDFAndré RodriguesAinda não há avaliações
- SALIBA, Elias Thomé - Imaginação Romântica e Criação Cultural in As Utopias RomânticasDocumento8 páginasSALIBA, Elias Thomé - Imaginação Romântica e Criação Cultural in As Utopias RomânticasLucas R. GasparAinda não há avaliações
- 3 Ano LITERATURA Vanguardas EuropéiasDocumento9 páginas3 Ano LITERATURA Vanguardas EuropéiasIngrid SilvaAinda não há avaliações
- Programa O Avarento Teatro de S. João PDFDocumento16 páginasPrograma O Avarento Teatro de S. João PDFMarcio HossiAinda não há avaliações
- Teoria Da Arte e Do Teatro - Marcus Mota PDFDocumento164 páginasTeoria Da Arte e Do Teatro - Marcus Mota PDFAndré RodriguesAinda não há avaliações
- Resumo O DRAMA COMO METODO DE ENSINO NA SALA DE AULADocumento6 páginasResumo O DRAMA COMO METODO DE ENSINO NA SALA DE AULANatália PimentaAinda não há avaliações
- Escola Anna Adelaide Bello São LuísDocumento9 páginasEscola Anna Adelaide Bello São LuísMarcosDanielAinda não há avaliações
- Eliene Benicio Amancio Costa - A Pesquisa Sobre A Dramaturgia Do Circo-Teatro Encenada em Sao Paulo Entre 1927 e 1968Documento5 páginasEliene Benicio Amancio Costa - A Pesquisa Sobre A Dramaturgia Do Circo-Teatro Encenada em Sao Paulo Entre 1927 e 1968Fernando SilvaAinda não há avaliações
- Exp. Dramática - Jogos IntrodutóriosDocumento7 páginasExp. Dramática - Jogos IntrodutóriosVânia LopesAinda não há avaliações
- Trabalhando Texto Teatral EstadoDocumento16 páginasTrabalhando Texto Teatral EstadoLaninha Bertoloto Charles Rento100% (1)
- Encenações Do Trágico Na Contemporaneidade - Nicole de OliveiraDocumento167 páginasEncenações Do Trágico Na Contemporaneidade - Nicole de Oliveirathais_sodre3935Ainda não há avaliações
- A Catábase ÉpicaDocumento255 páginasA Catábase ÉpicaÂngelo Bruno OliveiraAinda não há avaliações
- Textos de TeatroDocumento7 páginasTextos de TeatroBruna VidalAinda não há avaliações
- Quando Voam As Cegonhas (Letyat Zhuravli, 1957) - Mikhail KalatozovDocumento5 páginasQuando Voam As Cegonhas (Letyat Zhuravli, 1957) - Mikhail KalatozovLeila100% (1)
- Sexualidade, Representação e Ehistória em Ben e Amor e Restos HumanosDocumento0 páginaSexualidade, Representação e Ehistória em Ben e Amor e Restos HumanosmarianotavaresAinda não há avaliações
- Resenha - A Cela em CenaDocumento3 páginasResenha - A Cela em CenabbanckeAinda não há avaliações
- O Ator Patrice PavisDocumento11 páginasO Ator Patrice PavisPaula IbáñezAinda não há avaliações
- Revista Moin Moin 6 PDFDocumento200 páginasRevista Moin Moin 6 PDFGabrielle Suamy Gomes CampeloAinda não há avaliações
- BENJAMIN - A Origem Do Drama Trágico AlemãoDocumento9 páginasBENJAMIN - A Origem Do Drama Trágico AlemãowriteressAinda não há avaliações
- Trinta e Seis Situacoes DramaticasDocumento79 páginasTrinta e Seis Situacoes DramaticasCarlos MarquesAinda não há avaliações
- Teoria Do Drama ModernoDocumento6 páginasTeoria Do Drama ModernoLivia AndersenAinda não há avaliações
- Um Auto de Gil VicenteDocumento2 páginasUm Auto de Gil Vicenteportcoelho.mariajoao1069Ainda não há avaliações
- GENETTE, Gerard. Fronteiras Da NarrativaDocumento11 páginasGENETTE, Gerard. Fronteiras Da NarrativaDarcio Rundvalt100% (1)
- O Ensaio LiterárioDocumento31 páginasO Ensaio Literáriocarmem2010Ainda não há avaliações
- Resumo Global Da Matéria de Português para o Exame NacionalDocumento70 páginasResumo Global Da Matéria de Português para o Exame NacionalBatotaVinteAinda não há avaliações
- Da Matta, Roberto - Futebol, Ópio Do Povo X Drama de Justiça SocialDocumento7 páginasDa Matta, Roberto - Futebol, Ópio Do Povo X Drama de Justiça Socialandré_costa_3Ainda não há avaliações
- Nelson Rodrigues - Valsa #6Documento40 páginasNelson Rodrigues - Valsa #6Laleska LimaAinda não há avaliações
- Comparando Experiências de AfliçãoDocumento35 páginasComparando Experiências de AfliçãoMoacir CarvalhoAinda não há avaliações
- Livros Mencionados Por Olavo de CarvalhoDocumento84 páginasLivros Mencionados Por Olavo de CarvalhoLiana MartinsAinda não há avaliações