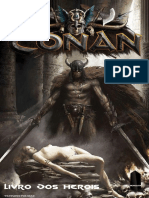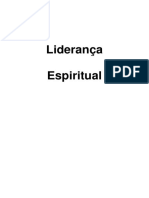Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Dramatização Do Mito PDF
A Dramatização Do Mito PDF
Enviado por
Rogério IvanoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Dramatização Do Mito PDF
A Dramatização Do Mito PDF
Enviado por
Rogério IvanoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A DRAMATIZAO DO MITO
Diego Lanza*
RESUMO Costuma-se dizer que os espectadores das tragdias j co-
nheciam os mitos nelas dramatizados. Mas o que conheciam realmente des-
sas histrias? As relaes entre mito e tragdia so to lineares assim? O
presente artigo procura justamente questionar essa linearidade, evidencian-
do o tipo de adaptaes, cortes e escolhas sofrido pelo material mtico na
sua passagem cena. A tragdia restringe-se a certos segmentos do relato
mtico, aqueles que o poeta julga ser o momento em que se concentra o
significado de todo o fato. A memria de acontecimentos extraordinrios e
de grandes empresas transforma-se, ento, em memria de fortes emoes, o
que condiciona fortemente nossa viso dos mitos gregos.
Palavras-chave: tragdia, mito, memria, ao humana, emoo.
ABSTRACT It is commonly said that spectators of tragedies already knew
the myths enacted in them. But what did they really know of these stories? Are
the relations between myth and tragedy that linear? The presente article aims
precisely at questioning this linearity, by showing the kind of claims, cuts and
choices suffered by the mythical material on its way to the scene. Tragedy is
restricted to certain segments of the mythical tale, those the poet thinks to be
moments in which is concentrated the meaning of the whole fact. The me-
mory of extraordinary events and of great endeavors becomes then the me-
mory of strong emotions, which strongly determines our view of Greeks myths.
Key words: tragedy, myth, memory, human action, emotion.
* Professor de Literatura Grega da Universit degli Studi di Pavia, Itlia. Texto recebido em abril e aprovado
em maio de 2003.
KRITERION, Belo Horizonte, n 107, Jun/2003, p.86-99
Kriterion 107.p65 86 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 87
Feliz a tragdia, dentre todas as poesias, se verdade, antes de tudo, que os
relatos j so conhecidos dos espectadores mesmo antes de que algum fale, de
modo que o poeta deve s lembr-los. Quando eu falar de dipo, eles j sabem tudo:
o pai, Laio, a me, Jocasta, quem so as filhas e os filhos, o que ele sofrer, o que
fez...1
Mas as relaes entre mito e tragdia so realmente to lineares, como
nos sugere o poeta cmico? Bruno Snell fez do encontro do mito com a tra-
gdia um momento muito importante da histria do esprito:
A tragdia no se atm rigidamente aos acontecimentos do mito, no os consi-
dera uma realidade histrica como faz a pica, mas procura os motivos dos acon-
tecimentos na ao humana e, assim, negligencia o fato puro. [...] Foi squilo o
primeiro a conceber a ao humana como resultado de um processo interior e
desse processo notou (como costuma acontecer nas descobertas de carter fun-
damental) justamente seu ponto essencial; nas situaes trgicas ele procura dar-
nos uma representao o quanto possvel clara da ao humana em sua essn-
cia2 .
Essa pasagem pertence ao ensaio Mito e realidade na tragdia grega,
escrito em 1944 e que lemos na Entdeckung des Geistes; mas j antes, na sua
pesquisa squilo e a ao dramtica publicada em 1928, mas que, como
Habilitationschrift, remonta a 1925 Snell escrevia:
A novidade, a sntese se tem quando surge a conscincia de ter diante de si a
ao, de se encontrar no momento da deciso. E essa sntese se exprime em sua
forma prpria, no drama. Em squilo o problema t drso; (que devo fazer?)
posto no pice de sua ltima e mxima tragdia com toda a angstia de um homem
encurralado; e com isso o agir compreendido em seu ponto mais profundo e
problemtico. Somente com esse olhar no prprio futuro o homem capta o seu Eu
como interioridade real, no como simples Ele ou Tu, ao modo do pos ou da
lrica3 .
Aqui o eco de Hegel e das outras grandes vozes do debate romntico
sobre os gneros poticos ainda ressoa com nitidez, e justamente essa ro-
busta e consciente nervura terica o que confere fascnio interpretao de
Snell e permite sua afirmao, pelo menos no mbito da cultura alem, pois
fora da Alemanha Snell foi geralmente lido prescindindo do quadro de suas
referncias culturais. Quando a Entdeckung foi divulgada ao vasto pblico
1 ANTFANES fr. 189, 1-8 KA (=Ateneu VI 222a-b). As tradues dos autores gregos foram feitas levando
em considerao tanto o original grego quanto a interpretao do autor do presente artigo [N.d.T].
2 SNELL, B., Die Entdeckung des Geistes. Studien zur Entstehung des europischen Denkens bei den
Griechen, Hamburg 1933; trad. it., La cultura greca e le origini del pensiero europeo, Torino 1963, p. 159;,
trad. port. de Artur Moro, A descoberta do esprito, Edies 70, Lisboa 1992.
3 SNELL, B., Aischylos und das Handeln im Drama, Leipzig 1928, Philol. Supplb. 20, 1, p.32 s.; trad. it.,
Eschilo e lazione drammatica, Milano 1969, p. 35.
Kriterion 107.p65 87 10/2/2006, 11:23
88 Diego Lanza
dos fillogos europeus com a traduo em ingls, sua idia de tragdia foi
pormenorizadamente discutida4 .
Mas no incio dos anos Setenta que Jean Pierre Vernant interroga-se
saudavelmente sobre o sentido das distines categoriais usadas quer por
Snell quer principalmente por seus crticos:
Deciso sem escolha, responsabilidade independente das intenes, tais seriam
dizem-nos as formas da vontade nos Gregos. Todo o problema o de saber o que
os prprios Gregos entendiam por escolha e falta de escolha, por responsabilidade
com ou sem inteno. Nem mais nem menos do que a de vontade, nossas noes de
escolha e de livre escolha, de responsabilidade e de inteno no so diretamente
aplicveis mentalidade antiga, onde elas apresentam-se com valores e segundo
uma configurao que corre o risco de desconcertar uma mente moderna.
E ainda:
A vontade no uma categoria simples; como suas dimenses, suas implicaes
so mltiplas5 .
s justificadas dvidas categoriais de Vernant pode-se, talvez, acrescen-
tar alguma dvida sobre o prprio significado da expresso que, para Snell,
exemplar para a conscincia de uma livre escolha do heri trgico: t drso;
(que devo fazer?). Orestes quem a pronuncia, abrindo a breve esticom-
tia, que preludia ao matricdio:
Plades, que devo fazer? Ter pudor (aidesth) de matar minha me? (Cho. 899).
Plades replica imediatamente e a sua nica fala de toda a tragdia
admoestando-o para no se opor vontade dos deuses.
Mas realmente uma pergunta a de Orestes? Se considerarmos as outras
aparies de t drso; nas tragdias que possvel ler, podemos ficar com
uma impresso diferente. As aparies no so poucas: podemos contar quase
vinte, e em todas evidente no a dvida da escolha entre duas aes a empre-
ender, e sim a frustrao de uma situao sem sada, de apora, de amekha-
na. A construo prevalente (8 vezes) , com efeito, omoi t drso;. Uma
vez (Tro. 793) est associado ao homrico t ptho; (que farei? que aconte-
4 Em 1953 aparece Discovery of Mind; na Itlia a traduo da primeira edio do livro aparece com um
ttulo pensava-se mais apetecvel aos leitores italianos, principalmente ao pblico da editora. Snell
resulta, todavia, bem mais importante na Itlia do que em outros pases, como demonstram as tradues
de outras trs obras suas.
5 Citado em francs no texto [N.d.T]. VERNANT, J.-P., bauches de la volont dans la tragdie grecque
[1972], em Mythe et tragdie en Grce ancienne, Paris 1973, p. 41 s. (citao, p. 48 e 47 respectivamen-
te).
Kriterion 107.p65 88 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 89
cer comigo?), uma outra vez (Or. 309) no menos significativo: gyn t
drso; (mulher que sou, que posso fazer?)6 . Snell, no entanto, no estava
errado em reconhecer nessas palavras uma expresso tipicamente trgica.
Confirma-o Aristfanes, que a usa, pelo que podemos ler, pelo menos cinco
vezes e sempre com um tom paratragdico, como mostra a composio do
verso, seno a prpria situao cnica: Dicepolis que macaqueia Eurpides
(Ach. 466) ou o prprio Eurpides s voltas com o guardio (Thesm. 1128)7 .
Ao que parece, ento, a expresso de squilo torna-se prpria dos mo-
mentos de maior tenso trgica, marcando no a possibilidade de uma esco-
lha e logo a liberdade de uma deciso autnoma, mas antes o desespero da
impotncia. assim para o Orestes das Coforas? Eu creio que sim. Creio
que Snell, mas no s ele, tenha em alguma medida deixado de considerar
que terrfico desgosto devesse provocar nos espectadores a ostentao de um
propsito matricida. Matar a prpria me, ainda que culpada, uma enormi-
dade e, mesmo podendo encontrar em seguida uma espcie de explicao
teolgica (Apolo nas Eumnides), o ato em si, em sua verbalizao cnica
que anuncia a execuo atrs da cena, no pode no aparecer como horrendo
e repugnante. Orestes , assim, obrigado a isso e enuncia a prpria impotn-
cia diante daquela que uma violao irremedivel da aids.
No casual que a cena seja longamente preparada por uma srie de
sugestes simblicas. Clitemnestra executa o gesto materno supremo de
mostrar ao filho o seio que o amamentou; o gesto remete certamente ao de
Hcuba, descrito por Homero:
Abriu a roupa e com a outra mo levantou o seio e, derramando lgrimas, disse
palavras certeiras: Heitor, filho meu, tem respeito disto e tem piedade de mim, se
um dia te ofereci o seio dissipador de afs (Il. 22, 79-82).
Clitemnestra sim me, mas me de monstros. ela mesma que sonha:
Pareceu-lhe que parira uma serpente
...
maneira de uma criana, colocou-a nas fraldas
...
Ela mesma, no sonho, oferecera-lhe o seio
...
At que no leite chupou um bolo de sangue (Co. 527-533).
6 O nico contexto em que a pergunta dirigida pela personagem a si mesma coloca um efetivo dilema o
de Hec. 737: Hcuba pergunta-se se deve jogar-se aos joelhos de Agammnon ou sofrer em silncio. Os
outros lugares so: SQUILO, Sept. 1057; SFOCLES, Ai. 809, 920, 1024, Phil. 969, 1063, Oed. Col.
1254; EURPIDES, Alc. 880, Med. 1376, Heracl. 419, 737, H. F. 1157, Hec. 419, Tro. 793, Phoen. 734,
1277, 1310, 1615, Or. 1610.
7 Cf. tambm Nu. 844, Pa. 1252 e Eccl. 358.
Kriterion 107.p65 89 10/2/2006, 11:23
90 Diego Lanza
A onrica maternidade monstruosa de Clitemnestra ento indicada jus-
tamente pelo seio que ela oferece serpente parida e pelo sangue que da
nasce. Orestes profeta fcil:
Eu suplico ento a esta terra e ao tmulo paterno que esse sonho seja levado a cabo
por mim. Eu discirno-o de maneira aderente [ verdade]: se a serpente, como uma
criana, saiu do mesmo lugar de onde eu sa, foi dotada de fraldas, ps na boca o
seio que foi instrumento de minha nutrio, e misturou com um bolo de sangue o
seu caro leite e ela, amedrontada, gemeu por tal sofrimento, j que nutriu o monstro
assustador, deve morrer com violncia, e sou eu [...] que vou mat-la, como narra o
sonho (Co. 540-550).
No me ou me de monstros, Clitemnestra , ela mesma, um monstro.
A imagem aparece duas vezes:
, Zeus, Zeus, invoca Orestes s testemunha destes fatos: olha a estirpe rf da
guia pai falecido nas dobras e nas contores de uma tremenda vbora (Co. 246-9).
Na cena de squilo do matricdio, do matricdio verbal na cena que pre-
cede o real atrs da cena, h, assim, um jogo intenso entre os sinais tradicio-
nais da maternidade e os da monstruosidade que, enquanto aumenta a tenso
dramtica, tempera, talvez, a repugnncia pelo ato que o deus imps a Ores-
tes e contribui a torn-lo de algum modo plausvel.
bvio que a imediatez da cena requer critrios de aceitabilidade dife-
rentes dos de uma simples narrao; as estratgias da dramatizao so, as-
sim, diferentes, ao repropor as narraes tradicionais.
Uma diferena de grande relevo est, por exemplo, na representao das
relaes entre o homem e a divindade. Na narrao pica deuses e heris
dialogam entre si, s vezes at mesmo se ameaam e caoam uns dos outros
reciprocamente. o caso de Diomedes, que no s fere Afrodite, mas lhe
dirige abertamente palavras de escrnio:
Vai embora, filha de Zeus, do embate da guerra. No te basta seduzir mulheres
imbeles? Mas, se freqentares a guerra, penso que tu temers a guerra mesmo ou-
vindo falar [dela] de longe (Il. V 348-451).
Helena tambm alterca com Afrodite antes de ser obrigada a ceder, e o
tom do dilogo no se apresenta diferente de uma desavena entre duas mu-
lheres:
Desgraada, por que me enganas e me seduzes? Ainda me levars mais longe nas
populosas cidades da Frgia ou da amvel Menia, se a tambm te for caro algum
dos homens mortais?
.........
Kriterion 107.p65 90 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 91
A ela irada respondeu a resplendente Afrodite: No me provoques, miservel, a
que eu, irada, te deixe e, quanto at aqui te amei, tanto te odeie e desencadeie entre
ambos, Troianos e Dnaos, dios lutuosos, e tu morrers de sina ruim (Il. III 399-
402; 413-6).
O aedo pode permitir-se isso porque os acontecimentos que ele conta
pertencem a um outro tempo, a um tempo remoto. O poeta pico frisa com
nfase a distncia que separa o heri, o homem do passado longnquo, do
homem de seu tempo:
E ele, o filho de Tideu, pegou uma pedra, grande empresa, que nem dois homens,
como agora so os mortais, carregariam, mas que ele, at mesmo sozinho, facilmen-
te sacudia (Il. V 302-4).
O confronto com o presente serve ao aedo para sugerir a imagem dos
heris, extraordinrios e irrepetveis. Mas os heris, por sua vez, quando
evocam o prprio passado, no se comportam de maneira diversa do aedo. O
velho Nestor em Tria relembra os tempos de sua juventude distante e os
guerreiros com que combatera, guerreiros em luta com os centauros sobre os
quais no final triunfaram:
A eles ento eu me uni, vindo de Pilo, de uma terra distante; foram eles que me
chamaram e eu combati por minha conta, mas com eles nenhum dos mortais que
hoje esto sobre a terra combateria (Il. I 269-272).
O efeito de duplicao decerto no proposital; apenas um sinal da
necessidade que o aedo tem de pensar e fazer suas prprias personagens
pensar o tempo em termos de extraordinariedade irrecupervel.
A representao dramtica opera de maneira contrria porque deve su-
gerir a iluso de que os acontecimentos se desenrolam diante do pblico e
que as personagens, deuses e heris, agem no presente. Muitas vezes essa
contemporaneidade fictcia , por assim dizer, reiterada at mesmo verbal-
mente, como que a indicar que o espectador chamado a assistir justamente
ao momento crucial do inteiro acontecimento, no dia em que a histria do
heri chega ao seu ponto determinante. Nesse dia..., num dia s... so
expresses que podemos encontrar nas palavras de quem, deus ou adivinho,
j conhece os acontecimentos e adverte o protagonista8 .
A teofania trgica tambm tem regras prprias, muito diferentes das da
narrao pica. O deus no se mistura com os heris, e os heris so repre-
sentados nos limites da prpria humanidade, no porque eles e suas vicissitu-
8 Cf. SFOCLES, Ai.756, O.R.438, El.1363; EURPIDES, Alc.20, Hipp.22 etc.
Kriterion 107.p65 91 10/2/2006, 11:23
92 Diego Lanza
des sejam a reproduo cnica da vida cotidiana, mas porque as relaes com
o deus aparecem rigorosamente disciplinadas. Eles ouvem os deuses e lhes
obedecem sem discutir; e os deuses, quando aparecem, permanecem em um
plano visualmente bem distinto, a saber, na mekhan ou no theologeon.
Sabemos que j a pica opera processos de ressemantizao. Muitas ve-
zes os fatos que o aedo deve contar ou as figuras que entram em seus relatos
no so facilmente compreensveis para o pblico e para ele mesmo, de modo
que devem ser replasmados segundo diferentes critrios de credibilidade, que
interpretem ou substituam crenas e rituais j em desuso: Tersites, Dlon, o
prprio Ulisses so um claro testemunho disso9 .
Os mthoi, ou seja, as histrias tradicionais, so, de resto, continuamen-
te revisitados, repropostos em circunstncias e com modalidades de execu-
o diferentes, procurando toda vez torn-los compreensveis segundo os
diferentes cdigos expressivos, procurando oferecer deles uma interpreta-
o, isto , uma justificao.
Mas por que os mitos devem ser explicados? Ou, para colocar a pergunta
mais claramente: por que histrias que so s vezes de difcil decifrao de-
vem ser retomadas e recontadas? No aqui minha tarefa, nem est em mi-
nhas possibilidades, enfrentar de maneira satisfatria o conjunto de questes
tericas que comporta a simples pergunta o que um mito? ou diversa-
mente formulada, o que o mito?. So questes que, como recentemente
Cristiano Grottanelli10 mostrou bem, remetem inevitavelmente a reflexes e
pontos bem mais gerais: tem sentido contrapor mito a razo, mito a histria,
mito a linguagem etc.? Deixo, ento, de lado tais perguntas no porque no
nos digam respeito, mas porque penso que seja possvel dizer algumas coisas
mais circunscritas e, entretanto, historicamente fundadas, sem dever previa-
mente resolv-las. Est claro, por outro lado, que qualquer pessoa que se
ocupe de poesia grega j fez, ainda que de maneira inconsciente, opes que
condicionam teoricamente seu prprio operar. No difcil, de resto, enten-
der como todas essas questes pressupem como crucial o antigo problema
da origem do mito: como ele nasce, quando, por qu? Eu preferiria, pelo
menos nisso, o ponto de vista de Walter Burkert: no interessa como o mito
nasce, interessa antes como e por que guardado e trasmitido. Burkert suge-
re naturalmente uma primeira resposta que pode, talvez, parecer um tanto
quanto genrica, mas que vale a pena lembrar:
9 Remeto aqui, inclusive para a bibliografia, ao exame crtico de BERTOLINI, F., Societ di trasmissione
orale: mito e folclore, em CAMBIANO, G.- CANFORA, L. - LANZA D. (a cura di), Lo spazio letterario della
Grecia antica, I 1, Roma 1992, p. 47 s.
10 GROTTANELLI, C., Problemi del mito alla fine del Novecento, Quaderni di Storia 46 (1997), p. 183.
Kriterion 107.p65 92 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 93
O mito uma narrao tradicional com uma referncia secundria, parcial, a algo
que tem importncia coletiva11 .
Mais recentemente, Jan Assmann reiterou que na memria social de um
grupo se guarda o que serve para garantir seu sentido de identidade12 . Muitas
das observaes de Assmann sobre o mundo grego no me parecem felizes,
inclusive porque a sua viso da Grcia inevitavelmente mediada por um
determinado milieu filolgico, o alemo, com o qual a sua pesquisa terica
na verdade no tem muito a ver. Mas isso no importante. Acredito que
seja, ao contrrio, muito til o que suas pginas sugerem implcita ou expli-
citamente, a saber, que a investigao sobre o mito seja qual for a defini-
o que preferimos dar do mito deva ser revista no interior de uma consi-
derao mais ampla e geral sobre a memria cultural de uma sociedade.
Isso no significa que os relatos transmitidos fossem imediatamente pers-
pcuos, mas d conta da preocupao de torn-los tais por parte de quem o
poeta, em primeiro lugar delegado socialmente sua conservao e trans-
misso. Mas o que implica essa conservao? Estou ciente do fato de a per-
gunta poder arrastar-nos em uma controvrsia abusada: os Gregos acredita-
vam ou no acreditavam em seus mthoi, acreditavam ou no acreditavam
em seus deuses e em seus heris? O perigo pode, todavia, ser evitado: mem-
ria social no , com efeito, f em acontecimentos ocorridos, conscincia
histrica como ns comumente entendemos, mas partilha lembranas signi-
ficativas, continuidade com um passado em que se reconhece o sentido forte
da prpria identidade. a confiana no fato de o passado, tal como lembra-
do, ser a garantia suprema do que somos, ou melhor, do achamos que somos.
Se o mito , ento, parte da memria social, est claro que a sua drama-
tizao, isto , o reprop-lo no como passado remoto, mas como presente,
ainda que fictcio, pode colocar algum problema. E, de fato, o mito na trag-
dia aparece de modos e segundo lgicas diferentes.
Devemos considerar, antes de tudo, a histria que tomada como mat-
ria da dramatizao. Ou melhor, o segmento de histria, j que a tragdia
limita-se sempre a dramatizar um pedao de um relato mtico, aquele que o
poeta julga ser seu ponto crucial, o momento em que o prprio significado de
todo o acontecimento parece concentrar-se: o assassinato de Agammnon, a
descoberta de si mesmo feita por dipo, a loucura de Hracles, o revelar-se
do edolon de Helena etc. Todo segmento dramatizado, por outro lado, pres-
11 BURKERT, W., Structure and History in Greek Mythology and Ritual, Berkeley 1979, p.23; trad. it., Mito e
rituale in Grecia, Laterza Bari 1987, p. 38.
12 ASSMANN, J., Das kulturelle Gedchtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitt in frhen Hochkultu-
ren, Mnchen 1992; trad. it., La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identit politica nelle grandi civilt
antiche, Einaudi, Torino 1997.
Kriterion 107.p65 93 10/2/2006, 11:23
94 Diego Lanza
supe um antes e um depois, e no , como pretende Aristteles, um hlon,
um todo autnomo que basta a si mesmo. Pressupe-se que o que precede e o
que sucede sejam, sim, j conhecidos do pblico, mas isso no exime o poeta
de relembr-los, s vezes com muita insistncia, na tragdia. Os coros de
Agammnon reconstrem, pode-se dizer, a inteira saga dos descendentes de
Tntalo, os intensos dilogos de dipo Rei recompem pedao por pedao o
complicado mosaico de uma histria desconhecida do protagonista, e em
Ifignia em Turis, em ocasies dramticas diferentes, so evocados todos os
reveses da estirpe de Tntalo e Plops at a futura purificao de Orestes.
Trata-se de simples recapitulaes informativas dos acontecimentos? No
parece: o ir alm dos limites da ao cnica faz parte, ele mesmo, do ritmo
dramtico; torna-se, ele mesmo, vetor emotivo. E assim como h a recupera-
o do passado, h tambm o anncio do futuro posto na boca de deuses e
adivinhos. O ingresso das Ernias apaziguadas na prspera vida da tica, a
volta de Filoctetes entre os homens, a metamorfose de Hcuba em cadela so
todos prolongaes, emotivamente necessrias, do que diretamente se passa
na cena.
O mito representado pode expandir-se no apenas no que antecede e no
que sucede. Pode-se ter s vezes aquilo que poderamos definir como uma
expanso tangencial, ou seja, quando, no curso da ao dramtica, feita
aluso a acontecimentos que no pertencem nem ao que antecede nem ao que
sucede ao representada, mas cuja memria est tradicionalmente ligada a
uma das personagens presentes em cena. Trata-se, por exemplo, das remis-
ses juventude do velho Peleu em Andrmaca, da estadia de Egeu em Tre-
zene em Media e, naturalmente, da histria completa das peregrinaes de
Io evocada por Prometeu.
H, ademais, uma outra possibilidade de lembrar ou evocar relatos que
no tm diretamente a ver com a ao dramtica nem com nenhuma de suas
personagens. uma evocao que se pode definir como analgica: um mito
totalmente diferente evocado para marcar a situao ou o estado em que se
encontra o heri da tragdia. o caso do mito de Nobe, evocado por Antgo-
na antes de desaparecer da cena e da vida:
Ouvi como muito miseravelmente morreu no pico do Spilo a estrangeira da Frgia,
a filha de Tntalo, que, como hera tenaz, domou o rochoso arvoredo; e a ela, consu-
mida pela chuva como os homens dizem nunca a neve abandona, e dos clios
sempre lacrimosos lhe banha os lados. A mim, que sou em tudo semelhante a ela, me
abate o demnio (Sfocles, Ant. 822-832).
o caso dos mitos de Dnae, de Licurgo e dos filhos de Fineu, relembra-
dos pelo coro logo depois do desaparecimento de Antgona:
Kriterion 107.p65 94 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 95
O corpo de Dnae tambm sofreu por trocar a luz do cu por um aposento de
bronze, e, subtrada aos olhares, foi encerrada em um tlamo sepulcral. No obstan-
te, era de alta linhagem, filha, e guardava em si o smen de Zeus, chuva dourada.
Mas tremenda a potncia do destino; nem riquezas, nem armas, nem fortaleza,
nem naus escuras batidas pelas ondas podem dela proteger.
Foi subjugado o iracundo filho de Driante, o rei dos Ednios, pela sua ultrajante
clera, por parte de Dioniso, amarrado na priso de pedra; agora a sua tremenda
loucura e a sua fora florescente vo minguando; assim ele conheceu o deus, ao
provoc-lo, louco, com palavras de ultraje (Sfocles, Ant. 944-961).
So os mitos de Calisto e de Cs que Helena evoca na tragdia que lhe
dedicada:
virgem, feliz uma vez na Arcdia, Calisto, que com membros quadrpedes su-
biste no leito de Zeus, quo mais recebeste do destino que minha me; com forma de
fera vilosa figura de leoa de olho resplendente te livraste das angstias da dor.
Tu que tambm um dia rtemis tirou do coro, cerva de chifres dourados, a descen-
dente dos Tits filha de Mrope, por causa de sua beleza. Meu corpo, ao contrrio,
arruinou, sim, arruinou a fortaleza dos Drdanos e os Aqueus aniquilados (Eurpi-
des, Hel. 375-385).
Nesses exemplos, que se poderiam multiplicar13 , podemos observar que:
1) a evocao posta em passagens cantadas (solos ou corais)14 ;
2) muitos desses trechos apresentam dois tipos de marcas distintivas, a sa-
ber:
a) marcas que assinalam o valor gnmico do mito evocado em relao
situao da personagem: a mim, que sou em tudo semelhante a ela
(Sfocles, Ant. 832), tambm sofreu... (944), meu corpo, ao contr-
rio (Eurpides, Hel. 383), assim eu tambm (squilo, Suppl. 67),
tu, ao contrrio... (Eurpides, El. 847) etc.;
b) marcas que assinalam o valor secundrio do mito evocado, do relato
no relato: ouvi (Sfocles, Ant. 823), como os homens dizem (S-
focles, Ant. 828), ouo (Eurpides, Med. 1282), sei (Eurpides, El.
838) etc.
Essa dplice presena de marcas estabelece uma relao de evocao
um tanto quanto particular.
Como se v, estudar a presena do mito na tragdia no coisas simples.
Certamente repetimos sempre aos nossos alunos os espectadores anti-
13 Cf. tambm SQUILO, Suppl. 67 s.; SFOCLES, Thrach. 497 s.; EURPIDES, Med. 1282 s.; Hipp. 545 s.,
El. 824 s.
14 A nica exceo o discurso da Ama (Hipp. 450 s.), mas sobre o jogo entre ritual e dramatizao nessa
tragdia, cf. LONGO, O., Ippolito e Fedra fra parola e silenzio, em Atti delle giornate di studio su Fedra,
A.I.C.C., Torino 1985, p. 79 s.
Kriterion 107.p65 95 10/2/2006, 11:23
96 Diego Lanza
gos j conheciam a histria a que estavam para assistir. Mas o que conheciam
dessa histria? No podemos saber quais fossem as margens de originalidade
do aedo antigo na reelaborao das prprias histrias: como Demdoco can-
tou o episdio do cavalo a ponto de comover Ulisses, usando que persona-
gens, insistindo em que pormenores? Temos, todavia, testemunho, ainda que
indireto, de como os trs maiores trgicos desenvolveram algumas mesmas
histrias. Eu poderia dar o exemplo, muito conhecido, de Coforas e das
duas Electra, mas correria o risco de ficar preso em uma rede, que as inme-
ras investigaes crticas modernas tornaram particularmente complicada.
Prefiro, por isso, uma outra histria, a de Filoctetes.
squilo, Eurpides e Sfocles compuseram, cada um deles, um Filocte-
tes. Apesar de o de Sfocles ser o nico a ter sido conservado, por sorte
somos informados por Don de Prusa dos traos distintivos dos outros dois.
Em squilo o engano de Ulisses funciona: travestido, ele conta a Filoc-
tetes que os Gregos encontram-se em dificuldade pela sua prpria morte e a
do grande Agammnon.
Em Eurpides (seu drama anterior de pelo menos vinte anos ao Filocte-
tes de Sfocles e se coloca, assim, nos primeiros anos da Guerra do Pelopo-
neso), Filoctetes encontra-se no centro de um grande debate: por um lado, a
delegao dos Gregos (o engano de Ulisses logo descoberto), por outro, os
mensageiros troianos. Estes ltimos esperam aproveitar da hostilidade que
Filoctetes no esconde pelos seus compatriotas, oferecendo-lhe ajuda e hos-
pitalidade, mas inutilmemente. Em Filoctetes acaba prevalecendo o amor
pela ptria.
Enfim, Sfocles: Ulisses serve-se do jovem filho de Aquiles, Neoptle-
mo, que, como Filoctetes, foi vtima de uma injustia por parte dos chefes
dos Gregos. Inicialmente engana Filoctetes, depois se arrepende e lhe revela
tudo, prometendo-lhe hospitalidade em sua cidade. Quando os dois esto
para partir juntos para a Grcia, aparece ex machina Hracles que ordena a
Filoctetes para ir a Tria e preanuncia a ele e a Neoptlemo a glria comum
da conquista da cidade.
Os elementos essenciais da histria permanecem os mesmos, mas se fa-
lou em variantes mticas. Na realidade, o que muda apenas a psicologia de
Filoctetes, a representao de seus sentimentos, de suas dvidas, de sua deci-
so, que a explicao cada vez considerada mais crvel da histria represen-
tada.
Por conseguinte, a prpria categoria de variante mtica que provavel-
mente deve ser questionada. Variante, de fato, em relao a qu?
Quando o mito citado como exemplo gnmico (os casos j citados de
Nobe em Antgona e de Calisto em Helena), parece pressuposto que o signi-
Kriterion 107.p65 96 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 97
ficado esteja claro. E que outro valor pode ter a vingana de Orestes lembra-
da como exemplum ao jovem Telmaco, se no o do dever primrio de fideli-
dade do filho ao prprio pai? Parece que existe ento um significado certo de
Nobe, ou ento o jogo da aluso potica mais sutil e as palavras de Antgo-
na no evocam uma genrica Nobe, e sim uma figura de Nobe que j apare-
ceu na cena, dramaticamente definida e, por isso, vividamente impressa na
memria dos espectadores? No creio que seja possvel responder com certe-
za, nem oferecer uma resposta que pretenda uma validade universal, mas isso
no significa que no tenha sentido colocar a pergunta.
muito provvel que a representao trgica dos mitos tenha contribu-
do para aquele trabalho de reorganizao que a narrao pica j empreen-
dera direta e indiretamente: a ordem das diversas geraes normalmente
conservada e, nesse quadro, s vezes se relacionam lugares e personagens
antes sem relao entre si. J foi observado o papel central que nessa nova
geografia do mito a tica assume: ela torna-se o espao da expiao, da pu-
rificao, do apaziguamento, e Teseu, seu rei, a figura do grande concilia-
dor15 .
Todavia, esse intenso trabalho em cima do mito, para usar a feliz expres-
so de Hans Blumenberg, no vai em uma nica direo. O sistema dos mi-
tos, a mitologia, que se pode extrair das tragdias, inevitavelmente um sis-
tema imperfeito, no tanto pelo uso das assim chamadas variantes mticas de
que j se viu a precariedade definitria, mas por motivos mais intrnsecos,
mais ligados prpria natureza da representao trgica. A figura mtica, ao
tornar-se personagem de tragdia, fica carregada de significados novos. o
caso, por exemplo, de Antgona, uma personagem que, como poucos outros,
permaneceu vivo na memria cultural europia. Antgona ou a fidelidade ao
gnos, poder-se-ia dizer, seja qual for o significado ltimo da sua conflituosi-
dade. Antgona fiel ao pai, fiel ao irmo, parthnos no destinada s npcias.
Essa figura forte de mulher que no renuncia, a nenhum custo, aos prprios
deveres se conserva intacta na passagem de Antgona a dipo em Colono, e
justamente tal permanncia que provavelmente fixa sua imagem exemplar
fora de qualquer contexto trgico. Mas para conseguir tal permanncia Sfo-
cles foi obrigado a recuperar, com alguma dificuldade, uma coerncia narra-
tiva, decerto mais superficial, mas, no obstante, importante para a organiza-
o do mito. Antgona, com efeito, corre o risco da ubiqidade: fiel compa-
nheira da andana expiatria do pai at sua morte, aps ter pedido em vo
para compartilhar seu tmulo, de maneira surpreendente e so os ltimos
15 Ver sobre isso ZEITLIN, F., Thebes: Theater of Self and Society in Athenian Drama, em WINKLER, J.J.-
ZEITLIN, F. (edd.), Athenian Drama in its Social Context, Princeton 1990, p.130 s.
Kriterion 107.p65 97 10/2/2006, 11:23
98 Diego Lanza
versos de dipo em Colono pede para ser mandada de volta a Tebas. Mas
Colono era totalmente desconhecida das personagens de Antgona, se Isme-
ne pode afirmar, sem ser desmentida, que dipo morreu odiado e desonra-
do (apekhths duskles te) (Sfocles, Ant. 50). possvel, ou melhor, pro-
vvel, que a nfase na figura de Antgona seja prpria de Sfocles, e, por
isso, interessante considerar como o poeta fica atento em limitar a incon-
gruncia de seu trabalho em cima do mito. Incongruncia, de resto, no mais
das vezes com razo negligenciada, j que justamente graas a ela que
a coerncia emotiva da personagem se impe aos espectadores das duas tra-
gdias.
A sua potncia tal que elimina outras Antgonas, at mesmo a esposa
de Hmon de Eurpides, qual no est claro se devemos atribuir ou no a
rica continuao de reviravoltas que tiramos da narrao de Higino, mas da
qual no h vestgio em Apolodoro.
difcil, para ns, ter uma idia, ainda que aproximativa, das histrias
que forneciam assunto s tragdias antigas. Em grande parte perderam-se, e
no se pode excluir que um dos critrios seletivos da tradio sucessiva tenha
sido a preferncia por certos mitos. Tem-se, ento, um curioso efeito de difra-
o no conhecimento da mitologia grega: a ns resultam hoje familiares mi-
tos e personagens que no sc. V a.C. no eram mais conhecidos que outros,
que em seguida se transformaram em meras curiosidades eruditas. Media
para ns, pode-se dizer, paradigmtica, enquanto Nobe fica para ns na som-
bra. No obstante, a Nobe e a Tlefo sabemos que dedicaram tragdias e at
mesmo inteiras trilogias todos os trs grandes trgicos, sem contar os assim-
chamados menores.
No difcil entender, no entanto, que a reelaborao dramtica do mito
foi um momento determinante da sua transmisso. A leitura de Apolodoro
sugere-nos que algumas tragdias se tenham tornado relativamente cedo a
verso, por assim dizer, cannica das histrias nelas dramatizadas: o assassi-
nato de Agammnon aquele que vemos em squilo, a inteira histria de
dipo a que resulta da destruio e da reconstruo informativa de dipo
Rei e do mesmo modo no caso de Ifignia e em outros ainda. Quantas hist-
rias, alis, tomam emprestada da canonizao trgica das mesmas uma estru-
tura dramtica, ou seja, so cadenciadas segundo momentos de forte concen-
trao emotiva, isto , segundo as cenas que, no jargo teatral, costumam ser
definidas cenas principais? No poucas, se depois algum pde ficar persu-
adido de que os mitos gregos, os principais pelo menos bem entendido,
principais para ns eram intrinsecamente dramticos, ou seja, eram de al-
gum modo predispostos pela sua prpria natureza a viver na cena.
O mito da memria de extraordinrios acontecimentos e de grandes em-
Kriterion 107.p65 98 10/2/2006, 11:23
A DRAMATIZAO DO MITO 99
presas transformou-se, assim, em memria de emoes, emoes fortes, por-
que fortemente concentradas. Desse modo, perde ele a relevncia social que
o conservava como espelho de um sentimento de identidade? Essa tambm
uma pergunta difcil. Como difcil, para quem considerar e uma consi-
derao obrigatria a iconografia dos mitos tambm, compreender o quan-
to a visualizao pictrica e plstica se dirige visualizao dramtica e o
quanto inspirada por ela. No para seguir alguns estudiosos em sua precria
busca de supostas ilustraes de tragdias, quase fotografias de cena do tea-
tro de Dioniso, mas para perguntar-nos quanto e como a canonizao trgica
de algumas seqncias mticas tenha podido favorecer uma difuso icnica e
tenha determinado ou contribudo para determinar uma espcie de cnon fi-
gurativo com forte valor emotivo.
Que, de resto, a emoo fosse um ingrediente cada vez mais importante
da memria social, est bem testemunhado pela difuso de um tipo de narra-
o histrica a que os rgidos critrios da historiografia moderna sempre re-
servaram escassa simpatia e ateno no muito grande. Nesse caso tambm,
entretanto, o problema no o de avaliar sua qualidade com base em uma
anacronstica definio de veracidade histrica, e sim o de considerar se ela
era uma mera opo literria subjetiva ou se fosse reconhecida como um
modo particularmente eficaz de manter a memria do que devia ser social-
mente lembrado. Qual era, por outro lado, a lembrana coletiva que os Ateni-
enses do quinto sculo guardavam de uma experincia fundamental como a
batalha de Maratona?
Mas aqui o discurso corre realmente o risco de se dilatar excessivamente
e, por isso, oportuno interromp-lo. Voltando ao teatro, pode-se perguntar:
quais teriam sido os paradedomnoi mthoi sem a sua dramatizao, quanta
e qual memria do mito grego poderamos ter sem a tragdia?
Traduo de Cludio William Veloso
Kriterion 107.p65 99 10/2/2006, 11:23
Você também pode gostar
- Hipnose PDFDocumento11 páginasHipnose PDFCleonir Jose DiasAinda não há avaliações
- Savage Worlds - Compà Ndio de Superpoderes (2º Ediã à O) - Já Com A Errata PDFDocumento94 páginasSavage Worlds - Compà Ndio de Superpoderes (2º Ediã à O) - Já Com A Errata PDFAlexsander AcoAinda não há avaliações
- DD 4e Ohmtar Guia Dos Sete Mundos Biblioteca ElficaDocumento316 páginasDD 4e Ohmtar Guia Dos Sete Mundos Biblioteca ElficaJoão Marcelo Fabricio OtavianoAinda não há avaliações
- Conan Conan Livro Dos Herois 79507Documento24 páginasConan Conan Livro Dos Herois 79507Emerson Cardoso VieiraAinda não há avaliações
- O Herói de Mil Faces - Joseph CampbelDocumento3 páginasO Herói de Mil Faces - Joseph CampbelCaio Cesár PedronAinda não há avaliações
- Shakespeare e o Teatro Na Era ElisabetanaDocumento11 páginasShakespeare e o Teatro Na Era ElisabetanaRobson LimaAinda não há avaliações
- Caracteristicas Do Teatro Do OprimidoDocumento4 páginasCaracteristicas Do Teatro Do OprimidoDeise F. SantosAinda não há avaliações
- Apostila1 TeatroDocumento62 páginasApostila1 TeatroMirian RodriguesAinda não há avaliações
- Dinamicas (Exercicios de Grupo) para TeatroDocumento8 páginasDinamicas (Exercicios de Grupo) para TeatroJamys SiquerAinda não há avaliações
- Mensagem - ResumosDocumento4 páginasMensagem - ResumosBeatriz AraujoAinda não há avaliações
- A Cor Da Tua Negritude (Livro)Documento18 páginasA Cor Da Tua Negritude (Livro)Ubiratan Rodrigues100% (1)
- E Book O Teatro Na Escola CorrigidoDocumento12 páginasE Book O Teatro Na Escola CorrigidoLuis SilvaAinda não há avaliações
- Programa O Avarento Teatro de S. João PDFDocumento16 páginasPrograma O Avarento Teatro de S. João PDFMarcio HossiAinda não há avaliações
- Revistinha Ano 1 - Edição 2 - FATE Supers PDFDocumento51 páginasRevistinha Ano 1 - Edição 2 - FATE Supers PDFCarlo FallaciAinda não há avaliações
- Oficina de Jogos TeatraisDocumento7 páginasOficina de Jogos Teatraispaulo vitor palma navasconiAinda não há avaliações
- As Estruturas Narrativas - Tzvetan Todorov PDFDocumento7 páginasAs Estruturas Narrativas - Tzvetan Todorov PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Resenha Dos Textos - TeatroDocumento5 páginasResenha Dos Textos - TeatroGleici PinheiroAinda não há avaliações
- Personagens Da Tragédia Grega No Drama Português Contemporâneo - Demanda Da Identidade Na Tríade de Hélia CorreiaDocumento131 páginasPersonagens Da Tragédia Grega No Drama Português Contemporâneo - Demanda Da Identidade Na Tríade de Hélia CorreiamarianaAinda não há avaliações
- Sabedoria - Rosvita de GandersheimDocumento16 páginasSabedoria - Rosvita de GandersheimEduarda KortmannAinda não há avaliações
- Ana Mae Barbosa PDFDocumento6 páginasAna Mae Barbosa PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Métrica Na Poesia Grega PPGLCDocumento6 páginasMétrica Na Poesia Grega PPGLCWalace PontesAinda não há avaliações
- O TeatroDocumento11 páginasO TeatroVera PintoAinda não há avaliações
- O Espirito Das Roupas PDFDocumento36 páginasO Espirito Das Roupas PDFlacan567% (6)
- Dioniso Matuto: Uma Abordagem Antropológica do Cômico na Tradução de Acarnenses de Aristófanes para o CearensêsNo EverandDioniso Matuto: Uma Abordagem Antropológica do Cômico na Tradução de Acarnenses de Aristófanes para o CearensêsAinda não há avaliações
- MAPA MENTAL - Contos 2Documento4 páginasMAPA MENTAL - Contos 2Deise Motta100% (6)
- A RELAÇÃO FORMA E FUNÇÃO EM EDIFÍCIOS TEATRAIS EM UM Ambiente Virtual de Aprendizagem PDFDocumento177 páginasA RELAÇÃO FORMA E FUNÇÃO EM EDIFÍCIOS TEATRAIS EM UM Ambiente Virtual de Aprendizagem PDFAdriano PinheiroAinda não há avaliações
- A Adaptação Da Obra Infantil No Conto "A História Dos Três PDocumento12 páginasA Adaptação Da Obra Infantil No Conto "A História Dos Três PFernando JuarezAinda não há avaliações
- Apontamentos Sobre A História Dos Museus PDFDocumento14 páginasApontamentos Sobre A História Dos Museus PDFDuda BainhaAinda não há avaliações
- A História Das Emoções Sob Três PerspectivasDocumento4 páginasA História Das Emoções Sob Três PerspectivasPaloma NovaisAinda não há avaliações
- UVG RPG Livro Basico PTDocumento202 páginasUVG RPG Livro Basico PTThiago MolAinda não há avaliações
- Aby Warburg PDFDocumento17 páginasAby Warburg PDFlacan5100% (1)
- Dança e Expressões RítmicasDocumento3 páginasDança e Expressões RítmicasLuciano Juví de Oliveira100% (1)
- Ingrid KoudelaDocumento11 páginasIngrid KoudelaBeatriz Da Silva PontesAinda não há avaliações
- 12 Exames Parte-C JUN 19Documento2 páginas12 Exames Parte-C JUN 19mjspinola100% (1)
- Antologia Pou00e9tica Ferreira Gular PDFDocumento18 páginasAntologia Pou00e9tica Ferreira Gular PDFTiago Dantas100% (1)
- Brinquedoteca - ComunicadoDocumento10 páginasBrinquedoteca - ComunicadoLuanderson SouzaAinda não há avaliações
- Osdireitosdascrianc AsDocumento4 páginasOsdireitosdascrianc AsCassia Elisei FerreiraAinda não há avaliações
- Heródoto, o Pai Da História (Documento24 páginasHeródoto, o Pai Da História (Daiane Marques100% (1)
- Análise - A Pele Do LoboDocumento2 páginasAnálise - A Pele Do LoboEduardo FernandesAinda não há avaliações
- O Teatro EsporteDocumento239 páginasO Teatro EsporteAs Serpentes Comem CacaAinda não há avaliações
- FINLEY, Moses I. Mito, Memória e História.Documento1 páginaFINLEY, Moses I. Mito, Memória e História.Julia Charles0% (1)
- Édipo Rei Análise À Partir Da Poética de AristotelesDocumento26 páginasÉdipo Rei Análise À Partir Da Poética de AristotelesPeter Mair100% (1)
- Apostila Teatral Cia de ArtesDocumento43 páginasApostila Teatral Cia de ArtesMICHEL100% (2)
- Seis Estágios Da Produção e Análise TécnicaDocumento5 páginasSeis Estágios Da Produção e Análise TécnicaThiago MahrenholzAinda não há avaliações
- LIVRO OK Coesão e Coerência Textuais Leonor FáveroDocumento4 páginasLIVRO OK Coesão e Coerência Textuais Leonor FáveroConceicao AlmeidaAinda não há avaliações
- CPBT 2° MODULO - Apostila - Princípios - Da - Arte - de - Atuar (2020)Documento21 páginasCPBT 2° MODULO - Apostila - Princípios - Da - Arte - de - Atuar (2020)erikabmpAinda não há avaliações
- Antigüidade Oriental - A Crescente FértilDocumento20 páginasAntigüidade Oriental - A Crescente FértilNeyla KarineAinda não há avaliações
- Dicionário de Teatro PDFDocumento9 páginasDicionário de Teatro PDFChristian MouraAinda não há avaliações
- Plano de Aula TeatroDocumento6 páginasPlano de Aula TeatroRenato Santana100% (1)
- Projeto Teatro Na Escola - Plano de AulaDocumento8 páginasProjeto Teatro Na Escola - Plano de AulaErnesto Paulo GuelengueAinda não há avaliações
- CSC PPT - Aula 01 02 03 - o Mundo GregoDocumento33 páginasCSC PPT - Aula 01 02 03 - o Mundo GregoJosé OliveiraAinda não há avaliações
- Impresso LLPT LiteraturaInfantilUniversal 2018 1Documento52 páginasImpresso LLPT LiteraturaInfantilUniversal 2018 1Arlene FernandesAinda não há avaliações
- Teatro Grego - Comédia Antiga - ApresentaçãoDocumento15 páginasTeatro Grego - Comédia Antiga - ApresentaçãoCarlos André Oliveira De SouzaAinda não há avaliações
- Pedagogia Do Teatro e Teatro Como PedagogiaDocumento4 páginasPedagogia Do Teatro e Teatro Como PedagogiaÍcaroCostaAinda não há avaliações
- Albert Camus, o Epígono Do Absurdo PDFDocumento14 páginasAlbert Camus, o Epígono Do Absurdo PDFIgor Capelatto IacAinda não há avaliações
- A Música No Egito AntigoDocumento4 páginasA Música No Egito AntigoRogério Francisco50% (2)
- Curso de TeatroDocumento5 páginasCurso de TeatroKacířeAinda não há avaliações
- O Tempo No TeatroDocumento13 páginasO Tempo No TeatroGutto BassoAinda não há avaliações
- Dicionario de Teatro (Ubiratan Teixeira) PDFDocumento539 páginasDicionario de Teatro (Ubiratan Teixeira) PDFRanieriSilvadeSouzaAinda não há avaliações
- Teatro Brasileiro 8 AnoDocumento18 páginasTeatro Brasileiro 8 AnouitaloAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura PirataDocumento5 páginasFicha de Leitura PirataAlpha Mike0% (1)
- O Maleficio Da Mariposa - 20-09 PDFDocumento34 páginasO Maleficio Da Mariposa - 20-09 PDFClaudioMaikMottaAinda não há avaliações
- Biografia Do PersonagemDocumento2 páginasBiografia Do PersonagemGabriel Steindorff100% (1)
- LepraDocumento10 páginasLepraMagda GomesAinda não há avaliações
- Atividade Sobre A ComédiaDocumento7 páginasAtividade Sobre A ComédiaMATHEUS RESSURREIÇÃO MAIAAinda não há avaliações
- Teatro NôDocumento21 páginasTeatro NôMark SalesAinda não há avaliações
- Vida e Obra Dos Poetas Trágicos GregosDocumento11 páginasVida e Obra Dos Poetas Trágicos GregosCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Resenha Do FilmeDocumento3 páginasResenha Do Filmeirene_araujo6855Ainda não há avaliações
- Curso de Midiologia GeralDocumento3 páginasCurso de Midiologia GeralJuan Leon100% (2)
- O Realismo No Teatro BrasileiroDocumento6 páginasO Realismo No Teatro BrasileiroWellington DiasAinda não há avaliações
- Grécia Antiga - A Influência Da Cultura Helenística Na Civilização Ocidental - Pesquisa Escolar - UOL EducaçãoDocumento4 páginasGrécia Antiga - A Influência Da Cultura Helenística Na Civilização Ocidental - Pesquisa Escolar - UOL EducaçãoAnonymous LLG1RfAinda não há avaliações
- A Tragédia de Hamlet, Príncipe Da Dinamarca - William Shakespeare.Documento77 páginasA Tragédia de Hamlet, Príncipe Da Dinamarca - William Shakespeare.sissyc100% (7)
- A Importância Da Arte Contemporânea para o Futuro Professor Uma Abordagem Desde A Perspectiva Dos EstudantesDocumento14 páginasA Importância Da Arte Contemporânea para o Futuro Professor Uma Abordagem Desde A Perspectiva Dos Estudanteslacan5Ainda não há avaliações
- 299 PDFDocumento4 páginas299 PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Expressionismo Alemão PDFDocumento4 páginasExpressionismo Alemão PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Aufklärung e A Crítica Kantiana No Pensamento de FoucaultDocumento12 páginasAufklärung e A Crítica Kantiana No Pensamento de FoucaultgiovannaanaAinda não há avaliações
- Livro Emil CioranDocumento15 páginasLivro Emil Ciorantiago_regisAinda não há avaliações
- Av1 Ling Artes Reg 2013 PDFDocumento4 páginasAv1 Ling Artes Reg 2013 PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Os Trovadores Medievais e o Amor Cortes PDFDocumento15 páginasOs Trovadores Medievais e o Amor Cortes PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Malevich PDFDocumento13 páginasMalevich PDFlacan5Ainda não há avaliações
- A Arte de Ler o Que Não Foi Dito PDFDocumento7 páginasA Arte de Ler o Que Não Foi Dito PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Paradoxos Do Coração Percepções e Representações Do Noel Carrol PDFDocumento14 páginasParadoxos Do Coração Percepções e Representações Do Noel Carrol PDFlacan5Ainda não há avaliações
- A Imaginao Criadora Bachelard e Jung PDFDocumento9 páginasA Imaginao Criadora Bachelard e Jung PDFlacan5Ainda não há avaliações
- A Restuaração Da Narrativa - Luis Alberto de AbreuDocumento8 páginasA Restuaração Da Narrativa - Luis Alberto de AbreuRafael ÉrnicaAinda não há avaliações
- O ChamadoDocumento249 páginasO Chamadoandreaugustk8Ainda não há avaliações
- RedaçãoDocumento1 páginaRedaçãoCristian MacedoAinda não há avaliações
- Press Book SOBIBOR PDFDocumento15 páginasPress Book SOBIBOR PDFAlém da LinguagemAinda não há avaliações
- Livro IRACEMA de José de AlencarDocumento2 páginasLivro IRACEMA de José de AlencarLeilane AgraAinda não há avaliações
- Paideia - A Formação Do Homem Grego - Livro IDocumento17 páginasPaideia - A Formação Do Homem Grego - Livro IGilberto TakaraAinda não há avaliações
- Romantismo Século XIXDocumento12 páginasRomantismo Século XIXKarolsantanak10 KAinda não há avaliações
- Uma Partilha SexualDocumento40 páginasUma Partilha SexualMírian LeãoAinda não há avaliações
- Caderno de Filosofia Digital. 1° ANODocumento7 páginasCaderno de Filosofia Digital. 1° ANOchambelopes34Ainda não há avaliações
- A Dramatização Do Mito PDFDocumento14 páginasA Dramatização Do Mito PDFlacan5Ainda não há avaliações
- Gabriele Miranda BastosDocumento55 páginasGabriele Miranda BastosLuiz Miguel Rossi LopesAinda não há avaliações
- HERCULESDocumento44 páginasHERCULESRuber Goncalves OkAinda não há avaliações
- Almada NegreirosDocumento13 páginasAlmada NegreirosRafael PereiraAinda não há avaliações
- No Rastro Dos Boitempos PDFDocumento130 páginasNo Rastro Dos Boitempos PDFAna Lúcia AlbanoAinda não há avaliações
- Conte Sua Historia Brandlaber PDF FreeDocumento88 páginasConte Sua Historia Brandlaber PDF FreeDeleon de CarvalhoAinda não há avaliações
- CAPÍTULO 1 e Introdução Enchiridion PT BR - HORA DE AVENTURADocumento9 páginasCAPÍTULO 1 e Introdução Enchiridion PT BR - HORA DE AVENTURASamuel AraújoAinda não há avaliações
- Características Felizmente Ha Luar PersonagensDocumento3 páginasCaracterísticas Felizmente Ha Luar PersonagensNadia AlexandraAinda não há avaliações
- Tanatologia - TecEnfermagemDocumento18 páginasTanatologia - TecEnfermagemMarina Komati Yoshida de AlmeidaAinda não há avaliações
- Criação de PersonagensDocumento77 páginasCriação de PersonagensvaldomiromoraisAinda não há avaliações
- Concurso de Admissão Ao 6o Ano EF Do CMRJ 2010 / 2011Documento28 páginasConcurso de Admissão Ao 6o Ano EF Do CMRJ 2010 / 2011Osmayr SousaAinda não há avaliações
- Lideranca EspiritualDocumento42 páginasLideranca EspiritualFlavio SilvaAinda não há avaliações