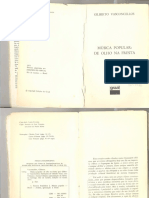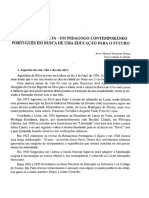Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
1 PB PDF
1 PB PDF
Enviado por
Maculane NarcisoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1 PB PDF
1 PB PDF
Enviado por
Maculane NarcisoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
aD
M
usO
cR
apA
srE A ruptura. A fragmentação. A impossibilidade. Resenha de O corpo impossível de Eliane
siS Robert Moraes.
em
,
e Rubens da Cunha 1
fiE
erl MORAES, Eliane R. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2010.
zai
sa
dn O corpo humano aparece na linha de frente do pensamento moderno, não como unidade,
am
e
a perfeição, todo, e sim como fragmento, corte, ruptura, pedaço, decomposição, impossibilidade. A
pnR fragmentação da consciência, um dos princípios fundadores do modernismo, desencadeou de forma
aio
rfb correlata a ideia de fragmentação do corpo. Entre o fim do século XIX e a Segunda Grande Guerra,
óee diversos artistas e escritores se voltaram para a criação de imagens do corpo dilacerado, dispostos a
dsr
it subverter a tradição do antropomorfismo. Em O Corpo Impossível, Eliane Robert Moraes recompõe o
a. itinerário desse imaginário. Para tanto, promove uma análise da vertente do modernismo francês que vai
7ç
õO de Lautréamont aos surrealistas, além de uma particular atenção ao pensamento de Georges Bataille.
ae Publicado originalmente em 2002, o livro foi reeditado pela Iluminuras em 2010. Trata-se de
sc
o
m uma versão reduzida e modificada da tese de doutorado da autora, defendida em 1996, na Universidade
ádr Federal de São Paulo – USP. A edição vem ilustrada com diversos desenhos, quadros, fotografias que
qop
compõem parte do repertório das artes plásticas no período estudado pela autora. O Corpo Impossível foi
uo
iS concebido por Eliane Robert Moraes sob inspiração bataillana. A autora coloca em diálogo um
nui
conjunto considerável de figuras, na sua maioria vindas das artes plásticas e da literatura. Nesse diálogo,
arm
rp visa “reconhecer as linhas de força que orientaram o processo de desfiguração do corpo humano por
eo
m meio de suas 'formas concretas'” 2. Ela traça um caminho não linear, caminho feito de associações,
oas
tls montagens, aproximando-se, dessa forma, dos procedimentos utilizados por Bataille na construção de
rií textos.
isv
e
zm O caleidoscópio montado por Eliane Robert Moraes obedece a um roteiro prévio, inclusive
ol exposto no subtítulo do livro: “a decomposição da figura humana: de Lautréamont a Bataille.” Sem
d,
e3 pretensão teleológica, os procedimentos adotados estão submetidos a uma linha histórica. O livro pode
S ser lido como um capítulo possível “da inesgotável história das ideias e dos imaginários” 3, sobretudo,
svã
uio aquela que permeou a modernidade, com ênfase no surrealismo. Apesar do longo período estudado, O
an corpo impossível consegue demonstrar toda a complexidade, força e coragem desses artistas que
dP
coa enfrentaram o desmonte do corpo e dos ideais.
ru O livro está dividido em três grandes partes, que se subdividem em vários capítulos, ou
ial
ao 1 Doutorando em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com pesquisas sobre a obra ficcional de
çd: Hilda Hilst. Mestre em Literatura pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Cronista e Poeta. Autor de Campo
ãe avesso, Casa de paragens, Aço e nada, Vertebrais e Crônica de gatos.
osE 2 MORAES, 2010, p. 22. A partir deste momento, será colocado o número da página após a citação, uma vez que todas as
.ed citações referem-se ao mesmo livro - MORAES, 2010.
3 idem.
m
i
165
bt
S
uo
acr
aa
membros. Na primeira parte, há uma apresentação dos principais tópicos que envolvem a problemática
do corpo no período estudado. A perda do corpo como unidade e o consequente surgimento do corpo
despedaçado, fragmentado, é vista por Eliane, primeiramente pelos instrumentos que permitiram essa
fragmentação. Assim, inicia-se o percurso pelo corpo impossível, olhando-se a mítica Salomé e seu
objeto de desejo: a cabeça cortada do profeta João Batista. A autora analisa como nas artes fin-de-siecle o
mito foi revivido por Oscar Wilde, por Flaubert e por Mallarmé, que lhe dedicou um solilóquio. Além
de pintores como Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes e Gustave Klimt, entre outros. A
Salomé desse período era sempre vista com uma sexualidade turva e difusa, capaz de obscurecer a
violência que seu desejo perpetrou. A sua androginia, o seu mistério contumaz, eram os primeiros sinais
da perda da unidade do corpo e a porta de entrada para os domínios da morte.
Outro instrumento fundamental para a dilaceração do corpo foi a mesa de dissecação. Se, em
1936, na revista Acephale, Georges Bataille e André Masson propuseram a imagem de um homem
decapitado como a síntese de uma época, tal proposta nasce de um longo período de maturação e de
construção de um objeto simbólico que consegue reunir, dizer, expor, as perplexidades da época. Esse
objeto é a mesa de dissecação. Para traçar um percurso de leitura, Eliane Robert Moraes parte de uma
frase de Lautréamont que fundamentou muito as ideias surrealistas: “belo como... o encontro fortuito
de um máquina de costura e um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação” 4. Essa frase foi utilizada
pelos surrealistas, tanto na teorização da imagem, feita por Pierre Reverdy em 1918, quanto nas ideias
advindas do primeiro manifesto surrealista, com suas premissas de escrita automática e de uso de
alucinógenos para criar-se um delírio imagético. Para os surrealistas, a criação poética teria que
surpreender sempre, não apenas o leitor, mas o próprio criador. A frase de Lautréamont serviu também
para Max Ernst definir a colagem como um “encontro fortuito de duas realidades distantes em um
plano não pertinente” 5. Assim, Eliane Robert Moraes destaca que o pretendido por Ernst era, mais do
que desfigurar, “transfigurar, operando metamorfoses de seres e objetos” (p.45).
Fazendo esses cruzamentos, essas ligações, a autora nota que os surrealistas se detiveram mais
no inusitado encontro entre uma máquina de costura com um guarda-chuva do que à mesa de
dissecação. Para ela, esse “silêncio” se deu devido a uma resistência, porque “embora a metáfora da
dissecação transpareça reiteradamente nas diversas técnicas de colagem, o objeto, na sua literalidade,
parece inadmissível para a consciência surreal.” (p.50). A força da mesa de dissecação é ignorada por
Ernst ou transformada em cama por Breton. A mesa de dissecação era um perigo às ideias de amor
sublime e de beleza que perpassavam o pensamento erótico dos surrealistas. A partir desse ponto,
inicia-se o relato que levou o distanciamento entre Bataille e Breton. O primeiro “propunha inscrever a
atividade erótica nos domínios da violência” (p.50), fazendo com que o sentido último do erotismo
fosse a morte. Breton acusou Bataille de “baixo materialismo”, pois, segundo o surrealista, o olhar
4 apud MORAES, 2010, p. 40.
5 apud MORAES, 2010, p. 44.
166
bataillano só via no mundo “o que existe de mais vil” 6. Eliane percorre com desenvoltura essas
divergências entre Bataille e os surrealistas mais empedernidos. No final do capítulo ela conclui que a
primeira metade do século XX parece ter sido maior, mais dura e visceral do que prenunciavam, tanto
os surrealistas com suas resistências a encarar a dilaceração, quanto Bataille e sua nostalgia do sacrifício.
A mesa de dissecação, para além do que Lautréamont dispôs sobre ela, seria a cara do século XX, em
que “o lento espetáculo do corpo agônico foi reduzido à produção programada de cinzas e os
instrumentos de extermínio submeteram-se à lógica da produtividade” (p.54).
Aprofundando a questão no capítulo seguinte, Eliane Robert Moraes se detém no corpo
fragmentado, em que a anatomia humana se deforma, havendo uma proeminente desumanização da
arte. Partindo do pressuposto de que “fragmentar, decompor, dispersar” seria “o vocabulário que
define a postura modernista” (p. 59), a autora relata como a ideia de caos, a desintegração da ordem, da
unidade, o desprendimento do todo, a integridade perdida, marcaram o pensamento dos artistas nas
primeiras décadas do século XX. O mundo só poderia se revelar em pedaços, então a arte também se
despedaçou, também se desmembrou de forma violenta. Há um aprofundamento dessa questão através
da análise do surpreendente artista Hans Bellmer e suas bonecas desmontadas e remontadas,
desmontáveis e remontáveis, criando efeitos ainda esteticamente perturbadores, pois redimensionavam
o corpo humano, jogando-o no limite da estranheza, do susto. De acordo com a autora, “A Boneca
representava, pois o oposto do corpo geometrizado, circunscrito a limites e medidas” (p. 68). A
permutação constante de membros e órgãos, que Bellmer impôs a suas poupées “buscavam fazer
coincidir a imagem real e a imagem virtual de um corpo, reunindo numa só figura o resultado da
percepção imediata do olhar e as reinvenções da imaginação” (p. 68).
Algumas ideias surrealistas viam na violência algo positivo, algo que destruiria o velho e
instauraria a novidade. No entanto, com o enfrentamento de duas guerras mundiais, esse otimismo
arrefeceu, dando lugar a uma visão mais pessimista, em que a dilaceração era a tônica. O corpo
fragmentado tornou-se corpo ausente: “a anatomia moderna desrealizava por completo a forma
humana, partindo de uma permanente recusa em fixá-la segundo qualquer possibilidade estável ou
consistente” (p. 70). Eliane Robert Moraes desenvolve uma leitura no sentido de expor como os
principais pensadores enfrentaram essa questão, “em que o corpo, erotizado, era lançado à
fantasmagoria absoluta”. A identidade corporal foi perdida, chegando a um grau zero, fazendo com que
artistas encarassem essa ausência de silhueta. O corpo já não era mais o clássico corpo de antes. Houve,
nesse período do século XX, uma metamorfose da figura humana. É por essa metamorfose que Eliane
Robert Moraes nos encaminha em mais uma capítulo de seu livro. Chega-se à desumanização, ou seja, o
homem deixa de ser o centro. Há uma negação do antropocentrismo, as artes deixam o homem clássico
de lado e passam a metamorfoseá-lo em animal, em planta, em objeto qualquer. Eliane Robert Moraes
6 apud MORAES, 2010, p. 51.
167
(p. 76) diz que “uma vez liberados de suas aparências, de suas propriedades físicas e de suas funções, os
objetos passam a ser dotados de um inesgotável poder de migração”. Tendo sempre como pano de
fundo as ideias surrealistas e bataillanas, a autora traça novamente um paralelo entre esses dois
pensamentos. Por um lado a convergência que o pensamento surreal faz entre poesia e alquimia, tendo
por base a analogia universal que substitui o princípio da identidade e da contradição, por outro, as
ideias de Bataille em que o “universo a nada se assemelha e nada mais é que informe, equivale dizer que
o universo é qualquer coisa como uma aranha ou um escarro”7.
Os surrealistas acreditavam que o fracasso do antropocentrismo era apenas um
desaparecimento da figura humana causado por tudo aquilo que a perseguia, mas que ela reapareceria
“sob o talhe de formas monstruosas ou deformidades ameaçadoras” (p. 88). Para os surrealistas, a
destruição da figura humana era necessária, pois a partir dessa destruição surgiriam novas formas de
vida e de expressão do humano. Já Bataille pensa o humano como um acéfalo, o ser capaz de “sintetizar
a fragmentação da anatomia humana”, (p. 89). O acéfalo era a desumanização contrária do homem. Se
antes lhe retiraram o corpo, ficando a cabeça guilhotinada como símbolo da decapitação, agora lhe
retiraram a cabeça, ficando apenas um corpo em estado de abandono completo. O acéfalo não é nem
homem, nem deus, nem eu, diz Bataille 8, mas um “ele mais que eu: seu ventre é o dédalo no qual ele
perde-se de si mesmo, perde-me com ele, e no qual eu me reencontro sendo-o, quer dizer, monstro”.
Depois desse itinerário, chega-se a segunda parte de O corpo Impossível em que o objetivo é traçar
“uma breve genealogia dessa negação do ideal antropomórfico” (p. 21). O texto encaminha o leitor para
um reconhecimento de como essa negação ocorreu no repertório modernista. No capítulo “A vida dos
simulacros”, a autora retoma o conto “O homem da areia” de Hoffmann, publicado em 1817, para
traçar o percurso que marionetes, objetos autômatos, brinquedos fizeram até o fascínio que geraram
nos principais nomes das vanguardas do século XX. Para a autora, o olhar vanguardista sobre esses
objetos difere dos precursores, pois se “a dúvida, em vez de incidir sobre a máquina que simula um ser
vivo, acaba por transformá-la no objeto a partir do qual a própria realidade humana é posta à prova” (p.
96).
Além dos autômatos, outro simulacro abordado por Eliane Robert Moraes é a questão do tema
do duplo, da sombra. Tal ideia já perpassava o pensamento romântico e foi muito explorada por
Breton no ensaio “Introduction aux 'Contes bizarres' d´Archim d'Arnim”, no qual o surrealista refaz o
itinerário da aventura romântica do duplo, percebendo as diversas variantes da ideia de duplo que
resulta na “inquietação moderna que, a partir de Arnim, vem alterar decisivamente a consciência da
identidade” (p. 99). O texto de Eliane Robert Moraes expõe duas possibilidades desse duplo: a primeira
é ver a sombra como um prolongamento do eu, uma condensação. Na segunda possibilidade, há a
perda da sombra, algo que sugere a antecipação da morte. É como se a sombra independesse do corpo,
7 apud MORAES, p. 81.
8 idem, p. 89.
168
ganhasse vida própria. De acordo com a autora (p. 102), a distinção é decorrente da ênfase no
tratamento do tema. De um lado a interiorização do duplo, do outro lado, a hipótese absurda “da
separação entre a sombra, que se torna autônoma, e o homem, que se desfigura definitivamente”.
Percorrendo esses meandros, com diversos exemplos e ilustrações, Eliane nos leva a outro
processo de desumanização, de desfiguração do corpo humano, ao abrir um capítulo para “O Bestiário
Surrealista”. O homem, definitivamente, deixou de ser o centro no qual o mundo se organizava, não era
mais o corpo humano a medida das coisas. Há, portanto, uma obscuridade a ser enfrentada, há um
caminho que leva para o animalesco e depois para o monstruoso. Surge um olhar diferenciado sobre a
natureza: “a nova abordagem da natureza se constrói como negação das taxionomias tradicionais que
tem como pressuposto a autossuficiência dos três reinos naturais” (p. 109). Penetrando no bestiário
surrealista, Eliane encaminha o leitor pelos meandros simbólicos usados por esses artistas: sátiros,
esfinges, sereias, além da ideia de monstro como desvio da natureza. Diferente da zoologia fantástica do
Renascimento, em que se priorizava as representações de monstros semi-humanos, para os surrealistas,
em suas ideias de correspondências, os monstros não eram mais aberrações, mas imagens poéticas. Por
isso, toda forma monstruosa, sobretudo, a esfinge, “assume o papel de depositária do sentido da vida”
(p. 119).
No capítulo seguinte, “A fábula inumana”, o percurso de Eliane Robert Moraes volta-se para a
revista Documents, cujos dois artigos anônimos publicados em 1929 e intitulados “Homem”, reduzem o
mesmo à condição mais irrisória dos elementos químicos que o compõe. Assim, “a gordura de um
corpo humano de constituição normal seria suficiente para fabricar sete porções de sabonete”9, e o
ferro presente no organismo humano pode fabricar um prego mediano, e com o açúcar pode se adoçar
uma xícara de café. É o mergulho definitivo na inumanidade. Para Eliane (p. 126) “os pequenos artigos
publicados na Documents expressam o ponto terminal de uma sensibilidade que, começando por duvidar
da realidade dos corpos vivos, acaba por confrontar-se com essa evidência do nada – ou do quase nada
– que a matéria impõe à existência”. Esse capítulo é uma análise daquilo que constitui o que pode ser o
último estágio da impossibilidade do corpo: o homem como unidade, que na imaginação romântica
torna-se sombra, para em seguida tornar-se uma cópia, onde “surgem as primeiras evidências de sua
condição espectral” (p. 127), no passo seguinte, ele já é o duplo que é outro, chegando à condição de
máquina, de fábula inumana.
Fábula em que as fronteiras entre homem, animal, corpo sem alma, esqueleto, se esvanecem.
Para que a fábula aconteça, o homem precisa não apenas confrontar-se com sua própria imagem, mas
interrogar-se diante das outras criaturas. Os animais, com suas características semelhantes às humanas,
servem como “figuras privilegiadas dessa interrogação” (p. 127). Eliane Robert Moraes continua seu
processo de caminhar entre as inúmeras referências para traçar um percurso dessa interrogação, tanto
9 apud MORAES, 2010, p. 125.
169
com ideias surrealistas, quanto com as de Bataille. Se os surrealistas reconheciam “na animalidade um
estado original a ser reconquistado”, Bataille estabelecia que em cada homem há um animal
aprisionado, privado da liberdade, restando-lhe apenas a inveja que tem dos animais livres. Bataille vai
mais fundo na questão: desdobra os animais em “formas acadêmicas” e “formas dementes”. No
primeiro tipo estariam os animais nobres, fortes, elegantes, harmônicos, como os cavalos e os tigres. No
segundo, os dementes seriam aqueles animais próximos do barroco, animais bárbaros, burlescos: a
aranha, o gorila, o hipopótamo. Seriam os “monstros naturais”, na definição de Bataille. Em
contraponto com as formas clássicas dos animais acadêmicos, os dementes seriam transtornados, em
constante revolta, em constante metamorfose. Segundo Eliane Robert Moraes (p. 134) “trata-se
efetivamente de uma condição atávica do homem que, no limite, o impede de identificar-se por
completo com o ideal humano, remetendo-o às suas violentas necessidades animais”. O corpo humano
seria como um “suporte original das metamorfoses”, pois pode desdobrar-se em outros, além de
projetar-se para fora de si. A figura humana seria reduzida à coisa, desantropomorfotizada por
completo, chegando a ser uma “engrenagem do nada”, conforme Bataille 10. O périplo da autora
continua por Hans Bellmer e sua boneca desarticulada Olímpia, passando por Dali, Jarry e chegando a
Duchamp, com as suas “máquinas celibatárias”, que “decompõem a anatomia humana em vapores,
faíscas ou ondas magnéticas” (p. 139). Ela aborda também os pensamentos de Blanchot, Adorno e
Horkheimer.
Inicia-se a terceira parte de O Corpo Impossível. O foco agora é em Georges Bataille, autor que
permeou as duas partes anteriores, sobretudo, nos contrapontos com as ideias surrealistas. Eliane
Robert Moraes centra-se nos textos escritos na década de 1920 e 1930, período da publicação das
revistas Documents e Acéphale. O norte da leitura de Eliane é a figura do acéfalo e as diversas formas que
a concepção bataillana de informe assume nesse período. Para a autora o “antropomorfismo dilacerado
de Bataille confere uma dimensão ontológica ao projeto modernista de decomposição das formas,
oferecendo uma resposta cruel às interrogações de seus contemporâneos” (p. 22).
A terceira parte inicia com uma interrogação: “como compreender que, depois do violento
processo de desantropomorfização por que passa a figura humana, depois de sua absurda
decomposição em matérias químicas ou fluidos elétricos, depois do esvaziamento de seus traços
psicológicos, ainda possa restar algo que permita afirmar o homem como um ser vivo?” (p. 149). A
pergunta, apesar da complexidade, tem no pensamento de Bataille algum indício de resposta que Eliane
Robert Moraes traz à tona. Tal pensamento, em contraponto com o dos surrealistas, admite que a
ausência de sentido advindo das grandes catástrofes, das grandes desgraças, encaminharia o homem
para uma “pura sensibilidade animal, livre dos limites da razão e da inquietação do futuro que lhe
corresponde” (p. 150). O homem soberano nasceria da ignorância animal e esta soberania lhe permitiria
10 apud MORAES, 2010, p. 135.
170
viver a dor, sem suprimi-la ou escamoteá-la. Lançando mão também das ideias de Blanchot a respeito
dos campos de concentração, a autora vai pormenorizando esse tipo de homem, indestrutível para
Blanchot, soberano para Bataille. A partir disso, chega-se a uma “consciência radical do corpo” que não
estava em “opor aos ideais humanos das estéticas oficiais um outro conjunto acabado de imagens: o
que se afirmava ali era a própria impossibilidade de se fixar a figura humana” (p. 163). Na leitura da
autora, houve uma impossibilidade de fixar e de destruir a figura humana. Essa impossibilidade fez com
que as metamorfoses, presentes na arte moderna, negassem de forma violenta as idealizações realistas e
naturalistas do corpo e reiterassem a ausência de limites à destruição do homem. Bataille pensou nessas
metamorfoses como “o princípio fundante não só da estética modernista, mas também de outras
formas de representação figurativa” (p. 163). O capítulo aprofunda esse pensamento, tratando da
influência de Sade no modernismo, do sacrifício e da experiência do mal em Bataille.
No capítulo seguinte, retorna-se a questão da cabeça, agora sacrificada. O foco abordado são as
representações da cabeça humana, tanto pelos surrealistas, quanto por Bataille e seus companheiros na
revista Documents. Perpassando por diversos exemplos, Eliane aprofunda ainda mais a discussão da
fragmentação, das experiências em torno da máscara, da deformidade e do pensamento bataillano que
associa alto e baixo, partindo dessa vez da frase presente no livro Madame Edwarda: “DEUS, se soubesse
seria um porco” 11. O capítulo “O sacrifício da cabeça” traz à tona também o mito do Minotauro, usado
à exaustão pelos surrealistas e por Bataille.
No capítulo “As monstruosidades do homem”, Eliane Robert Moraes reflete sobre a resposta
cruel dada pelo antromorfismo dilacerado de Bataille. A reflexão é iniciada pela referência ao
emblemático texto publicado na Documents em 1929: le gros orteil. O dedão do pé é a parte mais humana
do corpo do homem, segundo Bataille, que propõe uma inversão no reconhecimento das partes
corpóreas mais específicas do homem. Muitos evolucionistas acreditavam que a mão era o nosso ponto
alto, Bataille segue em sentido contrário e pensa que o homem é homem justamente por causa de seus
órgãos mais atrofiados, ou seja, enfatiza “as capacidades que ele teria perdido no decorrer do processo
civilizatório: a parte mais humana do corpo do homem é precisamente aquela na qual se tornaram
evidentes as marcas dessa perda” (p. 192). Há, portanto, um predomínio de uma visão negativa do
homem, em contraponto com a visão positiva, elevada, hierárquica de homem.
A autora delimita novamente as diferenças entre Bataille e Breton, sendo que este sempre foi
mais idealista, melhor, desejava substituir o ideal burguês pelo ideal surrealista. Bataille parte para o
informe, para uma não hierarquia entre alto e baixo, não se trata de uma conciliação de contrários, mas
a manutenção da contradição em que a fusão já é uma dissolução, na qual o sujeito se perde e se
encontra. Bataille refuta a síntese hegeliana, o que lhe interessa é o “constante fluxo entre polos
opostos” (p. 197). Tais ideias são formuladas através de dois temas: a soberania e a dilapidação. A
11 apud MORAES, 2010, p. 174.
171
contradição está em trabalho incessante, jamais se fixa em uma imagem acabada. Trata-se de algo
informe e violento. Eliane aponta que Bataille trabalha constantemente com as monstruosidades do
homem e como ele é constituído pelo alto e pelo baixo, nojo e sublime, céu e terra: “uma dialética das
formas só pode ser pensada a partir de uma posição radicalmente materialista, ou seja, opondo-se às
formas ideias a singularidade daquilo que ele insiste em nomear como 'formas concretas' da matéria.”
(p. 200).
No capítulo final, surge a figura do Acéfalo. Se o livro iniciava com Salomé e seu desejo pela
cabeça de João Batista, deixando o corpo no esquecimento, aqui é o corpo que interessa. Bataille pensa
a cabeça humana como lugar duplo, não apenas da elevação dos ideais, mas lugar do nojo, do escarro,
do arroto, do espirro, do choro, do soluço e das gargalhadas, de tudo que é vil a olhos transcendentes.
Bataille vai mais além, se a boca pode exercer funções contrárias e contraditórias, o ânus tem a mesma
faculdade. Pensamento desenvolvido, sobretudo, no seu livro A história do olho. Caminhando pelo rosto
do homem e suas metamorfoses, chegando ao mito da Medusa, Eliane Robert Moraes expõe que o
pensamento de Bataille também foi muito crítico a certas escolhas do modernismo, sobretudo, a
ingenuidade em que caíram muitos artistas da época, além de ver que o homem moderno buscava na
arte o mesmo que na farmácia: “remédios bem apresentados para doenças confessáveis” 12.
Eliane Robert Moraes conclui seu livro pensando mais uma vez na dilaceração do corpo
humano, o corpo incapaz de ser reconstituído, tendo na figura do Acéfalo seu ponto mais nevrálgico:
“ao ostentar precisamente aquilo que lhe falta, tal qual um teatro vazio, o corpo sem cabeça resta como
um corpo impossível” (p. 227).
12 apud MORAES, 2010. p. 216.
172
Você também pode gostar
- Voce Pode Superar Isto - Rick RennerDocumento264 páginasVoce Pode Superar Isto - Rick RennerPaulo César80% (5)
- Rosemary Arrojo - O Signo DesconstruídoDocumento122 páginasRosemary Arrojo - O Signo Desconstruídonatgraue100% (7)
- ANGERAMI-CAMON, E A Psicologia Entrou No Hospita - Prof. Nathalie GiovaninniDocumento75 páginasANGERAMI-CAMON, E A Psicologia Entrou No Hospita - Prof. Nathalie GiovaninniThaise Nunes56% (9)
- Anais - Ii Seminário PPGL - 2012-1Documento410 páginasAnais - Ii Seminário PPGL - 2012-1Byron VelezAinda não há avaliações
- (Georges Didi-Huberman) Pensar Debruçado (B-Ok - Xyz)Documento7 páginas(Georges Didi-Huberman) Pensar Debruçado (B-Ok - Xyz)Jules FlamartAinda não há avaliações
- De Mauss A Levi-StraussDocumento17 páginasDe Mauss A Levi-StraussHugo CiavattaAinda não há avaliações
- Gilles Deleuze Lógica Do Sentido Sobre Fitzgerald The Crack UpDocumento9 páginasGilles Deleuze Lógica Do Sentido Sobre Fitzgerald The Crack UpPatrick PetersonAinda não há avaliações
- Tunga DeleuzeDocumento14 páginasTunga DeleuzeLílian Soares100% (1)
- Ortiz Renato Mundializacao e CulturaDocumento235 páginasOrtiz Renato Mundializacao e CulturaCatharina De Angelo100% (9)
- Areas, Vilma. A Ideia e A Forma Na Ficção de Modesto CaroneDocumento21 páginasAreas, Vilma. A Ideia e A Forma Na Ficção de Modesto Caroneloser67Ainda não há avaliações
- A TOPOLOGIA POÉTICA DE EMMANUEL HOCQUARD - Tese Marília GarciaDocumento163 páginasA TOPOLOGIA POÉTICA DE EMMANUEL HOCQUARD - Tese Marília GarciaJúlia Arantes100% (1)
- Fabulo, Logo ResistoDocumento51 páginasFabulo, Logo ResistoLeandra LambertAinda não há avaliações
- A Bicicleta de Lévi-StraussDocumento18 páginasA Bicicleta de Lévi-StraussAna TelesAinda não há avaliações
- Castro Gomez Santiago Critica de La Razon LatinoamericanaDocumento163 páginasCastro Gomez Santiago Critica de La Razon LatinoamericanaOrlando LimaAinda não há avaliações
- HUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceDocumento3 páginasHUYSSEN (Sobre Gde Divisão e Performance) - O Novo Museu de Andreas Huyssen e A PerformanceIsmael De Oliveira GerolamoAinda não há avaliações
- COLLOT, M. O Sujeito Lirico Fora de SiDocumento17 páginasCOLLOT, M. O Sujeito Lirico Fora de SiMisty ColemanAinda não há avaliações
- Entrevista Sophia Escrevemos para Não Nos Afogarmos No KaosDocumento12 páginasEntrevista Sophia Escrevemos para Não Nos Afogarmos No Kaosles_parolesAinda não há avaliações
- O Partido Das Coisas - Francis Ponge - 2015 - Iluminuras - 9788573211160 - Anna's ArchiveDocumento195 páginasO Partido Das Coisas - Francis Ponge - 2015 - Iluminuras - 9788573211160 - Anna's ArchiveJeanne Callegari100% (1)
- Theodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFDocumento3 páginasTheodor Adorno - Revendo o Surrealismo - 1956 PDFAde EvaristoAinda não há avaliações
- Szondi Benjamin Ensaios Sobre o Trágico - Hegel PDFDocumento21 páginasSzondi Benjamin Ensaios Sobre o Trágico - Hegel PDFRafaelSilvaAinda não há avaliações
- Suely RolnikDocumento11 páginasSuely RolnikTarcisio GreggioAinda não há avaliações
- Estado de Invenção - Helio Oiticica PDFDocumento35 páginasEstado de Invenção - Helio Oiticica PDFThiago TrindadeAinda não há avaliações
- Pierre Aubenque PDFDocumento12 páginasPierre Aubenque PDFRenato BarbosaAinda não há avaliações
- Georges Bataille - O Anus SolarDocumento3 páginasGeorges Bataille - O Anus Solarnmedeiros07Ainda não há avaliações
- Roberto Correa Dos Santos A Pós Filosofia de CLDocumento114 páginasRoberto Correa Dos Santos A Pós Filosofia de CLElvio CotrimAinda não há avaliações
- De Olho Na Fresta Gilberto VasconcelosDocumento56 páginasDe Olho Na Fresta Gilberto VasconcelosVeronica Silva100% (1)
- Peter Pal Perbart, Literatura e LoucuraDocumento26 páginasPeter Pal Perbart, Literatura e Loucuraglgn100% (1)
- Cidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoDocumento10 páginasCidade, Espaço e Tempo: Reflexões Sobre A Memória e o Patrimônio UrbanoSabrina CarterAinda não há avaliações
- Arquivo Memoria e Testemunho - 1a ConferênciaDocumento27 páginasArquivo Memoria e Testemunho - 1a ConferênciamchagutAinda não há avaliações
- Maria Esther Maciel - Zoopoéticas ContemporâneasDocumento10 páginasMaria Esther Maciel - Zoopoéticas ContemporâneasGong Li ChengAinda não há avaliações
- Catalogo Forumdoc 2012 PDFDocumento121 páginasCatalogo Forumdoc 2012 PDFrealista visceralAinda não há avaliações
- Poetas À Beira de Uma Crise de VersosDocumento10 páginasPoetas À Beira de Uma Crise de VersosCintia FollmannAinda não há avaliações
- Frankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaDocumento4 páginasFrankenstein - A Construção Do Monstro (Texto) - Giovanna M. BonassaGiovannaAinda não há avaliações
- Marilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaDocumento11 páginasMarilena Chuaí. Merleau-Ponty - A Obra FecundaMario SantiagoAinda não há avaliações
- O Corpo em Cena em TungaDocumento12 páginasO Corpo em Cena em TungaPriscila SilvestreAinda não há avaliações
- Márcio SELIGMANN-SILVA. Adorno - Crítica e RememoraçãoDocumento7 páginasMárcio SELIGMANN-SILVA. Adorno - Crítica e Rememoração'Gustavo RaftAinda não há avaliações
- Andre Bazin - A Ontologia Da Imagem FotográficaDocumento6 páginasAndre Bazin - A Ontologia Da Imagem FotográficajoanammendesAinda não há avaliações
- Ana Godoy - Menor Das Ecologias 2Documento12 páginasAna Godoy - Menor Das Ecologias 2Ana GodoyAinda não há avaliações
- Tese Sobre Perec A Vida Modo de UsarDocumento137 páginasTese Sobre Perec A Vida Modo de UsarJúlio MartinsAinda não há avaliações
- Platão - Íon - Trad M Mota PDFDocumento16 páginasPlatão - Íon - Trad M Mota PDFÍvina GuimarãesAinda não há avaliações
- O Conceito de Cultura Segundo Félix GuattariDocumento6 páginasO Conceito de Cultura Segundo Félix GuattariFabio GomesAinda não há avaliações
- ARTIGO MESNARD, Philippe. Primo Levi - Du Rapport Sur Auschwitz À La LittératureDocumento23 páginasARTIGO MESNARD, Philippe. Primo Levi - Du Rapport Sur Auschwitz À La LittératureTiago Fel100% (1)
- Deleuze Quatro Formulas KantDocumento3 páginasDeleuze Quatro Formulas KantchurianaAinda não há avaliações
- Texto OdradekDocumento3 páginasTexto OdradekCatarina LaraAinda não há avaliações
- Caminhando Celma PaeseDocumento173 páginasCaminhando Celma PaeseFabrício MarconAinda não há avaliações
- A Canção de Hyperion - Friedrich HölderlinDocumento2 páginasA Canção de Hyperion - Friedrich HölderlinJoseph ShafanAinda não há avaliações
- RANCIÈRE, J. Literatura Impensável. in Políticas Da EscritaDocumento21 páginasRANCIÈRE, J. Literatura Impensável. in Políticas Da EscritaVeronica Gurgel100% (1)
- Poesia MioloDocumento160 páginasPoesia MioloElisa MaranhoAinda não há avaliações
- 33bsp Publicacao Educativa Livreto Convite A AtencaoDocumento90 páginas33bsp Publicacao Educativa Livreto Convite A AtencaoJoão Paulo AndradeAinda não há avaliações
- OLLI Desvio DiretoDocumento10 páginasOLLI Desvio DiretoTati PatriotaAinda não há avaliações
- Como Ler Tristes TrópicosDocumento2 páginasComo Ler Tristes TrópicosSaru VidalAinda não há avaliações
- DELEUZE Empirismo e SubjetividadeDocumento2 páginasDELEUZE Empirismo e SubjetividadeChristian ChagasAinda não há avaliações
- Drummond - Mancha - Setembro 2015 - Rascunho N. 185 - Com 7.830 Caracteres Com EspaçosDocumento3 páginasDrummond - Mancha - Setembro 2015 - Rascunho N. 185 - Com 7.830 Caracteres Com EspaçosWilberthSalgueiroAinda não há avaliações
- ADORNO - Dialética Negativa - Pedaço Do Livro PDFDocumento7 páginasADORNO - Dialética Negativa - Pedaço Do Livro PDFLucas Macedo SalgadoAinda não há avaliações
- BOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Documento18 páginasBOSI, E. Memória e Sociedade (Introdução e Capítulo I)Maria Isabel Rios de Carvalho VianaAinda não há avaliações
- O Que É o Ato de CriaçãoDocumento11 páginasO Que É o Ato de CriaçãojorgesayaoAinda não há avaliações
- Jean Luc NancyDocumento10 páginasJean Luc NancyBrunoandrade1100% (1)
- Antologia - Eucanaã FerrazDocumento34 páginasAntologia - Eucanaã FerrazAGSAinda não há avaliações
- Mia Couto Analise e CriticaDocumento11 páginasMia Couto Analise e Criticaquisito almajaneAinda não há avaliações
- Antonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualNo EverandAntonio tabucchi: viagem, identidade e memória textualAinda não há avaliações
- Como Entender Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães RosaNo EverandComo Entender Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães RosaAinda não há avaliações
- Paisagem, entre literatura e filosofiaNo EverandPaisagem, entre literatura e filosofiaAinda não há avaliações
- BibliografiaDocumento6 páginasBibliografiaMatheus LellisAinda não há avaliações
- Receita QuicheDocumento1 páginaReceita QuicheMatheus LellisAinda não há avaliações
- Panorama Do Teatro Brasileiro - S. Magaldi (1997)Documento165 páginasPanorama Do Teatro Brasileiro - S. Magaldi (1997)Matheus Lellis100% (1)
- Tese de Maria Helena Devir-Água Do Texto Água VivaDocumento133 páginasTese de Maria Helena Devir-Água Do Texto Água VivaMatheus LellisAinda não há avaliações
- JESÚS G Maestro EntrevistaDocumento14 páginasJESÚS G Maestro EntrevistaMatheus LellisAinda não há avaliações
- Artigo - Agostinho Da Silva - Pedagogo Contemporâneo - Arthur MansoDocumento16 páginasArtigo - Agostinho Da Silva - Pedagogo Contemporâneo - Arthur MansoMatheus LellisAinda não há avaliações
- Luis C Restrepo - O Direito À TernuraDocumento58 páginasLuis C Restrepo - O Direito À TernuraMatheus LellisAinda não há avaliações
- O Artista e Seu Tempo, de Albert Camus PDFDocumento16 páginasO Artista e Seu Tempo, de Albert Camus PDFMatheus LellisAinda não há avaliações
- Resenha Do Livro Politizar As Novas TecnologiasDocumento4 páginasResenha Do Livro Politizar As Novas TecnologiasMatheus LellisAinda não há avaliações
- A Experiência CriativaDocumento1 páginaA Experiência Criativarogeryocoelho1Ainda não há avaliações
- Polegarzinha - Michel Serres PDFDocumento50 páginasPolegarzinha - Michel Serres PDFMatheus LellisAinda não há avaliações
- Amelia Zaluar - Construtores Do ImaginárioDocumento7 páginasAmelia Zaluar - Construtores Do ImaginárioMatheus LellisAinda não há avaliações
- Tarde, Gabriel - Monadologia e Sociologia PDFDocumento145 páginasTarde, Gabriel - Monadologia e Sociologia PDFMargaret Zelle HariAinda não há avaliações
- 2 Série - LPDocumento16 páginas2 Série - LPNicolas Calizotti Moura0% (2)
- Como Escrever Um Bom Artigo - Stephen KanitzDocumento14 páginasComo Escrever Um Bom Artigo - Stephen KanitzNatsan MatiasAinda não há avaliações
- 50 Licoes para Voce Compreender - Di SavalDocumento93 páginas50 Licoes para Voce Compreender - Di Savalpatricktonolli100% (11)
- Monografia JÉSSICADocumento44 páginasMonografia JÉSSICAAmandaAinda não há avaliações
- Blanchot AminadabDocumento24 páginasBlanchot AminadabmarceleprAinda não há avaliações
- WITTIG, Monique.a Categoria de Sexo (1982)Documento9 páginasWITTIG, Monique.a Categoria de Sexo (1982)HanzAinda não há avaliações
- Brainfluence Takeaway (PDFDrive) .En - PTDocumento1.293 páginasBrainfluence Takeaway (PDFDrive) .En - PTalgoritmo12Ainda não há avaliações
- + Esperto Que o DiaboDocumento5 páginas+ Esperto Que o DiaboGabriel Modesto Deraldo100% (1)
- Omraam Mikhaël Aïvanhov - Liberdade Vitória Do EspíritoDocumento96 páginasOmraam Mikhaël Aïvanhov - Liberdade Vitória Do EspíritoMarcio BuenoAinda não há avaliações
- Etec - Logica de Progamacao - Aula1 - v3Documento37 páginasEtec - Logica de Progamacao - Aula1 - v3alexsandfsAinda não há avaliações
- ERS Aula 02Documento14 páginasERS Aula 02Larissa MarinhoAinda não há avaliações
- Texto 2 (B) Parte II - Lopes e Macedo (2011)Documento39 páginasTexto 2 (B) Parte II - Lopes e Macedo (2011)josephantonivs51960% (1)
- Aula 1 Comunicação DesgravadaDocumento5 páginasAula 1 Comunicação DesgravadaMarcelo SwereiAinda não há avaliações
- Proibido - Liss MouraDocumento33 páginasProibido - Liss MouraThiago Luide Luide100% (1)
- Raciocínio Lógico PDFDocumento44 páginasRaciocínio Lógico PDFmonica Souza100% (1)
- O Resgate Das Brincadeiras Tradicionais para o Ambiente Escolar PDFDocumento12 páginasO Resgate Das Brincadeiras Tradicionais para o Ambiente Escolar PDFPedro JuniorAinda não há avaliações
- Análise Do Documento Sobre A Fraternidade HumanaDocumento16 páginasAnálise Do Documento Sobre A Fraternidade HumanaSarah Samir AllimahomedAinda não há avaliações
- Letramento em LibrasDocumento44 páginasLetramento em LibrasNatália AraújoAinda não há avaliações
- Capitulo I 1. IntroduçãoDocumento47 páginasCapitulo I 1. Introduçãorafaellanga100% (1)
- 7.2 LIVRO - Atividades em Áreas Naturais Um Livro para EducadoresDocumento84 páginas7.2 LIVRO - Atividades em Áreas Naturais Um Livro para Educadorescilene marquesAinda não há avaliações
- Hackeando Problemas (Situação Probelmas)Documento30 páginasHackeando Problemas (Situação Probelmas)Professor Thiago LuizAinda não há avaliações
- Artigo Sobre A Filosofia Da HistóriaDocumento16 páginasArtigo Sobre A Filosofia Da Históriasaulo FerreiraAinda não há avaliações
- PLANEJAMENTO PESSOAL E DE CARREIRA - Vol 3 - FinalDocumento32 páginasPLANEJAMENTO PESSOAL E DE CARREIRA - Vol 3 - FinalLindemberg Ribeiro, CoachAinda não há avaliações
- Itinerario 2ADocumento23 páginasItinerario 2AMarcio CamposAinda não há avaliações
- ThaisMotta Let1854 OCanoneOcidental Estudocanônico VirginiaWoolfDocumento4 páginasThaisMotta Let1854 OCanoneOcidental Estudocanônico VirginiaWoolfThaís Costa MottaAinda não há avaliações