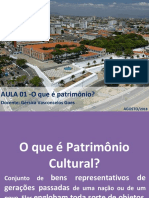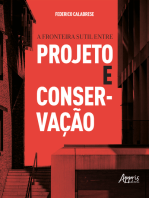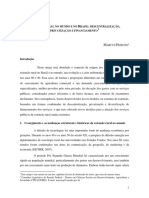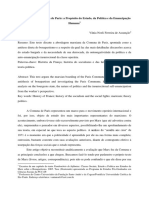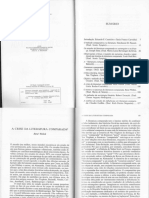Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Franccediloise Choay A Alegoria Do Patrimonio PDF
Franccediloise Choay A Alegoria Do Patrimonio PDF
Enviado por
Iris Oliveira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações7 páginasTítulo original
kupdf.net_franccediloise-choay-a-alegoria-do-patrimonio.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
15 visualizações7 páginasFranccediloise Choay A Alegoria Do Patrimonio PDF
Franccediloise Choay A Alegoria Do Patrimonio PDF
Enviado por
Iris OliveiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: Editora da Unesp: Estação Liberdade, 2006.
Introdução – Monumento e Monumento Histórico
* p.11: “Patrimônio. Esta bela e antiga palavra estava, na origem, ligada às estruturas familiares,
econômicas e jurídicas de uma sociedade estável, enraizada no tempo e no espaço. Requalificada
por diversos adjetivos (genético, natural, histórico, etc.) que fizeram dela um conceito ‘nômade’, ela
segue hoje uma trajetória diferente e retumbante.
Patrimônio histórico. A expressão designa um bem destinado ao usufruto de uma comunidade que
se ampliou a dimensões planetárias, constituído pela acumulação contínua de uma diversidade de
objetos que se congregam por seu passado comum: obras e obras-primas das belas-artes e das artes
aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e savoir-faire dos seres humanos”.
* p.11: “A transferência semântica sofrida pela palavra revela a opacidade da coisa. O patrimônio
histórico e as condutas a ele associadas encontram-se presos em estratos de significados cujas
ambiguidades e contradições articulam e desarticulam dois mundos e duas visões de mundo”. Culto
ao patrimônio merece questionamento, pois revela a condição da sociedade. A obra tratará do
patrimônio histórico representado pelas edificações.
* p.12: desde a década de 1960 não se confunde mais patrimônio histórico com monumento
histórico, pois este representa senão parte de uma herança que não para de crescer com a inclusão
de novos tipos de bens, o alargamento do quadro cronológico e das áreas geográficas no interior
dos quais esses bens se inscrevem (saindo do limite do século XIX e do espaço geográfico europeu).
* p.17-18: “Em primeiro lugar, o que se deve entender por monumento? O sentido original do termo
é o do latim monumentum, que por sua vez deriva de monere (‘advertir’, ‘lembrar’), aquilo que traz à
lembrança alguma coisa. A natureza afetiva do seu propósito é essencial: não se trata de apresentar,
de dar uma informação neutra, mas de tocar, pela emoção, uma memória viva. Nesse sentido
primeiro, chamar-se-á monumento tudo o que for edificado por uma comunidade de indivíduos
para rememorar ou fazer que outras gerações de pessoas rememorem acontecimentos, sacrifícios,
ritos ou crenças. A especificidade do monumento deve-se precisamente ao seu modo de atuação
sobre a memória. Não apenas ele a trabalha e a mobiliza pela mediação da afetividade, de forma que
lembre o passado fazendo-o vibrar como se fosse presente. Mas esse passado invocado, convocado,
de certa forma encantado, não é um passado qualquer: ele é localizado e selecionado para fins
vitais, na medida em que pode, de forma direta, contribuir para manter e preservar a identidade de
uma comunidade étnica ou religiosa, nacional, tribal ou familiar. Para aqueles que edificam, assim
como para os destinatários das lembranças que veiculam, o monumento é uma defesa contra o
traumatismo da existência, um dispositivo de segurança. O monumento assegura, acalma,
tranquiliza, conjurado o ser do tempo. Ele constitui uma garantia das origens e dissipa a
inquietação gerada pela incerteza dos começos. Desafio à entropia, à ação dissolvente que o tempo
exerce sobre todas as coisas naturais e artificiais, ele tenta combater a angústia da morte e o
aniquilamento”.
Função antropológica é a essência do monumento, sua relação com o tempo vivido e com a
memória. Ele parece presente em todos os continentes e em praticamente todas as sociedades, com
ou sem escrita. Contudo, o papel do monumento em seu sentido original foi perdendo sua
importância nas sociedades ocidentais, adquirindo outros significados, por duas causas: 1)
importância crescente atribuída ao conceito de arte a partir do Renascimento, especialmente a ideia
de beleza, desfazendo o avivamento da memória de Deus ou a condição humana de criaturas; 2)
desenvolvimento, aperfeiçoamento e difusão das memórias artificiais (livros, fotografia).
* p.23: os monumentos seguem, levados pelo hábito, uma carreira formal e insignificante. O
monumento simbólico erigido para fins de rememoração está praticamente fora de uso em nossas
sociedades desenvolvidas; o entusiasmo por este foi transferido para os monumentos históricos, à
medida em que se desenvolviam técnicas mnemônicas mais eficientes.
* p.25: é necessário dispor de um referencial histórico, atribuir um valor particular ao tempo e à
duração, colocar a arte na história para que o sentido do monumento histórico se espalhe pelo
mundo, ande mais depressa, não podendo ser dissociada de um contexto mental e de uma visão de
mundo. O monumento histórico é constituído a posteriori, não sendo criado como tal, sendo
selecionado dentre a massa de edifícios existentes, o que não ocorre com o monumento, construído
a priori, com uma intenção.
* p.26: “Todo objeto do passado pode ser convertido em testemunho histórico sem que para isso
tenha tido, na origem, uma destinação memorial. De modo inverso, cumpre lembrar que todo
artefato humano pode ser deliberadamente investido de uma função memorial”.
* p.26: “O monumento tem por finalidade tem por finalidade fazer reviver um passado mergulhado
no tempo. O monumento histórico relaciona-se de forma diferente com a memória viva e com a
duração. Ou ele é simplesmente constituído em objeto do saber e integrado numa concepção linear
de tempo – neste caso, seu valor cognitivo relega-o inexoravelmente ao passado, ou antes à história
em geral, ou à história da arte em particular -; ou então ele pode, além disso, como obra de arte,
dirigir-se à nossa sensibilidade artística, ao nosso ‘desejo de arte’: neste caso, ele se torna parte
constitutiva do presente vivido, mas sem a mediação da memória ou da história”.
Essa relação diferente com o tempo faz diferença no tocante à conservação: os monumentos são, de
modo permanente, expostos às afrontas do tempo vivido, podendo ser esquecido e abandonado; já
o monumento histórico, por estar inserido em um lugar imutável e definitivo num conjunto
objetivado e fixado pelo saber, exige uma conservação incondicional.
* p.28: proposta de fazer uma arqueologia da noção de monumento histórico, começando pelo
Quattrocento e na revolução humanista dos saberes e mentalidades, no qual surge o projeto de
estudar e conservar um edifício por ser um testemunho da história e uma obra de arte. Exemplos
trazidos serão os da França, mas é um processo que ocorre em toda a Europa.
Capítulo 1 – Os humanistas e o monumento antigo
Pode-se situar o nascimento do monumento histórico em Roma, por volta de 1420, após o fim do
Grande Cisma do Ocidente.
* p.33-34: comparação com o que se passou na Antiguidade e a herança grega. Lá, nenhum princípio
proibia a destruição dos edifícios ou objetos de arte antigos, e o que era preservado não era
investido de valor histórico. Além disso, há os traços étnico e cronológico: o que era preservado era
de um único povo e de épocas bem especificas. As preferências e escolhas não são orientadas por
uma visão do passado.
Conservação das edificações pagãs e da Antiguidade na Idade Média: economia de recursos,
encanto intelectual, sensibilidade. Mas não são tratadas como monumentos históricos, pela falta de
distancia histórica, a continuidade temporal com que são tratados os períodos. A preservação, na
verdade, é uma reutilização.
* p.44-52: por volta de 1430 aparece o despertar do olhar distanciado, despojado das paixões
medievais, que, pousado sobre os edifícios da Antiguidade, metamorfoseia-os em objetos de
reflexão e contemplação, culminando um processo que começara no século anterior, com o “Efeito
Petrarca”, que instituiu a distância histórica através da tentativa de ler Virgílio como ele era na
Roma Antiga (separação entre Antiguidade e Ocidente Cristão) e com a abordagem sensível (e não
literária) dos edifícios antigos pelos “homens da arte”, a descoberta do universo formal da arte
clássica (“Efeito Brunelleschi”), contemplação desinteressada, que também estabelece um
distanciamento em relação aos vestígios da Antiguidade.
* p.52-58: a partir da década de 1430 os humanistas, em especial os da Corte pontifical, preconizam
a conservação e proteção vigilante dos monumentos romanos, mas não uma conservação
apropriadora e mutilante, mas distanciada, objetiva, restauradora e protetora, para uma Roma que
rapidamente destruía seu passado. Medidas de proteção ditadas pelos papas, embora eles
danificassem monumentos para restaurar outros. Havia uma proteção ideal, cuja natureza,
puramente discursiva, servia para mascarar e autorizar a destruição real, o que acontece até hoje.
* p.59: os três discursos então, o da perspectiva histórica, o da perspectiva artística e o da
conservação, contribuem para o surgimento do monumento histórico, reduzido apenas às
antiguidades.
Capítulo 2 – A época dos antiquários – monumentos reais e monumentos figurados
* p.61: peregrinações a Roma e grande mobilidade que caracteriza a Europa erudita nos séculos
XVII e XVIII faz com que o conteúdo da noção de antiguidades se enriqueça e se explorem lugares
novos (Grécia, Egito, Ásia Menor) e se levantem as ruínas romanas ou gregas de cada país. O museu
institucionaliza a conservação das antiguidades, que são objetos de um imenso esforço de
conceituação e inventário.
* p.63: os antiquários (pessoas) desconfiam dos livros, acreditando que o passado se revela de
modo muito mais seguro pelos seus testemunhos involuntários, pela sua civilização material.
* p.68: motivos para o avanço do estudo das antiguidades “nacionais”: 1) efeito das pesquisas feitas
nos países em busca de remanescentes Greco-romanas; 2) o desejo de dotar a tradição cristã de um
corpus de obras e edifícios históricos análogos àquele de que dispõe a tradição antiga; 3) o desejo
de afirmar a originalidade e excelência da civilização ocidental, diferenciando-a de suas fontes
Greco-romanas ou de afirmar particularidades. Destaque para as igrejas e catedrais góticas.
* p.76: a importância atribuída pelos antiquários aos testemunhos da cultura material e das belas-
artes não é senão um caso particular do triunfo geral da observação concreta sobre a tradição oral e
escrita, do testemunho visual sobre a autoridade dos textos, na busca de uma descrição controlável
e confiável dos objetos. A imagem se põe a serviço de um método comparativo que lhes permite
estabelecer séries tipológicas, sequências cronológicas, como uma história natural das produções
humanas.
* p.79: três dificuldades do antiquário: 1) o peso da tradição, que ainda preserva em autores da
Antiguidade e em crônicas medievais parte da autoridade; 2) despreparo para o método da
observação cientifica, por conta das concepções medievais de representação e cópia, que
privilegiavam alguns elementos em detrimento da forma original; 3) insuficiência do material
arqueológico.
* p.84: na época das Luzes, os antiquários estabelecem uma relação diferente com a duração, na
qual aparece a ideia de progresso, com o avanço da geologia, paleontologia e o surgimento da
historiografia moderna, a qual se caracteriza como a síntese do pensamento analítico dos
antiquários e a abordagem interpretativa dos filósofos-historiadores do Iluminismo.
* p.90: em três séculos a forma dominante de conservação das antiguidades foi o livro ilustrado
com gravuras. Há poucos projetos de preservação, que só se efetuam por circunstancias
excepcionais e pela ação de personalidades incomuns, com exceção da Inglaterra, por conta do
vandalismo da Reforma contra as igrejas góticas, criando uma estrutura de proteção cívica e
privada, debatendo se as restaurações deveriam ser conservadoras ou intervencionistas.
* p.94: “a conservação e a restauração concretas, efetivas, exigem a conjunção de uma forte
motivação de ordem afetiva e de um conhecimento que irá se refinando ao lado do progresso da
história da arte”.
Capítulo 3 – A Revolução Francesa
Revolução Francesa, mesmo tendo destruído muito, lançou as bases da obra de proteção do
patrimônio francês, uma conservação real, resultante da transferência dos bens do clero, da Coroa e
dos emigrados à nação, e da destruição ideológica de parte desses bens a partir de 1792 (começo do
Terror). O valor primário do tesouro devolvido a todo o povo é econômico. Os responsáveis adotam
imediatamente, para designá-lo e gerenciá-lo, a metáfora do espólio. Foi criada uma Comissão “dos
Monumentos”, que deveria tombar as diferentes categorias de bens recuperados pela nação, cada
qual seria inventariada (13.10.1790).
Palavras-chave: herança, sucessão, patrimônio e conservação.
Os bens móveis seriam transferidos de depósitos para lugares abertos ao público, os museus,
servindo à instrução da nação (civismo, história, artes, técnicas) e alcançando o máximo público
possível.
* p.106: primeiramente era uma conservação primária ou preventiva; após o vandalismo ideológico
(que não tem a ver com fins econômicos decorrentes de necessidades do Estado revolucionário,
mas que já ocorria no Antigo Regime) a partir de 1792, com a destruição de bens que simbolizavam
a antiga ordem, foi implementada a conservação secundária ou reacional.
* p.107: decreto de 3.3.1791 sobre a fundição de pratarias e relicários determina que fossem
conservados os bens que tivessem interesse para a história, a beleza, o valor pedagógico para a arte
e as técnicas, constituindo uma definição implícita dos monumentos e do patrimônio histórico. São
os primórdios da conservação reacional.
* p.116: o aparato desenvolvido pelos artesãos da conservação reacional para inventariar os bens
imóveis liberta o conceito de monumento histórico de qualquer restrição ideológica, estilística ou
temporal.
* p.116-118: na França Revolucionária, o valor nacional legitimou todos os outros no que tange à
conservação dos monumentos históricos: 1) valores cognitivos ou educativos (portadores de
valores de conhecimento específico e gerais, testemunhas da história, introdução a uma pedagogia
geral de civismo, dotando os cidadãos de uma memória histórica, mobilizando o sentimento de
orgulho e superioridade nacionais); 2) valor econômico (fornecimento de modelos para as
manufaturas, possibilidade de visitação); 3) valor artístico (arte como conceito indefinido e a noção
de estética mal havia chegado, papel pedagógico para a formação dos artistas).
* p.120: “Assim, na arrancada de 1789, todos os elementos necessários a uma autentica política de
conservação do patrimônio monumental da França pareciam reunidos: criação do termo
‘monumento histórico’, cujo conceito é mais amplo, comparado ao de antiguidades; levantamento
do corpus em andamento; administração encarregada da conservação, dispondo de instrumentos
jurídicos (inclusive disposições penais) e de técnicas então exclusivas”. A grande novidade é que a
conservação passou a ser assunto de Estado, pois era a conservação de um patrimônio que era de
todos. O fim da Revolução encerrou o trabalho das comissões responsáveis: Napoleão se preocupou
mais com os museus que com a sorte dos monumentos históricos nacionais.
* p.122-123: o período compreendido entre 1796 e 1830 teve inovações, no âmbito do Conselho
dos Edifícios Civis (1795), que promoveu os primeiros marcos de uma doutrina de restauração dos
prédios antigos, e a primazia à qualidade estética dos edifícios medievais, contribuindo para o
reconhecimento do valor artístico dos monumentos do passado.
Capítulo 4 – A consagração do monumento histórico (1820-1960)
* p.127: determinações novas e essenciais: privilegio dos valores da sensibilidade, principalmente
estética; delimitações espaço-temporais, com a ruptura provocada pela Revolução Industrial;
estatuto jurídico (leis visando a sua proteção); tratamento técnico (restauração como disciplina
integral, que acompanha a historia da arte).
* p.128: no século XIX a economia dos saberes centrou a função cognitiva do monumento histórico
no domínio da história da arte, que estudaria a cronologia, técnicas, gênese, decoração, iconografia,
entre outras.
* p.135-139: a consciência do advento de uma era nova, com o choque criado pela Revolução
Industrial, e de suas consequências criou, em relação ao movimento histórico, outra mediação e
outra distância, ao mesmo tempo em que liberava energias adormecidas em favor da proteção dos
monumentos. A partir de 1820 o monumento histórico inscreve-se sob o signo do insubstituível; os
danos que ele sofre são irreparáveis; sua perda irremediável. O mundo acabado do passado perdeu
a continuidade e a homogeneidade que lhe conferia a permanência do fazer manual dos homens.
* p.141-143: tentativas já na metade do século XIX de espraiar as ideias de conservação por toda a
Europa, e para outras civilizações ou grupos sociais.
* p.144: a mutação nos modos de vida e na organização espacial das sociedades urbanas europeias
torna obsoletos os aglomerados urbanos antigos, vistos como obstáculos e entraves a serem
eliminados ou destruídos para um novo modelo de urbanização; negligencia na manutenção dos
edifícios antigos. Isso leva à defesa e criação de legislações protetoras e de disciplinas de
conservação.
* p.145-149: exemplo da França. Inspetor dos Monumentos Históricos e Comitê de Trabalhos
Históricos (1830); Comissão dos Monumentos Históricos (1837); Lei de Proteção (1887).
* p.149-153: criação de práticas específicas e especialização de pessoas para conservar e restaurar
os bens tombados, passando por uma série de dificuldades, como a falta de conhecimento dos
arquitetos e a falta de prestígio do restaurador.
* p.153-161: surgem duas doutrinas sobre a restauração:
1) a intervencionista, que predomina na Europa Continental e tem como representante máximo
Viollet-la-Duc. Para este, o passado está morto; a nostalgia deve-se virar ao futuro, e não ao
passado; os monumentos antigos devem simbolizar o espaço vazio, testemunhas dos sistemas
históricos obsoletos. Defende a restauração dos prédios tal como eram originalmente, eliminando
as intervenções posteriores. Contudo, parece que ele se esquece da distancia constitutiva do
monumento histórico: “um edifício só se torna histórico quando se considera que ele pertence ao
mesmo tempo a dois mundos: um mundo presente, e dado imediatamente, e outro passado e
inapreensível”.
2) anti-intervencionista, própria da Inglaterra, com destaque para Ruskin. Para este, era proibido
tocar nos monumentos do passado, pois o trabalho das gerações passadas confere aos edifícios um
caráter sagrado; as marcas que o tempo imprimiu fazem parte de sua essência. A restauração
significa um absurdo, uma completa destruição, é impossível. Já para Morris, existe o empecilho de
ser impossível de se penetrar no espírito do tempo em que o edifício foi construído e identificar-se
completamente com o artista, restaurar é atentar contra a autenticidade, que constitui sua própria
essência.
* p.167-171: quem estabeleceu os fundamentos críticos da restauração como disciplina foi Camilo
Boito: autenticidade, hierarquia de intervenções, estilo de restauração. Já Alois Riegl traz à noção de
monumento histórico um caráter social e filosófico: “só a investigação do sentido ou dos sentidos
atribuídos pela sociedade ao monumento histórico permite fundar uma prática” (p.168), o que
separa monumento do monumento histórico, fazendo deste último um problema da sociedade,
ponto central sobre o questionamento sobre o devir das sociedades modernas (conceito de
ancianidade).
* p.171: o campo espaço-temporal dos monumentos históricos na década de 1860 apresentava
quase os mesmos contornos que atualmente; o campo tipológico já incluía a arquitetura menor e a
malha urbana; o campo cronológico continuava limitado pela fronteira da industrialização, mas se
ampliava pelas descobertas arqueológicas e paleográficas; o campo de difusão, com o
neocolonialismo, se tornou mundial.
* p.172: até a década de 1960 o trabalho de conservação dos monumentos históricos visa
essencialmente aos grandes edifícios religiosos e civis, seguindo as teses de Viollet-la-Duc. Contudo,
o período de consagração do monumento histórico continha apenas em germe as orientações e os
questionamentos que pautam o mundo atual.
Capítulo 5 – A invenção do patrimônio histórico
A noção de patrimônio histórico urbano constituiu-se na contramão do processo de urbanização
dominante, sendo resultado de uma dialética da história e da historicidade que se processa entre
três figuras (ou abordagens) sucessivas da cidade antiga: memorial, histórica e historial.
* p.180-182: Figura memorial surge com Ruskin, que afirma que a estrutura das cidades antigas é a
sua essência, fazendo dela um objeto patrimonial intangível, que deveria ser protegido
incondicionalmente, valorizando sobremodo a arquitetura doméstica. São as garantias da nossa
identidade. Porém, Ruskin encerra a cidade antiga no passado, perdendo de vista a cidade historial,
a que está engajada no devir da historicidade.
* p.182-194: figura histórica aparece na obra do austríaco Camilo Sitte, na qual a cidade pré-
industrial aparece como objeto do passado e a historicidade do processo de urbanização
transformadora é assumida com valor positivo. Análise das cidades antigas para buscar elementos
que pudessem ser transpostos às necessidades daquele tempo.
* p.191: a cidade antiga, como figura museal, ameaçada de desaparecimento, é concebida como um
objeto frágil, precioso para a arte e para a história e que, como as obras dos museus, deve ser
colocada fora do circuito da vida. Porém, tornando-se histórica ela perde sua historicidade.
Contribuem para essa concepção viajantes, cientistas, estetas, arqueólogos, autores de guias, por
várias gerações. A cidade como entidade assimilável a um objeto de arte e comparável a uma obra
de museu não deve ser confundido com a cidade-museu, contendo obras de arte. A cidade, centro
ou bairro museais, impõem-se como totalidades singulares.
* p.194-203: figura historial aparece na obra de Giovannoni, é a síntese e a superação das duas
anteriores. Atribui um valor de uso e um valor museal aos conjuntos urbanos antigos, integrando-
os numa concepção geral de organização do território. Reconhece a necessidade de se articular o
fragmento urbano nas redes de ordenação (especialmente transportes), mantendo o caráter social
da população, e a necessidade da manutenção do entorno do monumento (isolá-lo seria o mesmo
que mutilá-lo, pois faz parte de um contexto de construções). A partir daí é que se pode pensar as
técnicas de preservação para os conjuntos antigos, respeitando sua escala e morfologia,
preservando as relações originais que neles ligaram unidades parcelares e vias de trânsito mas com
possibilidade de intervenção limitada pelo espírito do ambiente (consequências benéficas sobre a
percepção da articulação dos elementos da malha urbana).
* p.143: Gustavo Giovannoni cria, em 1913, o conceito de arquitetura menor. “Uma cidade histórica
constitui em si um monumento, tanto por sua estrutura topográfica como por seu aspecto
paisagístico, pelo caráter de suas vias, assim como pelo conjunto de seus edifícios maiores e
menores; por isso, como no caso de um monumento particular, é preciso aplicar-lhe as mesmas leis
de proteção e os mesmos critérios de restauração, desobstrução, recuperação e inovação”.
Capítulo 6 – O patrimônio histórico na era da indústria cultural
* p.207: o culto do monumento histórico se tornou religião ecumênica, por vários fatores:
mundialização dos valores e referências ocidentais (como na Convenção de proteção do patrimônio
mundial cultural e natural, de 1972), preparada pelo advento de uma administração assumida pelo
Estado, especialmente com a adoção do modelo francês.
* p.209: as descobertas da arqueologia e o refinamento do projeto memorial das ciências humanas
determinaram a expansão do campo cronológico no qual se inscrevem os monumentos históricos,
chegando cada vez mais próximos ao presente. Além disso, a expansão tipológica do patrimônio:
edifícios modestos ou de arquitetura moderna.
* p.210: expansão do público nos monumentos históricos – grande projeto de democratização do
saber, herdado das Luzes; desenvolvimento da sociedade de lazer e do turismo cultural dito de
massa.
* p.211: difusão da “cultura” precipita uma mudança semântica: esta perde seu caráter de
realização pessoal e torna-se indústria. Os monumentos e o patrimônio histórico adquirem dupla
função: obras que propiciam saber e prazer, à disposição de todos, mas também produtos culturais,
prontos para serem consumidos. Metamorfose do valor de uso em valor econômico.
Valorização do patrimônio histórico: expressão-chave, no entanto, é ambígua, pois contém a
noção de mais-valia, de interesse, de encanto, de beleza, de capacidade de atrair, tudo com
conotações econômicas. Apresenta múltiplas formas: conservação e restauração; espetáculos de
som e luz; animação cultural; modernização; conversão em dinheiro (lojinhas); acesso
(estacionamento). Ao mesmo tempo em que o valorizam podem desfigurá-lo ou prejudicar sua
apreensão pelo público.
Integração: reutilização é a forma mais difícil da valorização do patrimônio: o monumento é
poupado aos riscos do desuso para ser exposto ao desgaste e às usurpações do uso; deve-se levar
em conta o estado material do edifício, o que requer uma avaliação do fluxo de potenciais usuários.
Efeitos perversos: a “embalagem” que se dá ao patrimônio histórico urbano tendo em vista seu
consumo cultural, assim como o fato de ser alvo de investimentos do mercado imobiliário, tende a
excluir dele as populações locais ou não privilegiadas; a banalização, semelhança entre muitas
cidades; efeitos da crescente visitação. Mas não se tem efeitos sobre a relação do grande público
com a herança arquitetônica?
“Essa indústria responde adequadamente à demanda de distração da sociedade de lazer e confere,
além disso, o status social e a distinção associados ao consumo dos bens patrimoniais. Mas onde
fica o acesso aos valores intelectuais e estéticos que há no patrimônio histórico?” (p.228)
Frustração do grande público interessado nos valores da arte e da história dos monumentos e
conjuntos históricos é um dos efeitos perversos da industrialização do patrimônio.
A prevenção dos efeitos perversos deve ser entendida tanto do ponto de vista da proteção dos
monumentos quanto da de seu público. Aí entra a conservação em segundo grau ou estratégica, que
requer medidas de controle (fluxo de visitantes controlados), medidas pedagógicas (museu
imaginário, com desenhos, reprodução dos edifícios em três dimensões e tamanho natural),
políticas urbanas (adequação das áreas a suas dimensões e morfologia).
* p.237: “Qual é o fundamento em que repousa a conservação do patrimônio histórico arquitetônico
num mundo que se muniu de recursos científicos e técnicas para guardar na memória e interrogar
seu passado sem a mediação de monumentos ou de monumentos históricos reais?”.
Dispomos de algumas armas estratégicas contra os excessos de um consumo patrimonial que
tendo a se converter em destruição. Contudo, nenhuma das motivações institucionalmente
reconhecidas ou reivindicadas permite interpretar o culto ao patrimônio, cada vez mais crescente,
mundo afora.
Capítulo 7 – A competência de edificar
Questionar o sentido da inflação do patrimônio histórico e colocá-lo numa perspectiva societal.
* p.240: “o patrimônio histórico parece fazer hoje o papel de um vasto espelho no qual nós,
membros das sociedades humanas do fim do século XX, contemplaríamos a nossa própria imagem”.
O patrimônio teria assim perdido sua função construtiva, substituída por uma função defensiva, que
garantiria a recuperação de uma identidade ameaçada. Traços narcisistas, meio de lidar, talvez, com
transformações que não são dominadas em sua profundidade nem em seu ritmo, e que parecem
questionar sua própria identidade, confortando a angústia e as incertezas do presente com a adição
de novos elementos.
* p.241: desenvolvimento da inflação patrimonial nos anos 50, época de perturbação cultural nas
sociedades industriais, com o advento da era eletrônica e suas memórias artificiais e sistemas
eficientes de comunicação, nos libertando das limitações do espaço (mobilidade) e tempo
(instantaneidade). Vive-se uma revolução “protética” (inspiração em Freud), na qual se salienta a
multiplicação das mediações e das telas entre os homens e o mundo, e os próprios homens.
* p.247: não é só o patrimônio arquitetônico que compõe a imagem narcisista patrimonial. Há a
museificação de todos os campos e tipos de atividade; o museu, que era uma instituição, tornou-se
uma mentalidade, e não só coisas de um passado distinto.
* p.248: “embora a figura que contemplamos no espelho do patrimônio seja o reflexo de objetos
reais, nem por isso é menos ilusória. A forma indiscriminada com que foram reunidos eliminou
todas as diferenças, heterogeneidades e fraturas. Ela nos tranquiliza e exerce sua função protetora
graças, precisamente, à redução e à supressão fictícia dos conflitos e das questões que não ousamos
enfrentar: instrumentos de defesa eficaz numa situação de crise e de angústia, mas instrumento
transitório”. Seria um tempo para assumir um destino, uma reflexão, para depois continuar a
construção da identidade. Passado esse prazo, o espelho do patrimônio estaria nos precipitando na
falsa consciência, na recusa do real e na repetição.
* p.251: o acontecimento traumático que a cultura do patrimônio nos ajuda a conjurar e a ocultar é
a eliminação da competência de edificar (capacidade de articular entre si e seu contexto, com a
mediação do corpo humano). Essa competência é a relação direta do construtor com o ambiente,
sem intermediação, o que envolve também a memória ancestral. Isso traria a superação da crise da
arquitetura e das cidades, reconduzido os objetivos de conservação do patrimônio à conservação da
capacidade de lhe dar continuidade e substituí-lo. Uma nova abordagem do patrimônio deve levar
em conta o reencontro com essa competência.
* p.257: “Quando deixar de ser objeto de um culto irracional e de uma valorização incondicional,
não sendo portanto nem relíquia nem gadget, o reduto patrimonial poderá se tornar o terreno
inestimável de uma lembrança de nós mesmos no futuro”.
Você também pode gostar
- Patrimonio Cultural: Conceitos, Politicas, InstrumentosDocumento381 páginasPatrimonio Cultural: Conceitos, Politicas, InstrumentosOsmar Weyh100% (2)
- Filosofia Da Paisagem - Segunda EdiçãoDocumento504 páginasFilosofia Da Paisagem - Segunda Ediçãolucianacomfacebook100% (3)
- Imaginação Museal - Museu, Memória e Poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. CHAGAS, MárioDocumento307 páginasImaginação Museal - Museu, Memória e Poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. CHAGAS, MárioMuseologia Ufg86% (7)
- Boito, Camillo. Os RestauradoresDocumento30 páginasBoito, Camillo. Os RestauradoresRodrigo Pereira Dos Anjos100% (1)
- Teoria Da Restauração - Cesare BrandiDocumento242 páginasTeoria Da Restauração - Cesare BrandiFlavia Vinade100% (1)
- Manual INRCDocumento156 páginasManual INRCAlessandra Gama100% (4)
- MENESES, Ulpiano - Os Museus Na Era Do VirtualDocumento25 páginasMENESES, Ulpiano - Os Museus Na Era Do VirtualMichel PlatiniAinda não há avaliações
- Exposição Concepção Montagem e AvaliaçãoDocumento5 páginasExposição Concepção Montagem e AvaliaçãoNathália Lardosa75% (4)
- BESSE As Cinco Portas Da PaisagemDocumento11 páginasBESSE As Cinco Portas Da PaisagemmarcoAinda não há avaliações
- Cenário Da Arquitetura Da Arte - Sônia Salcedo Del CastilloDocumento47 páginasCenário Da Arquitetura Da Arte - Sônia Salcedo Del CastilloRaphael Douglas Tenorio60% (5)
- FJP. Livro Barroco Mineiro - Glossário de Arquitetura e Ornamentação PDFDocumento186 páginasFJP. Livro Barroco Mineiro - Glossário de Arquitetura e Ornamentação PDFGabriel Luz100% (2)
- Au Pair Na FrançaDocumento7 páginasAu Pair Na FrançaAna Clara FreireAinda não há avaliações
- Resumo Alegoria Do PatrimonioDocumento13 páginasResumo Alegoria Do PatrimonioPenha De França Transformações Permanências100% (2)
- Gestão Da Conservação-Restauração Do Patrimônio Cultural Algumas Reflexões Sobre Teoria e PráticaDocumento10 páginasGestão Da Conservação-Restauração Do Patrimônio Cultural Algumas Reflexões Sobre Teoria e PráticaDébora LimaAinda não há avaliações
- CANDAU - Joël. Memória e IdentidadeDocumento12 páginasCANDAU - Joël. Memória e IdentidadeJessica GonçalvesAinda não há avaliações
- Imagens de Vilas e Cidades Do Brasil - Nestor Goulart Reis FilhoDocumento14 páginasImagens de Vilas e Cidades Do Brasil - Nestor Goulart Reis FilhoJoão PenaAinda não há avaliações
- Meneses, Ulpiano Toledo Bezerra De. Patrimônio Ambiental Urbano. CJ Arquitetura 1978Documento2 páginasMeneses, Ulpiano Toledo Bezerra De. Patrimônio Ambiental Urbano. CJ Arquitetura 1978Felipe Bueno Crispim100% (1)
- Michel Vovelle - Breve História Da Revolução FrancesaDocumento10 páginasMichel Vovelle - Breve História Da Revolução FrancesaMarcos LuftAinda não há avaliações
- Dominique Poulot - Uma História Do Patrimônio No OcidenteDocumento120 páginasDominique Poulot - Uma História Do Patrimônio No OcidenteMariana Batalin Amparo100% (1)
- Aula Sobre Françoise Choay - A Invenção Do Patrimônio UrbanoDocumento27 páginasAula Sobre Françoise Choay - A Invenção Do Patrimônio UrbanoEduarda CarvalhoAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - Alegoria Do PatrimonioDocumento5 páginasResenha Crítica - Alegoria Do PatrimonioRenato Fonseca75% (4)
- RIEGL, A (1903) O Culto Moderno Dos Monumentos (Ed. Perspectiva - 2014)Documento44 páginasRIEGL, A (1903) O Culto Moderno Dos Monumentos (Ed. Perspectiva - 2014)Carla Mary Oliveira100% (27)
- O Papel Da Musealidade Ivo MaroevicDocumento6 páginasO Papel Da Musealidade Ivo MaroevicPa OlaAinda não há avaliações
- Patrimonio Cultural: Memória e Intervenção UrbanaDocumento248 páginasPatrimonio Cultural: Memória e Intervenção UrbanaBeano de Borbujas100% (2)
- Preservar Não É Tombar, Renovar Não É Por Tudo AbaixoDocumento5 páginasPreservar Não É Tombar, Renovar Não É Por Tudo AbaixoClaudia Nascimento100% (1)
- Sylvio de VasconcellosDocumento64 páginasSylvio de VasconcellosDi Gaudi0% (2)
- Camada Pictórica 1° Parte - DegradaçãoDocumento56 páginasCamada Pictórica 1° Parte - Degradaçãosalazarsil83% (6)
- Danilo Angrimani Sobrinho - Espreme Que Sai SangueDocumento151 páginasDanilo Angrimani Sobrinho - Espreme Que Sai SangueJanaina Haila100% (2)
- Alegoria Do PatrimônioDocumento4 páginasAlegoria Do Patrimônioanaluisacoelho80% (10)
- Fichamento Alegoria Do Patrimônio - ChoayDocumento2 páginasFichamento Alegoria Do Patrimônio - ChoayJúlia100% (1)
- Dicionário Do IPHAN de Patrimônio CulturalDocumento191 páginasDicionário Do IPHAN de Patrimônio CulturalWellington Gomes100% (1)
- Aula 01 - o Que e PatrimonioDocumento74 páginasAula 01 - o Que e PatrimonioLeticiaVital100% (2)
- Breve História Da Teoria Da Conservação e Do RestauroDocumento14 páginasBreve História Da Teoria Da Conservação e Do RestauroRoberto Marques CastelhanoAinda não há avaliações
- CHOAY Françoise A Alegoria Do Patrimônio 2001 - ##Documento78 páginasCHOAY Françoise A Alegoria Do Patrimônio 2001 - ##Amanda HigashiAinda não há avaliações
- Museologia - Roteiros PráticosDocumento34 páginasMuseologia - Roteiros PráticosIale Camboim100% (2)
- O Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalDocumento134 páginasO Objeto Da Museologia - Anaildo BaraçalTatiana Aragão PereiraAinda não há avaliações
- A Narrativa Na Exposição MuseológicaDocumento9 páginasA Narrativa Na Exposição MuseológicaLorenna GonçalvesAinda não há avaliações
- Gustavo Giovannoni-Introdução BeatrizDocumento24 páginasGustavo Giovannoni-Introdução BeatrizAnaCynthiaSampaio100% (1)
- 2 - Princípios Históricos e Filosóficos Da Conservação PreventivaDocumento23 páginas2 - Princípios Históricos e Filosóficos Da Conservação PreventivaBertrand Pereira MartinsAinda não há avaliações
- Preservacao Patrimonio Edificado Questao Do UsoDocumento315 páginasPreservacao Patrimonio Edificado Questao Do UsoAna Claudia AdamanteAinda não há avaliações
- FCRB MI Mapa de Danos de Edificios Historicos de Tijolos A VistaDocumento83 páginasFCRB MI Mapa de Danos de Edificios Historicos de Tijolos A VistaSilvana BorgesAinda não há avaliações
- Capitulo 2 Do Livro História Da Cidade de Leonardo BenevoloDocumento32 páginasCapitulo 2 Do Livro História Da Cidade de Leonardo Benevoloabilio junior100% (6)
- Aula O Patrimônio Cultural BrasileiroDocumento42 páginasAula O Patrimônio Cultural BrasileiroHenrique de SiqueiraAinda não há avaliações
- Identidade Cultural e PatrimÓnioDocumento24 páginasIdentidade Cultural e PatrimÓnioapi-3730074100% (3)
- Cesare Brandi e A Teoria Da RestauraçãoDocumento14 páginasCesare Brandi e A Teoria Da Restauraçãomm857Ainda não há avaliações
- 3 Trabalho Cidade Patrimonio e MusealizacaoDocumento14 páginas3 Trabalho Cidade Patrimonio e MusealizacaoAntonio F SAinda não há avaliações
- Técnicas de Conservação e RestauroDocumento157 páginasTécnicas de Conservação e RestauroDhow MarkAinda não há avaliações
- 18-Antropologia e Patrimonio Cultural-Dialogos e Desafios Contemporaneos PDFDocumento25 páginas18-Antropologia e Patrimonio Cultural-Dialogos e Desafios Contemporaneos PDFGabriella StephanyAinda não há avaliações
- Ensino de História e Patrimônio Cultural: Um Percurso DocenteNo EverandEnsino de História e Patrimônio Cultural: Um Percurso DocenteNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Patrimônio Histórico e A Cultura Material No Renascimento de Christine Ferreira AzziDocumento19 páginasO Patrimônio Histórico e A Cultura Material No Renascimento de Christine Ferreira AzziTainá SousaAinda não há avaliações
- A1 - Museus, Arquivos e Patrimônio HistóricoDocumento35 páginasA1 - Museus, Arquivos e Patrimônio HistóricoSemele CassAinda não há avaliações
- Aula 1 - Fromer - Memoria - e - Preservacao - A - Construcao - Epistemologica - Da - Ciencia - Da - ConservacaoDocumento25 páginasAula 1 - Fromer - Memoria - e - Preservacao - A - Construcao - Epistemologica - Da - Ciencia - Da - ConservacaoFábio de AlbuquerqueAinda não há avaliações
- A Alegoria Do Patrimônio - Cap 4Documento16 páginasA Alegoria Do Patrimônio - Cap 4Vanessa AndradeAinda não há avaliações
- A História Dos MuseusDocumento3 páginasA História Dos Museus00adrielly00Ainda não há avaliações
- Alois Riegl e o Culto Moderno Dos MonumentosDocumento9 páginasAlois Riegl e o Culto Moderno Dos MonumentosEmilly AmaralAinda não há avaliações
- 74255-Texto Do Artigo-99809-1-10-20140210Documento10 páginas74255-Texto Do Artigo-99809-1-10-20140210Laina HonoratoAinda não há avaliações
- 11 - A Espetacularização Dos Museus Na Pós-ModernidadeDocumento16 páginas11 - A Espetacularização Dos Museus Na Pós-ModernidadeGlauber de limaAinda não há avaliações
- Os Monumentos Estão Permanentemente Expostos Às Injurias Do TempoDocumento3 páginasOs Monumentos Estão Permanentemente Expostos Às Injurias Do TempoNatalia Nobre100% (1)
- Fichamento Le GoffDocumento3 páginasFichamento Le GoffrenanromaAinda não há avaliações
- PortfoliopcscompletoDocumento16 páginasPortfoliopcscompletobarbosamariajoao8Ainda não há avaliações
- Importância e Finalidades Da PesquisaDocumento1 páginaImportância e Finalidades Da PesquisaMarcos LuftAinda não há avaliações
- O Estudo e A LeituraDocumento4 páginasO Estudo e A LeituraMarcos LuftAinda não há avaliações
- Tipos de ConhecimentoDocumento5 páginasTipos de ConhecimentoMarcos LuftAinda não há avaliações
- JOLY, Fábio Duarte - A Escravidão Na Roma Antiga PDFDocumento51 páginasJOLY, Fábio Duarte - A Escravidão Na Roma Antiga PDFMarcos LuftAinda não há avaliações
- Economia e Sociedade No Rio Grande Do Sul - Século XVIIIDocumento235 páginasEconomia e Sociedade No Rio Grande Do Sul - Século XVIIIMarcos LuftAinda não há avaliações
- Pedagogia de ATER DefinitivoDocumento8 páginasPedagogia de ATER DefinitivoMarcos LuftAinda não há avaliações
- Arno Kern - Missões, Uma Utopia Política - Cap. 4Documento10 páginasArno Kern - Missões, Uma Utopia Política - Cap. 4Marcos LuftAinda não há avaliações
- Fases Da Extensão Rural No BrasilDocumento1 páginaFases Da Extensão Rural No BrasilMarcos LuftAinda não há avaliações
- O Modelo Cooperativo de Extensão Dos Estados UnidosDocumento10 páginasO Modelo Cooperativo de Extensão Dos Estados UnidosMarcos LuftAinda não há avaliações
- Brincadeiras AfricanasDocumento15 páginasBrincadeiras AfricanasMarcos Luft100% (1)
- A Ásia Antes Da Chegada Dos EuropeusDocumento2 páginasA Ásia Antes Da Chegada Dos EuropeusMarcos Luft100% (1)
- Extensão Rural No Mundo PDFDocumento30 páginasExtensão Rural No Mundo PDFMarcos LuftAinda não há avaliações
- Peter Beattie - Tributo de SangueDocumento6 páginasPeter Beattie - Tributo de SangueMarcos LuftAinda não há avaliações
- Trabalho Fábio Kuhn - Escravidão No RS Através Dos CensosDocumento14 páginasTrabalho Fábio Kuhn - Escravidão No RS Através Dos CensosMarcos LuftAinda não há avaliações
- José Iran Ribeiro - de Tão Longe para Sustentar A Honra NacionalDocumento9 páginasJosé Iran Ribeiro - de Tão Longe para Sustentar A Honra NacionalMarcos LuftAinda não há avaliações
- Filosofia Hermetica e MaçonariaDocumento33 páginasFilosofia Hermetica e MaçonariaFrancisco Pucci100% (1)
- O Romantismo e A Paisagem de HumboldtDocumento334 páginasO Romantismo e A Paisagem de HumboldtArthur PereiraAinda não há avaliações
- As Raizes Do RomantismoDocumento78 páginasAs Raizes Do Romantismobythe way100% (1)
- Artigo - Alexis de Tocqueville PDFDocumento13 páginasArtigo - Alexis de Tocqueville PDFJerry AdrianeAinda não há avaliações
- Quebra Cabeças, Dobraduras e Atividades Interativas: AtençãoDocumento41 páginasQuebra Cabeças, Dobraduras e Atividades Interativas: AtençãoFred BahiaAinda não há avaliações
- Romario Sampaio BasilioDocumento80 páginasRomario Sampaio BasilioTiago AndréAinda não há avaliações
- Era Napoleônica - 8º Ano-ADocumento4 páginasEra Napoleônica - 8º Ano-ARosânia PereiraAinda não há avaliações
- Jean GenetDocumento11 páginasJean GenetsitioeletronicoAinda não há avaliações
- Curso Imperio OtomanoDocumento14 páginasCurso Imperio OtomanoLayse Do Amaral FariasAinda não há avaliações
- Causas e Consequências Da Primeira Guerra MundialDocumento2 páginasCausas e Consequências Da Primeira Guerra MundialSimone ramos ferreiraAinda não há avaliações
- O Patriota FilmeDocumento2 páginasO Patriota Filmethaisaya100% (1)
- Material 14 - Redacao - Turma Med Extensivo Semi e 3 Ano - Prof Fran FalavignaDocumento2 páginasMaterial 14 - Redacao - Turma Med Extensivo Semi e 3 Ano - Prof Fran FalavignaIgor MaraniAinda não há avaliações
- Questionario Historia Moderna Da Formação Do Sistema InternacionalDocumento12 páginasQuestionario Historia Moderna Da Formação Do Sistema InternacionalRodrigo AlvesAinda não há avaliações
- 4 - O Ataque A Aguia - Anthony HorowitzDocumento191 páginas4 - O Ataque A Aguia - Anthony HorowitzRenno MauberAinda não há avaliações
- Prova - 3âºano - 2bDocumento3 páginasProva - 3âºano - 2bAline CardosoAinda não há avaliações
- TCC Leandro Senna - Pierrot e o CinismoDocumento55 páginasTCC Leandro Senna - Pierrot e o CinismoLeandro Senna Cardoso GomesAinda não há avaliações
- Alpes FrancesesDocumento3 páginasAlpes FrancesesVinicius HiginoAinda não há avaliações
- BRAUDEL Fernand. Escritos Sobre A HistóriaDocumento292 páginasBRAUDEL Fernand. Escritos Sobre A HistóriaMilenaSilveiraAinda não há avaliações
- Minha Casa Não É Minha e Nem É Meu Esse Lugar - ArtigoDocumento20 páginasMinha Casa Não É Minha e Nem É Meu Esse Lugar - ArtigoDeboraAinda não há avaliações
- Marx e A Comuna de Paris PDFDocumento29 páginasMarx e A Comuna de Paris PDFRoger Filipe SilvaAinda não há avaliações
- René Wellek - CompressedDocumento22 páginasRené Wellek - CompressedErica Helena Martins de OliveiraAinda não há avaliações
- Lista 2Documento10 páginasLista 2Natália MagalhãesAinda não há avaliações
- Hist Conteudo EnemDocumento1 páginaHist Conteudo Enemcleunice1Ainda não há avaliações
- ArtificeDocumento197 páginasArtificeadrhianosouza100% (1)
- O Roubo - Paola AleksandraDocumento29 páginasO Roubo - Paola AleksandraPaola Aleksandra100% (1)
- Parques TecnológicosDocumento33 páginasParques TecnológicosAna Carolina VavassoriAinda não há avaliações
- JonathanDocumento25 páginasJonathanRevistasAinda não há avaliações
- Historia em 2aserie Slides Aula 34Documento18 páginasHistoria em 2aserie Slides Aula 34rivanoprofesAinda não há avaliações