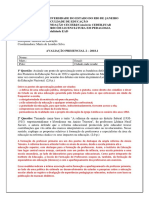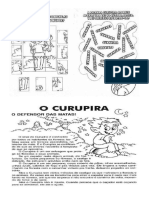Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
História Social Do Ensino Superior Brasileiro
Enviado por
marcio alan0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
22 visualizações8 páginasO documento discute a história do ensino superior no Brasil e em São Paulo, desde as primeiras escolas de ensino superior criadas em 1808 até o surgimento dos programas de pós-graduação nas décadas de 1960 e 1970. Aborda a criação das primeiras instituições, a expansão do ensino superior privado no século XIX, e os debates em torno da criação de universidades nas décadas de 1920 e 1930.
Descrição original:
Mais um texto ruim
Título original
HISTÓRIA SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoO documento discute a história do ensino superior no Brasil e em São Paulo, desde as primeiras escolas de ensino superior criadas em 1808 até o surgimento dos programas de pós-graduação nas décadas de 1960 e 1970. Aborda a criação das primeiras instituições, a expansão do ensino superior privado no século XIX, e os debates em torno da criação de universidades nas décadas de 1920 e 1930.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
22 visualizações8 páginasHistória Social Do Ensino Superior Brasileiro
Enviado por
marcio alanO documento discute a história do ensino superior no Brasil e em São Paulo, desde as primeiras escolas de ensino superior criadas em 1808 até o surgimento dos programas de pós-graduação nas décadas de 1960 e 1970. Aborda a criação das primeiras instituições, a expansão do ensino superior privado no século XIX, e os debates em torno da criação de universidades nas décadas de 1920 e 1930.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 8
PÓS EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR
HISTÓRIA SOCIAL DO ENSINO SUPERIOR
BRASILEIRO
Compreensão do processo de constituição histórica da
educação superior no Brasil enfatizando São Paulo.
O primeiro livro voltado exclusivamente a narrar a história
da educação brasileira, L'Instruction publique au Brésil:
histoire et legislation (1500-1889), de José Ricardo Pires
de Almeida, composto como elogio ao Império e
publicado já no fim do regime (em 1889), movia-se, da
mesma forma, no âmbito das estatísticas e continha
objetivo semelhante: afirmar a liderança brasileira em
termos educacionais. Mas agora o alvo eram os países
sulamericanos, em especial a Argentina. Dizia-se o autor
constrangido ao "dever e quase missão de restabelecer
a verdade": "O Brasil é, certamente, dentre todos os
países da América do Sul, aquele que maiores provas
deram de amor ao progresso e à perseverança na trilha
da civilização".
De acordo com depoimento de Tirsa Peres, até o fim dos
anos 1950, era nos cursos de Sociologia, de Azevedo,
que a história da educação brasileira se explorava
especialmente no que concernia à atuação do próprio
Azevedo como reformador da instrução pública do
Distrito Federal e de São Paulo. Sua importância
também se deveu à proeminência do autor no campo
político da educação nacional. Nos anos seguintes à
publicação de A cultura brasileira, Fernando de Azevedo
assumiu a Secretaria de Educação de São Paulo, em
1947; dirigiu a Biblioteca Pedagógica Brasileira, da Cia.
Editora Nacional, até 1946; foi diretor do Centro Regional
de Pesquisas Educacionais de São Paulo, de 1956 a
1961; e redator do Manifesto de 1959 (Mais uma vez
convocados).
No âmbito da Universidade de São Paulo, outros
trabalhos voltados especificamente para a área de
história da educação surgiram inicialmente no
Departamento de Pedagogia da FFCL (1938-1969), e
posteriormente no Centro Regional de Pesquisas
Educacionais (1956-1974) e na Faculdade de Educação
(1969). Articulavam-se especialmente em torno da
cátedra de História e Filosofia da Educação (FFLC-USP),
regida por Laerte Ramos de Carvalho. Assistente desde
1948, Ramos de Carvalho assumiu-a como titular em
1952, quando defendeu a tese As reformas pombalinas
da instrução pública, resultado de pesquisas realizadas
em acervos portugueses (transformada em livro apenas
em 1978).
A partir dos 1960 a história da educação brasileira
passou a ser incluída de forma mais significativa no
programa geral da cátedra, talvez como fruto dos
estudos do grupo. Talvez em razão do estímulo dado
pelo parecer do Conselho Federal de Educação (CFE
251/62), que especificava que o currículo mínimo dos
Cursos de Pedagogia deveria contar com a disciplina
história da educação, "entendida como uma apreciação
coerente dos fundamentos históricos que explicam a
educação moderna, e, dentro desta orientação, conterá
uma divisão especial dedicada à História da Educação
Brasileira". Talvez ainda, em virtude da aposentadoria de
Azevedo, em 1961.
O surgimento dos programas de pós-graduação em
Educação no fim dos anos 1960 e início dos anos 1970,
como dito acima, alterou a configuração dos trabalhos na
disciplina, menos por um afastamento dos primados da
relação entre história e filosofia e mais, ao contrário, por
uma ênfase nessa aproximação a partir de um
referencial teórico-marxista, apoiado primeiramente em
Althusser (fim dos anos 1960 e 1970) e depois em
Gramsci (anos 1970 e 1980). Os primeiros programas
instalaram-se nas universidades católicas, PUC-Rio
(1965) e PUC-SP (1969), e aglutinaram uma geração de
acadêmicos "diretamente vinculada à Igreja Católica ou
gravita[ndo] na sua esfera de influência", constituindo-se
no lugar de confluência entre o pensamento marxista e a
nova pregação da Igreja, exposta nas Conferências do
Conselho Episcopal Latino americano de Mendelin
(1969) e Puebla (1979), e condensada na fórmula da
"opção pelos pobres".
Leituras complementares:
WARDE, Mirian Jorge. "Anotações para uma
Historiografia da Educação Brasileira". In Em Aberto, ano
3, n.º23, set./out. 1984.
AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. Introdução
ao estudo da cultura no Brasil. São Paulo:
Melhoramentos, 1958, 3a. edição.
Modelos que orientem a organização e o funcionamento
das Instituições de Ensino Superiores Brasileiras em
relação com a formação da sociedade
No contexto da cultura brasileira contemporânea, o
ensino universitário tem sua importância proclamada
tanto pela retórica oficial como pelo senso comum
predominante no seio da sociedade. É-lhe atribuída
significativa participação na formação dos profissionais
dos diversos campos e na preparação dos quadros
administrativos e das lideranças culturais e sociais do
país, sendo visto como poderoso mecanismo de
ascensão social, cabendo destacada valorização para o
ensino oferecido pelas universidades públicas.
Na atual conjuntura mundial, o cenário específico em que
se encontra a sociedade brasileira é aquele desenhado
por um intenso e extenso processo de globalização
econômica e cultural, conduzido pela expansão da
economia capitalista, que se apóia, política e
ideologicamente, no paradigma neoliberal. Por isso, é
tendência mundial, que vai impondo a todos os países a
minimização do Estado, a total priorização da lógica do
mercado na condução da vida social, o incentivo à
privatização generalizada, a defesa do individualismo, do
consumismo, da competitividade, da iniciativa privada.
No início desta década, em 2001, é aprovado o Plano
Nacional de Educação, que se destaca por sua
abrangência. O artigo 214 da Constituição determina que
a lei estabelecerá o plano nacional de educação, de
duração plurianual, visando à articulação e ao
desenvolvimento do ensino, em seus diversos níveis, e à
integração das ações do poder público que conduzam à:
I – erradicação do analfabetismo; II – universalização do
atendimento escolar; III – melhoria da qualidade do
ensino; IV – formação para o trabalho; V – promoção
humanística, científica e tecnológica do País. A mesma
determinação é retomada no parágrafo 1º do art. 87, da
nova LDB, em suas Disposições Transitórias: A União,
no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei,
encaminhará ao Congresso Nacional, o Plano Nacional
de Educação, com diretrizes e metas para os dez anos
seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre
Educação para Todos.
Em 2007, o governo lança o PDE, Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE 2007), com uma
série de medidas com as quais o governo espera
melhorar o desempenho das instituições educacionais
de todos os níveis.
Enquanto as instituições universitárias privadas seguem,
convictas, a lógica do mercado na oferta de seus
serviços educacionais, as universidades públicas, assim
como a educação pública em geral, se debate num
confronto de múltiplas frentes. Enfrentam a necessidade
de inovar para atender às justas necessidades surgidas
no seio da sociedade por força de sua complexificação,
modernização e desenvolvimento, ao mesmo tempo em
que se veem constrangidas a resistir às induções e
determinações que lhe são feitas pela política neoliberal
imperante, o que, muitas vezes, leva seus defensores a
ter de assumir uma posição vista como conservadora.
De todas essas constatações, pode-se concluir que o
ensino superior público atravessa um momento histórico-
social cheio de desafios. De um lado, enfrenta a pressão
do modelo societário capitalista neoliberal, através de
seu mediador principal, o poder público nacional,
pressionado, por sua vez, pelos agentes internacionais
que se impõem em função do jogo geopolítico das forças
econômicas próprio do neoliberalismo capitalista
globalizado, que responde pela instauração planetária de
uma nova ordem mundial (ou seria desordem?),
particularmente na esfera da economia.
Leituras complementares:
OLIVEIRA, João F. de. Reforma da educação superior:
mudanças na gestão e metamorfose das universidades
públicas. In: PEREIRA, Filomena M. de A.; MULLER, M.
Lúcia R. Educação na interface relação
estado/sociedade. Cuiabá: EDUFMT/ Capes, 2006. v. 1,
p. 11-21.
SEVERINO, Antonio J. Fundamentos ético-político da
educação no Brasil de hoje. In: LIMA, Júlio C.; NEVES,
Lúcia M. W. Fundamentos da educação escolar no Brasil
contemporâneo. Rio de Janeiro: Fiocruz/EPSJV, 2006. p.
289-320.
Processo histórico-social de criação, expansão e
diversificação da educação superior no Brasil e em São
Paulo
As primeiras escolas de ensino superior foram fundadas
no Brasil em 1808 com a chegada da família real
portuguesa ao país. Neste ano, foram criadas as escolas
de Cirurgia e Anatomia em Salvador (hoje Faculdade de
Medicina da Universidade Federal da Bahia), a de
Anatomia e Cirurgia, no Rio de Janeiro (atual Faculdade
de Medicina da UFRJ) e a Academia da Guarda Marinha,
também no Rio. Dois anos após, foi fundada a Academia
Real Militar (atual Escola Nacional de Engenharia da
UFRJ).
Com a independência política em 1822 não houve
mudança no formato do sistema de ensino, nem sua
ampliação ou diversificação. A elite detentora do poder
não vislumbrava vantagens na criação de universidades.
Até o final do século XIX existiam apenas 24
estabelecimentos de ensino superior no Brasil com cerca
de 10.000 estudantes3. A partir daí, a iniciativa privada
criou seus próprios estabelecimentos de ensino superior
graças à possibilidade legal disciplinada pela
Constituição da República (1891).
Na década de 1920 o debate sobre a criação de
universidades não se restringia mais a questões
estritamente políticas (grau de controle estatal) como no
passado, mas ao conceito de universidade e suas
funções na sociedade. As funções definidas foram as de
abrigar a ciência, os cientistas e promover a pesquisa.
O período de 1931 a 1945 caracterizou-se por intensa
disputa entre lideranças laicas e católicas pelo controle
da educação.
O período de 1945 a 1968 assistiu à luta do movimento
estudantil e de jovens professores na defesa do ensino
público, do modelo de universidade em oposição às
escolas isoladas e na reinvidicação da eliminação do
setor privado por absorção pública.
O regime militar iniciado em 1964 desmantelou o
movimento estudantil e manteve sob vigilância as
universidades públicas, encaradas como focos de
subversão, ocorrendo em consequência o expurgo de
importantes lideranças do ensino superior e a expansão
do setor privado, sobretudo a partir de 1970. Em finais
da década de 1970 o setor privado já respondia por
62,3% das matrículas, e em 1994 por 69%.
A partir de 1980 observou-se uma redução progressiva
da demanda para o ensino superior em decorrência da
retenção e evasão de alunos do 2º grau, inadequação
das universidades às novas exigências do mercado e
frustração das expectativas da clientela em potencial.
Uma das principais transformações do ensino superior
no século XX consistiu no fato de destinarem-se também
ao atendimento à massa e não exclusivamente à elite.
Num dos estudos da década de 1990, observou-se que
no ensino superior, estudantes oriundos de famílias com
renda de até 6 salários mínimos representavam
aproximadamente 12% dos matriculados em instituições
privadas e 11% em instituições públicas. Tanto no setor
privado, quanto no público, a proporção de estudantes
oriundos de famílias com renda acima de 10 salários
mínimos ultrapassa os 60%, o que desmistifica a crença
de que os menos favorecidos é que frequentam a
instituição privada.
Algumas decisões do Governo Federal procurando
aumentar a oferta de vagas no ensino fundamental e os
oferecimentos de bolsas-escola parecem medidas
pontuais apropriadas, embora por si só insuficientes. As
próprias restrições governamentais à reprovação no
ensino fundamental (como a adotada no Estado de São
Paulo), se bem compreendidas pelos professores dos
respectivos níveis e percebidas como incremento de
suas responsabilidades na recuperação dos alunos a
que estão sujeitos, representam outra tentativa de
programar a escolaridade da população e de ampliar o
número de egressos dos cursos secundários.
Leituras complementares:
Teixeira A. O ensino superior no Brasil – análise e
interpretação de sua evolução até 1969. Rio de Janeiro,
Fundação Getúlio Vargas, 1969.
Cunha, LA. A expansão do ensino superior: causas e
consequências. Debate & Crítica 1975; 5: 27-58, São
Paulo:Hucitec.
Você também pode gostar
- Políticas Educacionais-No-BrasilDocumento17 páginasPolíticas Educacionais-No-BrasilHeloisa FernandesAinda não há avaliações
- Seminário - Estado J Políticas Públicas e Educação-1Documento22 páginasSeminário - Estado J Políticas Públicas e Educação-1Andre Vitor de Sousa MarinhoAinda não há avaliações
- BEVILACQUA, Aluisio Pampolha. John Dewey e A Escola NovaDocumento13 páginasBEVILACQUA, Aluisio Pampolha. John Dewey e A Escola NovaLucas MAinda não há avaliações
- Apostila de Educação BrasileiraDocumento62 páginasApostila de Educação BrasileiraAndressa Coelho0% (1)
- Escola Normal - O Projeto Das Elites Brasileiras para A Formação de ProfessoresDocumento11 páginasEscola Normal - O Projeto Das Elites Brasileiras para A Formação de ProfessoresGustavoPiraAinda não há avaliações
- 1595353280apostila Dida Tica - Ago2018Documento87 páginas1595353280apostila Dida Tica - Ago2018SolinbergAinda não há avaliações
- História - Resumo 2Documento9 páginasHistória - Resumo 2maria aparecida SantanaAinda não há avaliações
- Texto 02 - ATUALIZADODocumento6 páginasTexto 02 - ATUALIZADOBruno PereiraAinda não há avaliações
- 373802-SAVIANI História Da Ideias Pedagógicas No BrasilDocumento7 páginas373802-SAVIANI História Da Ideias Pedagógicas No BrasilPriscila Lopes100% (1)
- Memorial - História Da Educação Brasileira ADocumento7 páginasMemorial - História Da Educação Brasileira AMANUELA APARECIDA ANDRADE DA SILVAAinda não há avaliações
- Unidade 4Documento24 páginasUnidade 4Bruna VieiraAinda não há avaliações
- Referências - A Política Educacional BrasileiraDocumento13 páginasReferências - A Política Educacional BrasileiraJoseanne LeviAinda não há avaliações
- Didatica Uma Retrospectiva Historica VEIGADocumento4 páginasDidatica Uma Retrospectiva Historica VEIGAGabriel Domingues67% (3)
- Diatica - Online - 07 11 2017 PDFDocumento67 páginasDiatica - Online - 07 11 2017 PDFsheylageovaneAinda não há avaliações
- O Desmonte Da Universidade Pública - A Interface de Uma IdeologiaDocumento30 páginasO Desmonte Da Universidade Pública - A Interface de Uma IdeologiaEdnaceli Abreu DamascenoAinda não há avaliações
- Artigo de Educação ProtótipoDocumento11 páginasArtigo de Educação ProtótipoAlexson ZanellaAinda não há avaliações
- A Educação nas constituintes brasileiras: 1823-1988No EverandA Educação nas constituintes brasileiras: 1823-1988Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Educação Na Primeira RepublicaDocumento36 páginasA Educação Na Primeira RepublicaCerlandia AguiarAinda não há avaliações
- 11062901032012estrutura e Funcionamento Da Educação Básica Aula 3Documento7 páginas11062901032012estrutura e Funcionamento Da Educação Básica Aula 3Erivaldo LaurindoAinda não há avaliações
- KatiaabudDocumento12 páginasKatiaabudLuizelene Moreira De SousaAinda não há avaliações
- Fichamento 3 - Formas de Brasil J Formas de EducaçãoDocumento4 páginasFichamento 3 - Formas de Brasil J Formas de EducaçãoMeysianne OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo 2Documento5 páginasResumo 2viessa carolinaAinda não há avaliações
- O Caminho Da Escola Democratizada Texto 1Documento19 páginasO Caminho Da Escola Democratizada Texto 1Camila GarciaAinda não há avaliações
- Ordem, civilização e ciência: o ideário liberal na instrução pública da província do Grão-Pará (1841-1871)No EverandOrdem, civilização e ciência: o ideário liberal na instrução pública da província do Grão-Pará (1841-1871)Ainda não há avaliações
- Didática 2Documento15 páginasDidática 2Jônatas RodriguesAinda não há avaliações
- 2004 - Ensino Superior Brasileiro e A Relação Entre Público e Privado - CeliaCaregnatoDocumento16 páginas2004 - Ensino Superior Brasileiro e A Relação Entre Público e Privado - CeliaCaregnatoCélia CaregnatoAinda não há avaliações
- História Da Educação Brasileira - DiálogosDocumento13 páginasHistória Da Educação Brasileira - DiálogosFlávia CastroAinda não há avaliações
- Gabarito Ap2 História Da EducaçãoDocumento5 páginasGabarito Ap2 História Da EducaçãoJacquelineAinda não há avaliações
- Ensino Superior No Brasil: Da Descoberta Aos Dias Atuais: Antonio Carlos Pereira MartinsDocumento3 páginasEnsino Superior No Brasil: Da Descoberta Aos Dias Atuais: Antonio Carlos Pereira MartinsNívea BragaAinda não há avaliações
- Unidade 6Documento24 páginasUnidade 6Bruna VieiraAinda não há avaliações
- Mcecilia,+Journal+Manager,+5232 17226 1 CEDocumento13 páginasMcecilia,+Journal+Manager,+5232 17226 1 CECristianGomesAinda não há avaliações
- Pedagogia Libertária ...Documento14 páginasPedagogia Libertária ...Caio SoutoAinda não há avaliações
- A Evolução Do Sistema Educacional Brasileiro e Seus RetrocessosDocumento12 páginasA Evolução Do Sistema Educacional Brasileiro e Seus RetrocessosAlex OlivindoAinda não há avaliações
- Abordagem Das Politicas Publicas EducacionaisDocumento16 páginasAbordagem Das Politicas Publicas EducacionaisZuleide VieiraAinda não há avaliações
- 38661-Texto Do Artigo-171486-1-10-20170802Documento32 páginas38661-Texto Do Artigo-171486-1-10-20170802AngeloAinda não há avaliações
- A Disciplina Escolar de História No Ensino Secundário Público Paranaense 1931 A 195Documento231 páginasA Disciplina Escolar de História No Ensino Secundário Público Paranaense 1931 A 195Luizelene Moreira De Sousa100% (1)
- Trabalho - República - FernandaDocumento14 páginasTrabalho - República - Fernandamaria aparecida SantanaAinda não há avaliações
- 2 - Trajetória Do EM No BrasilDocumento16 páginas2 - Trajetória Do EM No BrasilRafael MachadoAinda não há avaliações
- Apostila PDFDocumento63 páginasApostila PDFPablo HenriqueAinda não há avaliações
- Resumo - Modelo - Ensino Integrado, A Politecnia e A Educação Omnilateral - Por Que Lutamos - CIAVATTA - OKDocumento8 páginasResumo - Modelo - Ensino Integrado, A Politecnia e A Educação Omnilateral - Por Que Lutamos - CIAVATTA - OKRenan ZiglioliAinda não há avaliações
- O Brasil Republicano: O tempo do nacional-estatismo - vol. 2: Do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo – Segunda RepúblicaNo EverandO Brasil Republicano: O tempo do nacional-estatismo - vol. 2: Do início da década de 1930 ao apogeu do Estado Novo – Segunda RepúblicaAinda não há avaliações
- Conferencia Dermeval SAVIANIDocumento16 páginasConferencia Dermeval SAVIANIMiriam SouzaAinda não há avaliações
- Curso BNCC Educare 1 1Documento237 páginasCurso BNCC Educare 1 1Midiam Midi100% (1)
- Jornal ApaseDocumento16 páginasJornal ApaseBruno Marins SoaresAinda não há avaliações
- Carneiro Leão e A Defesa Da Escola Pública Brasileira Nas PrimeirasDocumento11 páginasCarneiro Leão e A Defesa Da Escola Pública Brasileira Nas PrimeirasBruna OliveiraAinda não há avaliações
- 24146-Texto Do Artigo-73000-1-10-20170105Documento21 páginas24146-Texto Do Artigo-73000-1-10-20170105Viviane Viana CoelhoAinda não há avaliações
- Positivismo No Brasil - ResumoDocumento4 páginasPositivismo No Brasil - ResumoLuciene RodriguesAinda não há avaliações
- Vanilda Paiva Ahistoria Da Educacao Popular 6 EdDocumento2 páginasVanilda Paiva Ahistoria Da Educacao Popular 6 EdPoliana NobreAinda não há avaliações
- Paulo Freire Crítico Da Educação Ou Repodutor Da CríticaDocumento19 páginasPaulo Freire Crítico Da Educação Ou Repodutor Da CríticaAngela Maria MarquesAinda não há avaliações
- História Da Educação No BrasilDocumento4 páginasHistória Da Educação No BrasilPaulo César Dos SantosAinda não há avaliações
- O Manifesto Dos PioneirosDocumento14 páginasO Manifesto Dos PioneirosBruno Leonardo100% (2)
- Artigo Sociologia Da Educacao No BrasilDocumento17 páginasArtigo Sociologia Da Educacao No BrasilProf. Magno CastroAinda não há avaliações
- Resenha 01 - Fundamentos Da EducaçãoDocumento3 páginasResenha 01 - Fundamentos Da EducaçãoPaulo Henrique FariasAinda não há avaliações
- Brasil +Linha+Do+TempoDocumento6 páginasBrasil +Linha+Do+TempoThiago Vilela100% (2)
- Sonia Lopes - A Educação Brasileira Entre 1930 e 1970 (Mimeo)Documento29 páginasSonia Lopes - A Educação Brasileira Entre 1930 e 1970 (Mimeo)gaetanoditria100% (1)
- História e Poder PolíticoDocumento8 páginasHistória e Poder PolíticoJose LimaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento18 páginas1 PBuandersonmgAinda não há avaliações
- A Educação NegadaDocumento4 páginasA Educação NegadaCinthia LudovicoAinda não há avaliações
- História Da Educação No BrasilDocumento17 páginasHistória Da Educação No BrasilLarissa MelloAinda não há avaliações
- O Brasil Republicano: O tempo do liberalismo oligárquico - vol. 1: Da Proclamação da República à Revolução de 1930No EverandO Brasil Republicano: O tempo do liberalismo oligárquico - vol. 1: Da Proclamação da República à Revolução de 1930Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Prova 3 de MecânicaDocumento8 páginasProva 3 de Mecânicamarcio alanAinda não há avaliações
- Artigo Joao BatistaDocumento6 páginasArtigo Joao Batistamarcio alanAinda não há avaliações
- EducaçaoroboticaDocumento157 páginasEducaçaoroboticamarcio alanAinda não há avaliações
- Robotica Com Sucata Texto em PDFDocumento3 páginasRobotica Com Sucata Texto em PDFmarcio alan100% (1)
- Texto Do Artigo 5610Documento21 páginasTexto Do Artigo 5610marcio alanAinda não há avaliações
- Livro Dos ImortaisDocumento70 páginasLivro Dos Imortaismarcio alan100% (1)
- Hamsa Upanishad em Portugues PDFDocumento3 páginasHamsa Upanishad em Portugues PDFmarcio alanAinda não há avaliações
- Atividade Folclore 2Documento1 páginaAtividade Folclore 2marcio alanAinda não há avaliações
- Livro Merhy Cartografia Do Trabalho Vivo em AtoDocumento87 páginasLivro Merhy Cartografia Do Trabalho Vivo em AtoAdrielly Pereira100% (1)
- EXERCÍCIOS e GABARITOS - GLOBALIZAÇÃO PDFDocumento3 páginasEXERCÍCIOS e GABARITOS - GLOBALIZAÇÃO PDFHector Gabriel Garcia0% (1)
- Resenha de "También La Lluvia" (2010)Documento3 páginasResenha de "También La Lluvia" (2010)Chico SousaAinda não há avaliações
- Dicionário em SaúdeDocumento478 páginasDicionário em SaúdeCindy AraujoAinda não há avaliações
- Política Social, Família e Juventude - Mione Apolinario Sales PDFDocumento126 páginasPolítica Social, Família e Juventude - Mione Apolinario Sales PDFVini Santos100% (2)
- O Governo Lula e Seus Indicadores Sociais Sob A Égide Neoliberal - Edilson Vasconcelos Ribeiro JúniorDocumento15 páginasO Governo Lula e Seus Indicadores Sociais Sob A Égide Neoliberal - Edilson Vasconcelos Ribeiro JúniorEdilson Vasconcelos JúniorAinda não há avaliações
- Sobre Pesquisa BricolagemDocumento19 páginasSobre Pesquisa Bricolagemwendeldesign0% (1)
- Portifólio 4°semestreDocumento10 páginasPortifólio 4°semestreTamyres EidtAinda não há avaliações
- Revista 4 PDFDocumento60 páginasRevista 4 PDFLucinda Pereira da Silva100% (1)
- Estado Liberal X Estado Inter Vent orDocumento21 páginasEstado Liberal X Estado Inter Vent orcaduzinhoxAinda não há avaliações
- Artigo2021 03 19 16 15 18Documento18 páginasArtigo2021 03 19 16 15 18Luís FelipeAinda não há avaliações
- BROWN, Wendy. Nas Ruínas Do Neoliberalismo. São Paulo, Politeia, 2019Documento34 páginasBROWN, Wendy. Nas Ruínas Do Neoliberalismo. São Paulo, Politeia, 2019Pedro Santos CardosoAinda não há avaliações
- Sueli Menezes Pereira - Politicas Educacionais No Contexto de Estado NeoliberalDocumento13 páginasSueli Menezes Pereira - Politicas Educacionais No Contexto de Estado NeoliberaljonathanDXDAinda não há avaliações
- Patricio LangaDocumento21 páginasPatricio LangaAnselmo MatusseAinda não há avaliações
- +desenvolvimento Includente-Sustentavel-Sustentado LIVRO PDFDocumento305 páginas+desenvolvimento Includente-Sustentavel-Sustentado LIVRO PDFoctavioAinda não há avaliações
- Fichamento 3Documento2 páginasFichamento 3Larissa CriscuoloAinda não há avaliações
- Aldaíza. Território e Gestão de Políticas SociaisDocumento14 páginasAldaíza. Território e Gestão de Políticas SociaisPh FibonelliAinda não há avaliações
- 663 1352 1 SMDocumento23 páginas663 1352 1 SMCarlos Adriano SilvaAinda não há avaliações
- Neo-Ortodoxia Ou Neoliberalismo Teológico - Um Outro EvangelhoDocumento2 páginasNeo-Ortodoxia Ou Neoliberalismo Teológico - Um Outro EvangelhoajlapriaAinda não há avaliações
- Neoliberalismo e o Plano RealDocumento17 páginasNeoliberalismo e o Plano Realdiegofalcaodias18Ainda não há avaliações
- Trabalho e Cidadania Ativa para As Mulheres 2003 TEXTOS DE HIRATA, KERGOAT E OUTRAS PDFDocumento149 páginasTrabalho e Cidadania Ativa para As Mulheres 2003 TEXTOS DE HIRATA, KERGOAT E OUTRAS PDFHeloisa Lemes SilvaAinda não há avaliações
- Resumo e Comentário Do Livro "Neoliberalismo, de Onde Vem para Onde Vai" de Moraes.Documento3 páginasResumo e Comentário Do Livro "Neoliberalismo, de Onde Vem para Onde Vai" de Moraes.Camila Loures100% (1)
- Marta Harnecker - Ideias para A Luta PDFDocumento67 páginasMarta Harnecker - Ideias para A Luta PDFJosé Cleyton Neves Lopes100% (2)
- Fichamento O Governo Do Homem EndividadoDocumento7 páginasFichamento O Governo Do Homem EndividadoCássio FilhoAinda não há avaliações
- MarcantilismoDocumento11 páginasMarcantilismoAlberto MeloAinda não há avaliações
- Gestão Democrática Na Educação - ResenhaDocumento6 páginasGestão Democrática Na Educação - Resenhajjjccc01Ainda não há avaliações
- O Novo Brasil Da Mostra Do RedescobrimentoDocumento22 páginasO Novo Brasil Da Mostra Do RedescobrimentoOsvaldo LuizAinda não há avaliações
- Os Grandes Desafios para A Sociedade Brasileira 230414 191806Documento46 páginasOs Grandes Desafios para A Sociedade Brasileira 230414 191806Mauro AlvesAinda não há avaliações
- BOITO JR, Armando. Política Neoliberal e Sindicalismo No BrasilDocumento126 páginasBOITO JR, Armando. Política Neoliberal e Sindicalismo No BrasilRaphael Dal Pai100% (1)
- Síntese - Byung Chul HanDocumento2 páginasSíntese - Byung Chul HanDébora FrançaAinda não há avaliações