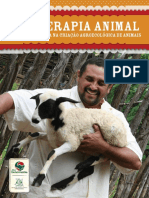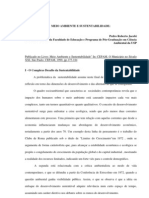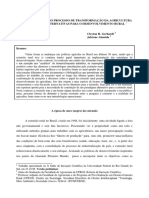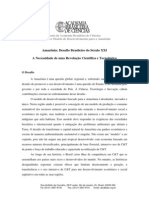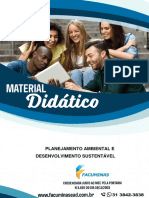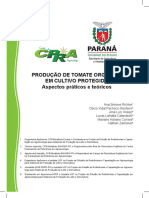Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Sustentabilidade - Johnny Markos Guedes Ramos
Sustentabilidade - Johnny Markos Guedes Ramos
Enviado por
Johnny Maguera0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações6 páginasTítulo original
Sustentabilidade_Johnny Markos Guedes Ramos
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
0 visualizações6 páginasSustentabilidade - Johnny Markos Guedes Ramos
Sustentabilidade - Johnny Markos Guedes Ramos
Enviado por
Johnny MagueraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 6
1 - Conceitos básicos de Agroecossistemas
Atualmente o termo Agroecossistema ganha espaço nos meios acadêmicos e
jornalísticos como a solução perfeita, refere-se a um ecossistema biológico onde pelo
menos uma população pertencente ao ecossistema tem finalidade agrícola, seja
para produção de alimentos ou outros fins primários. O pensamento sustenta todo o
entendimento agroecológico como meio de produção e se apresenta como uma
alternativa aos modelos produtivos tradicionais que historicamente vem exaurindo o
solo e promovendo uma serie de impacto ambientais desagradáveis.
No decorrer da história a obtenção e posteriormente a produção de alimentos
sempre foram os principais balizadores de crescimento populacional e ocupação de
territórios, em função de alimento e água, guerras foram travadas, e o
desenvolvimento do conhecimento floresceu. O domínio tecnológico para sua
obtenção sempre foram fatores de diferenciação, no entanto o mundo dito “civilizado”
afatou-se gradativamente dos conceitos milenares preconizados pelos povos mais
antigos, como evidencia Norgaard (1999) “La metodología y práctica de la
agroecología proviene de distintas raíces filosóficas que difieren de aquellas de las
cuales proviene la ciencia agrícola convencional”.
A produção agroecológica identifica-se segundo seus principais autores como
uma tentativa de resgate dos conhecimentos primordiais, associado as mais
recentes descobertas, onde os povos buscavam a maior produtividade possível
associada com o menor impacto ambiental associado. Este objetivo para ser
alcançado parte de algumas remissas norteadoras, o entendimento que os
agroecossistemas não são mecânicos e deterministas, pelo contrário precisam ser
considerados de forma holística, integrado com os diferentes recursos biológicos,
minerais, sociais e políticos nos quais se inserem, a perspectiva de que seus
resultados são provenientes de diversas interações que precisam ser construídas de
forma plural com os diversos componentes do sistema, em última análise
poderíamos aduzir que no sistema agroecológico a soma das partes nunca será
exatamente o resultado final, uma vez que se bem estruturado as partes se
potencializam em suas relações e interações, desta forma seus resultados se
exponencializam em padrões e resultados nunca antes imaginados.
2 - A evolução dos agroecossistemas e seus impactos econômicos,
sociais e ambientais.
A revolução técnica cientifica da agricultura brasileira historicamente
testemunhou três momentos de ruptura e grande impulso à saber, o primeiro ocorre
na década de 50 com a forte importação de implementos agrícolas para
mecanização do campo e a adoção massiva de adubo químico NPK, o segundo é
marcado pela implantação de setores industriais de bens de produção e insumos
agrícolas, com destaque a industrialização nacional do primeiros tratores e a criação
do sistema de credito rural, o terceiro merece destaque o protagonismo do setor
industrial que fortaleceu o setor primário, por um lado agregando valor aos produtos
e por outro disponibilizando insumos e equipamentos a produção agrícola.
Estes aspectos foram os pontos centrais de uma estratégia de
desenvolvimento capitaneada pelo governo federal, nesta estratégia tínhamos
também a figura do ramo de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia para o
campo, para o qual foi desenvolvida de forma centralizada e estatal na figura da
EMBRAPA e o serviço de assistência técnica e extensão rural , que buscava a
difusão das tecnologias no campo através da EMBRATER – extinta em 1990 pelo
governo Collor.
Estas estratégias de desenvolvimento serviam a econômicos, sociais e
ambientais em uma conjuntura macro, no entanto não conseguiram ser
implementadas de maneira uniforme em todo território nacional, e esta fragilidade de
implementação fez agravar ainda mais as disparidades entre as diversas regiões do
país.
No eixo Sudeste-Sul conseguiu surtir os efeitos planejados, neste ambiente
foi encontrada a existência de uma vocação produtiva, uma malha logística que
favorecia a integração rápida entre os diversos centros, a disponibilidade de mão de
obra, inclusive mão de obra estrangeira que introduziu novas técnicas e novo vigor
a atividade agrícola.
Em meados da década de 60 e 70 presenciamos a implementação estratégica
de programas que objetivavam a integração nacional, a defesa da soberania nacional
e o estabelecimento de fronteiras, principalmente tentando a ocupação da região
norte do Brasil, partindo da região centro oeste, favorecida neste processo com
aporte considerável de recursos, a região passou a atrair agricultores e pecuaristas
da região Sul do Brasil que migraram para o Centro-Oeste em busca de terras
baratas e crédito agrícola. O relevo do Brasil Central se adequou perfeitamente às
culturas que exigem grande mecanização, com destaque para a cultura de soja, o
que alavancou a atividade a um patamar internacional.
A região Norte por sua vez, não conseguiu implementar as mesmas
estratégias adotadas no restante do país, como consequência os resultados não
podem ser analisados sob o mesmo prisma. Em virtude de um território de
dimensões continentais, uma serie de conjunturas naturais como clima, relevo,
hidrografia e temperatura são tão diferentes que parecem pertencer a outro país.
Portanto o modelo agrícola adotado no restante do país não conseguiu lograr o
mesmo êxito, chegando mesmo a ser considerado inadequado à região como
alternativa de integração e desenvolvimento.
A história tem demonstrado de forma cabal que replicar modelos
preconcebido nas regiões mais temperadas não podem simplesmente ser
implementadas neste quinhão, além dos aspectos naturais acima citados, temos
ainda o componente de infraestrutura extremamente precários e não menos
importante o componente cultural da região, este último, fator chave para
implementação de qualquer estratégia de forma exitosa.
Desenvolver a Amazônia passa por dirimir uma série de conflitos de interesse,
necessitam da elaboração de políticas públicas adequadas que valorizem a
Amazônia como a grande fronteira do capital natural. Este processo precisa repensar
o modelo agrícola adotado no país, culturalmente o homem da floresta já possui uma
serie de conhecimentos que conciliados com modernas ferramentas podem ser a
inovação tecnológica que precisamos para produzir alimentos na floresta. No
entanto, necessitamos desenvolver outras matrizes econômicas, com destaque a
exploração de recursos florestais não madeireiros, bem como a utilização mais
racional dos ativos ambientais disponíveis. Portanto, possuímos os meios
necessários para reverter a trágica realidade da população que reside em uma das
regiões mais ricas do planeta, e em contrapartida é a população mais vulnerável do
país.
3 - Sustentabilidade e sua aplicação na sociedade moderna.
A polêmica reside no fato do termo Sustentabilidade nas últimas décadas vir
sendo usada como modismo, socialmente aceitável uma vez que transmite algum
grau de responsabilidade com o planeta e o meio ambiente a alguma atividade ou
empreendimento.
O termo que apareceu pela primeira vez no relatório da reunião de Estocolmo,
desenvolvido pela primeira ministra norueguesa Harlen Brundtland, iniciava ali um
intenso debate sobre seu significado e os desdobramentos como alternativa para
qualificar o desenvolvimento responsável, exprimindo a possibilidade e a esperança
de que a humanidade poderá sim se relacionar com a biosfera de modo a evitar os
colapsos profetizados nos anos anteriores Nascimento (2012).
Deste momento em diante a ideia de sustentabilidade ganha corpo e
expressão política na adjetivação do termo desenvolvimento, uma resposta aos
medos de colapso ambiental plantados no seio da sociedade desde os experimentos
nucleares e os impactos ocasionados a povos além das fronteiras políticas, passava-
se à compreensão que o planeta é um sistema único e integrado, portanto os reflexos
e impactos das ações antrópicas não passariam impunes, nem tampouco atingiria
apenas seus causadores.
Presenciamos nesta história a evolução do conceito que deixou de se
concentrar apenas em aspectos ambientais e migrou para aspectos econômicos e
depois sociais, no entanto a próximo desafio é inserir outras perspectivas no debate
como os aspectos tecnológicos e culturais, uma vez que a tríade estabelecida não
responde satisfatoriamente as demandas modernas da sociedade.`
No decorrer deste aprendizado se desenvolveram três prováveis caminhos,
um caminho tecnológico, um caminho cultural e a terceira via, a mais pessimista que
seria a não resposta, esta a menos improvável, tendo em vista que a espécie
humana quando posta a beira do precipício é capaz de feitos inimagináveis. No
entanto é necessário deixar claro que em um cenário tao diverso e complexo a
resposta não seria única e universal, precisamos sim experimentar diversas
possibilidade e ir adequando as melhores práticas a cada realidade Otrom (2012).
4 - Um desenvolvimento sustentável é possível? Quais os caminhos?
A agenda internacional tenta alinhar suas estratégias em torno da promoção
do desenvolvimento sustentável, no entanto um relevante desafio consiste na
dificuldade de integrar ações isoladas dos diversos players sociais em uma coalizão
que possa ser chamada de estratégia. Este obstáculo não se restringe à Amazônia,
seus desdobramentos seus desdobramentos se fazem presentes nos quatro cantos
do planeta.
Regionalmente a desigualdade no acesso à educação, à moradia, a
condições urbanas dignas, à justiça e à segurança – necessidades expressas na
base da pirâmide das necessidades de Maslov, se refletem na dificuldade de adesão
massiva dos players sociais, o caráter econômico em virtude disso sobrepõe-se as
necessidades ambientais e culturais como mais prementes, como alternativa
prevalece entre os agentes econômicos a idéia central de que a produção de
commodities (fundamentalmente carne, soja e madeira de baixa qualidade), minérios
e energia é a vocação decisiva da região, o absurdo é constatar que a Amazônia
dispute no mundo por suas commodities e não por aquilo que lhe é único a riqueza
de sua biodiversidade Widmer (2010).
A força deste pensamento se reflete nos constantes ataques aos mecanismos
de preservação ambiental, nos mais diferentes seguimentos da sociedade. Em
virtude disso, concentra-se energia em disputas ideológicas em detrimento ao
verdadeiro debate que deveria está sendo estabelecido, vale notar que uma reserva
extrativista, por exemplo, é um território em que a produção de soja não pode
avançar, mas onde os potenciais de uso, com base em produtos não madeireiros da
floresta, são extraordinários. Além dos produtos, os serviços ambientais das florestas
podem ser uma fonte de riqueza muito mais consistente do que as modalidades até
aqui que predominam em seu uso e que, na maior parte das vezes, conduzem à sua
destruição, a existência de promissores mercados voltados à valorização dos
serviços ecossistêmicos prestados pelas florestas: conservação da biodiversidade,
seqüestro de carbono, proteção das bacias hidrográficas e exploração das belezas
naturais Abramovay (2010). Infelizmente isso ocorre no vácuo, pois as políticas
públicas não cumprem o papel decisivo de antecipar a estratégia do uso sustentável
da biodiversidade, no entanto, certamente reside aí uma grande oportunidade.
5 - Qual o papel da agroecologia na sustentabilidade de agroecossistemas?
Quando se incluem os custos ambientais e sociais em um cálculo de
rentabilidade agrícola, as práticas agroecológicas se mostram mais competitivas que
as práticas convencionais Caporal (2006), esta afirmativa enche de esperança que
estamos no caminho da produtividade associada à sustentabilidade, no entanto, sair
de um estado de projeção utópica à uma concreta mudança de realidade é um
incerto e tortuoso caminho que não temos mas a opção de postergar.
As regras estabelecidas estão mais claras do que nunca: Redução da
pobreza; Conservação e recuperação de recursos naturais (solo, água,
biodiversidade, etc...); Segurança e a soberania alimentar em nível local e regional;
Empoderar as comunidades rurais para que participem e decidam sobre os
processos de desenvolvimento; Alianças institucionais que facilitem os processos
participativos e o estabelecimento de políticas públicas (agrícolas e agrárias) que
favoreçam o desenvolvimento sustentável, assim como os mercados locais e
regionais. No entanto equalizar estas diferentes demandas é o desafio a ser
superado.
A agroecologia figura neste processo de forma a colaborar com seu
pensamento integrativo na perspectiva que em seu processo cognitivo tenta alinhar
na construção de suas soluções a dimensão ecológica, técnico agronômica,
socioeconômica, cultural e a dimensão sócio-política. Estas dimensões não são
isoladas. Na realidade concreta elas se entrecruzam, influem uma à outra, de modo
que estudá-las, entendê-las e propor alternativas supõe, necessariamente, uma
abordagem inter, multi e transdisciplinar Caporal (2009).
A perspectiva que no médio e longo prazo esta forma de pensar estabeleçam
padrões de produção e consumo menos agressivos, nos diversos aspectos sociais
e ambientais. Pretende-se estabelecer uma mudança cultural que deixe claro que
usufruir é mais importante que consumir, e que o seu direito termina onde inicia o
direito do próximo. Neste processo de construção todos precisam ter a oportunidade
de ofertar sua contribuição. Só desta forma pode-se construir uma sociedade mais
igualitária em condições e justa em oportunidades.
Você também pode gostar
- Geopolitica Na Virada Do III Milenio PDFDocumento16 páginasGeopolitica Na Virada Do III Milenio PDFBruno ImbroisiAinda não há avaliações
- Serviços Ecossistêmicos e Planejamento Urbano: A Natureza a Favor do Desenvolvimento Sustentável das CidadesNo EverandServiços Ecossistêmicos e Planejamento Urbano: A Natureza a Favor do Desenvolvimento Sustentável das CidadesAinda não há avaliações
- Cartilha Fitoterapia AnimalDocumento44 páginasCartilha Fitoterapia AnimalDiegoPagungAmbrosiniAinda não há avaliações
- APOSTILA PROT. AMBIENTALmod. I - ATUALIZADA EM DEZ.07Documento40 páginasAPOSTILA PROT. AMBIENTALmod. I - ATUALIZADA EM DEZ.07martinsssaAinda não há avaliações
- Agricultura Familiar Sustentavel - ConceitosDocumento111 páginasAgricultura Familiar Sustentavel - ConceitosDouglas Dias Costa Rolim100% (1)
- Agroecologia Altieri Portugues PDFDocumento120 páginasAgroecologia Altieri Portugues PDFLuana Lavagnoli50% (2)
- Desenvolvimento Territorial Rural No Brasil Conceitos e AplicaçãoDocumento9 páginasDesenvolvimento Territorial Rural No Brasil Conceitos e Aplicaçãogabriel Emanuel Da Silva PenaAinda não há avaliações
- Andrielly Soares FerreiraDocumento12 páginasAndrielly Soares FerreiraAmandaAinda não há avaliações
- DownloadDocumento20 páginasDownloadMelissaAinda não há avaliações
- Isabela Oliveira Santos - Segunda Prova Sociologia e Ética 1º Sem 2021Documento4 páginasIsabela Oliveira Santos - Segunda Prova Sociologia e Ética 1º Sem 2021Ana Júlia Monteiro Da SilvaAinda não há avaliações
- Processo de Urbanização e Industrialização Da Sociedade e Seus Custos e Impactos Sociais e AmbientaisDocumento24 páginasProcesso de Urbanização e Industrialização Da Sociedade e Seus Custos e Impactos Sociais e AmbientaisChel SouzaAinda não há avaliações
- Tese 12Documento268 páginasTese 12Lucas PauliAinda não há avaliações
- Engenheiro ambiental e sanitarista: da competência técnica ao compromisso éticoNo EverandEngenheiro ambiental e sanitarista: da competência técnica ao compromisso éticoAinda não há avaliações
- Eixo VIIDocumento11 páginasEixo VIIGenilson SantanaAinda não há avaliações
- Meio Ambiente e SustentabilidadeDocumento13 páginasMeio Ambiente e SustentabilidadeANDI Agencia de Noticias do Direito da Infancia100% (2)
- A Extensão Rural No Processo de Transformação Da Agricultura e Na Busca de Alternativas para o Desenvolvimento RuralDocumento20 páginasA Extensão Rural No Processo de Transformação Da Agricultura e Na Busca de Alternativas para o Desenvolvimento RuralCleytonAinda não há avaliações
- Geografia e Planejamento2Documento5 páginasGeografia e Planejamento2Sansumg MTAinda não há avaliações
- Agroecologia e Transição AgroecológicaDocumento13 páginasAgroecologia e Transição AgroecológicaLarissa Kailane Coitinho de AlmeidaAinda não há avaliações
- MAGNOLI - Ambiente Espaço PaisagemDocumento8 páginasMAGNOLI - Ambiente Espaço PaisagemLívia LeoneAinda não há avaliações
- ZHOURI & LASCHEFSKI - Conflitos AmbientaisDocumento13 páginasZHOURI & LASCHEFSKI - Conflitos AmbientaisLígia FilgueirasAinda não há avaliações
- Fichamento Desenvolvimento Sustentável 2Documento7 páginasFichamento Desenvolvimento Sustentável 2Rafael Follmann SantosAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Econômico e Ecologia GlobalDocumento12 páginasDesenvolvimento Econômico e Ecologia GlobalnonnebioAinda não há avaliações
- Imagem 5P SDocumento4 páginasImagem 5P Sdaniebcarvalho2104Ainda não há avaliações
- Agroecologia X Revolução VerdeDocumento5 páginasAgroecologia X Revolução Verdeangelolopes11100% (1)
- LASCHEFSKI Segregação Espacial e Desigualdade Social - Fatores Determinantes Da Insustentabilidade Do Ambiente UrbanoDocumento24 páginasLASCHEFSKI Segregação Espacial e Desigualdade Social - Fatores Determinantes Da Insustentabilidade Do Ambiente Urbanochefi456Ainda não há avaliações
- Racionalidade de Tomada de Decisão para o PlanejamentoDocumento25 páginasRacionalidade de Tomada de Decisão para o PlanejamentoJhorge ConceiçãoAinda não há avaliações
- Marcos Históricos Da Educação AmbientalDocumento10 páginasMarcos Históricos Da Educação AmbientalBrito MecorolaAinda não há avaliações
- Eixo ViiDocumento12 páginasEixo ViiCarlos WellingtonAinda não há avaliações
- Desenvolvimento SustentávelDocumento8 páginasDesenvolvimento SustentávelHyago SantanaAinda não há avaliações
- A Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelDocumento54 páginasA Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelVANIA LOPES RIOS SOUSAAinda não há avaliações
- Curriculo Disciplina AmbientalDocumento17 páginasCurriculo Disciplina AmbientalWaslan SaboiaAinda não há avaliações
- 1147 Aula 8 - Pedro Jacobi - Complexo Desafio Da SustentabilidadeDocumento9 páginas1147 Aula 8 - Pedro Jacobi - Complexo Desafio Da SustentabilidadeCarlos Fernando OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo - Livro Educar para A Sustentabilidade - OrganizedDocumento5 páginasResumo - Livro Educar para A Sustentabilidade - OrganizedMariana SachaAinda não há avaliações
- Mercosul Sob A Óptica Do Desenvolvimento SustentávelDocumento13 páginasMercosul Sob A Óptica Do Desenvolvimento SustentávelEliezer JustoAinda não há avaliações
- A Relação Sociedade - Natureza e As Dinâmicas Das Paisagens TerrestresDocumento10 páginasA Relação Sociedade - Natureza e As Dinâmicas Das Paisagens TerrestresMário JúniorAinda não há avaliações
- Zhouri e Laschefski Introducao Desenvolvimento e Conflitos AmbientaisDocumento22 páginasZhouri e Laschefski Introducao Desenvolvimento e Conflitos AmbientaisAna Clara VianaAinda não há avaliações
- TRÊS FASES RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Do Reducionismo À Valorização Da CulturaDocumento6 páginasTRÊS FASES RUMO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL Do Reducionismo À Valorização Da CulturaRafael RochaAinda não há avaliações
- Educacao Ambiental e SustentabilidadeDocumento78 páginasEducacao Ambiental e SustentabilidadeRaissa SandesAinda não há avaliações
- Resenha CríticaDocumento6 páginasResenha Críticamatheusnery0509Ainda não há avaliações
- Trabalho ProntoDocumento13 páginasTrabalho ProntoRonayra RodriguesAinda não há avaliações
- Artigo Milton e Angotti C&E-2006-110Documento13 páginasArtigo Milton e Angotti C&E-2006-110Wotan D'UtraAinda não há avaliações
- Gilberto CamaraDocumento6 páginasGilberto CamaracynaraaletsAinda não há avaliações
- LEITE. A Reforma Agrária Como Estratégia de Desenvolvimento PDFDocumento19 páginasLEITE. A Reforma Agrária Como Estratégia de Desenvolvimento PDFTamara Dos AnjosAinda não há avaliações
- Nota de Aula 3 - .ERU 451Documento12 páginasNota de Aula 3 - .ERU 451Marcelo RomarcoAinda não há avaliações
- Oliveira, Gazolla e Schneider (2011) - Novidades e DRDocumento33 páginasOliveira, Gazolla e Schneider (2011) - Novidades e DRFabiano EscherAinda não há avaliações
- Amazônia: Desafio Brasileiro Do Século XXIDocumento16 páginasAmazônia: Desafio Brasileiro Do Século XXIANDI Agencia de Noticias do Direito da InfanciaAinda não há avaliações
- NORDER Agroecologia Polissemia Pluralismo Controversias PDFDocumento20 páginasNORDER Agroecologia Polissemia Pluralismo Controversias PDFUlisses Pereira de MelloAinda não há avaliações
- Agroecologia: Polissemia, Pluralismo e Controvérsias PDFDocumento20 páginasAgroecologia: Polissemia, Pluralismo e Controvérsias PDFSamuel SantosAinda não há avaliações
- O colapso dos ecossistemas no Brasil: Uma perspectiva históricaNo EverandO colapso dos ecossistemas no Brasil: Uma perspectiva históricaAinda não há avaliações
- Uma Revisão Teórica Acerca Do Desenvolvimento Sustentável eDocumento19 páginasUma Revisão Teórica Acerca Do Desenvolvimento Sustentável eeliezer_faciagra6115Ainda não há avaliações
- A sustentabilidade para o desenvolvimento econômico territorial em todas suas interfacesNo EverandA sustentabilidade para o desenvolvimento econômico territorial em todas suas interfacesAinda não há avaliações
- IMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL - Celso Franca PDFDocumento18 páginasIMPACTOS DA GLOBALIZAÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL - Celso Franca PDFPedro RaimundoAinda não há avaliações
- Npe 40 - Site 1Documento11 páginasNpe 40 - Site 1Elielson SilvaAinda não há avaliações
- Planejamento Ambiental e Desenvolvimento SustentávelDocumento37 páginasPlanejamento Ambiental e Desenvolvimento SustentáveltiagoAinda não há avaliações
- A Crise Ambiental Na Sociedade de Risco - Sidney GuerraDocumento39 páginasA Crise Ambiental Na Sociedade de Risco - Sidney GuerraLucas PiresAinda não há avaliações
- 1.LEFF, Enrique - Ecologia, Capital e CulturaDocumento9 páginas1.LEFF, Enrique - Ecologia, Capital e CulturaIsabela BastosAinda não há avaliações
- Multiplos Olhares Uma Questão - Lorena FleuryDocumento13 páginasMultiplos Olhares Uma Questão - Lorena FleuryGustavo AyresAinda não há avaliações
- Microsoft Word - DO-2015 - Sandro OitavenDocumento13 páginasMicrosoft Word - DO-2015 - Sandro OitavenFlávia GubertAinda não há avaliações
- Palestra 16Documento11 páginasPalestra 16Ana Clara Reis GonçalvesAinda não há avaliações
- Dinâmicas Territoriais e Impactos Socioambientais Na AmazôniaDocumento12 páginasDinâmicas Territoriais e Impactos Socioambientais Na AmazôniaNayara RodriguesAinda não há avaliações
- Meio Ambiente e Sustentabilidade - Uma Relação Necessária para Se Viver Bem em Sociedade - Jus - Com.br - Jus NavigandiDocumento9 páginasMeio Ambiente e Sustentabilidade - Uma Relação Necessária para Se Viver Bem em Sociedade - Jus - Com.br - Jus NavigandiraissaAinda não há avaliações
- Bortolozzi - Diagnóstico Da Educação AmbientalDocumento28 páginasBortolozzi - Diagnóstico Da Educação AmbientalGilson Xavier de AzevedoAinda não há avaliações
- Ambiente Alimentar, Direito À Cidade e Direito Humano À Alimentação AdequadaDocumento19 páginasAmbiente Alimentar, Direito À Cidade e Direito Humano À Alimentação AdequadaBrena Barreto BarbosaAinda não há avaliações
- Frutas Da Caatinga PDFDocumento52 páginasFrutas Da Caatinga PDFElder Angelo Ginú da SilvaAinda não há avaliações
- UFSC Volume1Documento339 páginasUFSC Volume1Natalia da Silva GalvaoAinda não há avaliações
- Horta MandalaDocumento37 páginasHorta Mandalaarlindocravid2011Ainda não há avaliações
- Guide Portugais PDFDocumento188 páginasGuide Portugais PDFRoberto Missiatto FilhoAinda não há avaliações
- Universidade de Brasília - Unb Instituto de Ciências Humanas - Ih Departamento de Serviço Social Programa de Pós Graduação em Política SocialDocumento266 páginasUniversidade de Brasília - Unb Instituto de Ciências Humanas - Ih Departamento de Serviço Social Programa de Pós Graduação em Política SocialMyllena CristinaAinda não há avaliações
- Semiárido - Temas em Debates - FinalizadoDocumento121 páginasSemiárido - Temas em Debates - FinalizadovalmarialemosAinda não há avaliações
- Mestres Do Agroextrativismo No Mearim - Volume 20Documento64 páginasMestres Do Agroextrativismo No Mearim - Volume 20roberto porroAinda não há avaliações
- Cartilha Sociobiodiversidade Web 1 PDFDocumento64 páginasCartilha Sociobiodiversidade Web 1 PDFMaria Do Socorro ReisAinda não há avaliações
- Altieri e Toledo (2011)Documento4 páginasAltieri e Toledo (2011)HeloBrenhaAinda não há avaliações
- Eduardo Firak CordeiroDocumento118 páginasEduardo Firak CordeiroNicole FariasAinda não há avaliações
- Pesquisa de Pós-DoutoradoDocumento80 páginasPesquisa de Pós-Doutoradox4nd1Ainda não há avaliações
- Plano de Aula Capitalismo e SustentabilidadeDocumento33 páginasPlano de Aula Capitalismo e SustentabilidadeFelipe OliveiraAinda não há avaliações
- 29 PPT PDFDocumento30 páginas29 PPT PDFJoão Brasileiro100% (1)
- Dicionário de Geografia Geral - PDF ProtegidoDocumento212 páginasDicionário de Geografia Geral - PDF ProtegidoCarlos Letras100% (2)
- Relato de ExperiênciaDocumento16 páginasRelato de ExperiênciaFernando HaxAinda não há avaliações
- 1 - CadernodeCienciaPesquisaeInovaon.1v.12018Documento256 páginas1 - CadernodeCienciaPesquisaeInovaon.1v.12018Andréia AnschauAinda não há avaliações
- Edital Complementar - PPCIAM - 2024.1Documento16 páginasEdital Complementar - PPCIAM - 2024.1Aila CarolineAinda não há avaliações
- Aspectos Conceituais Sobre A AgroecologiaDocumento3 páginasAspectos Conceituais Sobre A Agroecologiamilton_mauadcAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Conservação Do Solo e ÁguaDocumento4 páginasPlano de Ensino Conservação Do Solo e ÁguaJoão Paulo Bestete de OliveiraAinda não há avaliações
- Agricultura Familiar No Piauí: Uma Leitura A Partir Do Censo Agropecuário 2017Documento22 páginasAgricultura Familiar No Piauí: Uma Leitura A Partir Do Censo Agropecuário 2017Dione MoraesAinda não há avaliações
- Agroecologia - A Dinâmica Produtiva Da Agricultura SustentávelDocumento120 páginasAgroecologia - A Dinâmica Produtiva Da Agricultura SustentávelArnaldo CorreiaAinda não há avaliações
- A Agricultura Sintrópica de Ernst GötschDocumento104 páginasA Agricultura Sintrópica de Ernst GötschGodinno Godinno100% (1)
- Glossario e Conceitos para Disciplina de Ecologia GeralDocumento14 páginasGlossario e Conceitos para Disciplina de Ecologia GeralkanidiaAinda não há avaliações
- Relação Do Ser Humano Com A NaturezaDocumento2 páginasRelação Do Ser Humano Com A NaturezajulhaoAinda não há avaliações
- 1 Ano A B e C 3 Bimestre Guia APZDODocumento1 página1 Ano A B e C 3 Bimestre Guia APZDOSantos MorilhaAinda não há avaliações
- Cartilha TomateDocumento40 páginasCartilha TomateCiceroFilhoAinda não há avaliações
- Coletanea Sobre Estudos Rurais e GeneroDocumento278 páginasColetanea Sobre Estudos Rurais e Generocarmen52Ainda não há avaliações