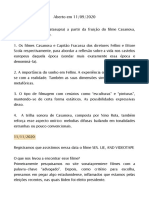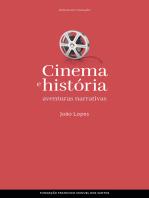Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Paisagem Melancólica
Enviado por
Fábio Nadson Bezerra Mascarenhas0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações3 páginasTítulo original
A PAISAGEM MELANCÓLICA
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
14 visualizações3 páginasA Paisagem Melancólica
Enviado por
Fábio Nadson Bezerra MascarenhasDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 3
A Paisagem Melancólica
O policial (William Petersen) adentra o espaço particular do psicopata (Brian
Cox): uma cela com paredes brancas, grades brancas, uniforme branco. Mesmo
o tom da voz de Cox é de um controle que parece amplificar o tom asséptico ao
seu redor, que a câmara vai aos poucos catalogando com fria precisão. O dialogo
se torna agonizante, e vai aos poucos se apossando da imagem até a explosão
do policial que, num rompante, abandona o espaço e corre pelos corredores do
hospital psiquiátrico onde, numa alternância de planos gerais e subjetivos,
vemos uma explosão de branco e vidro. Esta é uma das sequências principais
de Dragão Vermelho (86), de Michael Mann, e está em completo contraste com
os posteriores filmes de Hannibal Lecter com Anthony Hopkins. É uma cena
inquietante de horror estilizado. Quantos outros cineastas considerariam usar a
cor branca como uma arma estética apontada contra o espectador?
Dragão Vermelho é um enervante thriller psicológico, em que até a sequência
final a violência é quase nula, mas onde o horror não deixa de se instalar. Sua
lógica é a do espaço penetrado, do assassino que mata famílias no silêncio da
madrugada. Todos os crimes acontecem antes do filme começar, portanto, o que
existe para significar a violência é o vazio das cenas dos crimes: casas de
famílias de classe média alta deixadas exatamente como o assassino as
abandonou. Aqui se encontram dois dos elementos-chave do cinema de Mann:
primeiro, a ideia de espaço privado que o homem domina e que está sempre
prestes a ser interrompido. Do ladrão James Caan tendo que lidar com as
consequências de se aliar a uma grande organização no excelente longa de
estreia Profissão: Ladrão (81), a Muhammad Ali tendo que abrir mão do seu
cinturão de campeão de boxe ao se recusar a lutar no Vietnã. O homem solitário
está sempre tentando cultivar seu próprio lugar privado e sempre sendo
atropelado pela história.
Ali (01) é, neste sentido, essencial. Um afresco histórico em que cerca de dez
anos de história americana são revistos pelo olhar de Muhammad Ali. Isso é
levado ao limite em sua espetacular abertura: uma montagem de cerca de dez
minutos em que se alternam cenas do biografado treinando, um show de Sam
Cooke, flashbacks particulares e algumas imagens históricas em que se leva ao
limite a ideia de inserir este homem no seu tempo, de filtrar a história por este
olhar particular, que insiste em permanecer no seu ritmo próprio enquanto
tromba sem parar com ela.
O que as cenas de grandes casas desabitadas em Dragão Vermelho também
revelam é justamente esta ideia de espaço vazio tão importante para a estética
de Michael Mann. Todo filme do cineasta, mas em especial os policiais, fazem
uso constante desse recurso. Mann filma as grandes cidades (invariavelmente
Los Angeles) como se filmasse as grandes planícies num faroeste. A área
urbana surge como um grande espaço desolado. O táxi a rodar pelo centro de
Los Angeles em Colateral (04), ou de forma menos direta, a maior parte das
cenas de confrontos dramáticos domésticos em Fogo Contra Fogo (95), que se
desenrolam sempre em apartamentos com grandes janelas que permitem que a
paisagem urbana se instale na imagem. Poucos cineastas põem tanta ênfase na
direção de arte e, especialmente, na escolha de locações como Mann, e
percebemos porque quando a menor discussão entre marido e esposa acabe
sendo totalmente reposicionada pela grande metrópole que a assiste ao fundo.
A cidade é um personagem, concreto, asfalto e vidro poucas vezes se mostram
tão expressivos na tela como em filmes como Profissão: Ladrão e Fogo Contra
Fogo. Em Colateral, o cineasta coloca a dramaturgia em último plano (é o único
dos filmes importantes de Mann que ele não escreveu) em favor de permitir que
ele reimagine a geografia da área central de Los Angeles com a ajuda de
câmeras digitais. Um veículo para Tom Cruise, usado como desculpa para
permitir que o diretor experimente com o suporte e sua cidade. O próprio filme
lança mão da ideia de experimentação de jazz que tem muito mais a ver com
sua lógica de encadeamento de imagens do que a lógica do roteiro funcional,
mas banal, que, a princípio, serviria de base para o filme.
Se Colateral não é um dos melhores filmes de Mann é justamente porque lhe
falta uma certa densidade literária que encontramos em outros trabalhos. A
impressão de que, paralelo a ação principal, existem diversas outras; que mesmo
o menor dos personagens habita um universo próprio, o que se completa no
desejo por autenticidade visto nos filmes (Mann gosta de apontar que Profissão:
Ladrão inclui pontas de legítimos ladrões de joias). Em Fogo Contra Fogo – um
projeto que Mann já acalentava desde antes de sua estreia – em que as três
horas de filme apresentam mais de vinte personagens de importância, temos a
impressão de estarmos diante de um amplo universo com diversas alternativas,
o que com frequência faz com que desejássemos que o filme gaste mais tempo
sobre determinado detalhe, expandisse determinada sequência, etc. É um raro
filme contemporâneo que efetivamente faz valer sua estrutura épica, mesmo
que, a princípio, sua história a respeito das semelhanças entre policiais e ladrões
possa parecer rotineira.
Os policiais de Mann guardam certo parentesco com os policiers franceses,
dirigidos por nomes como Jacques Becker e Jean-Pierre Melville. Seus policiais
e criminosos sempre nos passam a impressão de serem os homens mais
solitários do mundo. Há sempre a impressão de um certo peso, com um clima
existencial que parece existir mais para criar uma atmosfera. É sobretudo um
cinema de profunda melancolia, são filmes entrecortados por um desejo de algo
que parece estar para além da imagem, algo que não se consegue definir. O
excesso de grandes vidraças nas casas e apartamentos dos filmes de Mann
parecem apontar justamente para esta ideia, funcionando como verdadeiras
grades de prisão, quanto mais em relevo podemos por o pano de fundo, mais
estamos desconectados dele. Uma das cenas mais icônicas de Dragão
Vermelho é justamente a imagem de William Petersen pulando sobre uma
parede de vidro. O crítico franceses Jean-Baptiste Thoret descreveu este efeito
como “a síndrome de aquário”: são personagens presos numa ilha igual a um
pequeno aquário a imaginar o oceano, “mas o que vemos para além da nossa
gaiola de vidro parece um outro aquário, maior, mas ainda assim idêntico. Depois
de um tempo, aprendemos a viver com isso. Alguns abandonam qualquer
impulso de sair, enquanto outros, através do cansaço, resignacão ou simples
lucidez, terminam por descer as profundezas, deixando com os demais a tarefa
de viver com os restos” (1).
Ficamos então com um cineasta que trabalha devagar (o novo Miami Vice é só
seu nono longa, apesar de ter começado a filmar em 81), cuja obra permanece
pouco considerada (salvo por O Informante , de 99, nenhum dos seus filmes teve
ótima recepção a época do lançamento), apesar dos filmes individualmente
parecerem cada vez melhor com o passar do tempo. Sobretudo ficamos com um
cineasta que acredita no poder expressivo das imagens. Já que começamos com
Dragão Vermelho, é útil retornar a ele. Alguns anos atrás, quando Brett Ratner o
refilmou, numa grande produção, ele refez algumas cenas quase plano a plano,
só que o clima inquietante, a contemplação de horror, nada disso estava lá.
Pode-se copiar o estilo, mas não se pode copiar a convicção de um grande
cineasta como Michael Mann.
(1) Thoret, Jean Baptiste. Le Aquarium Syndrome in Simulacres no. 3 (Verão
2000). Ed. Rouge Profound
Você também pode gostar
- Passeando Pelo Cinema de Michael MannDocumento3 páginasPasseando Pelo Cinema de Michael MannFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- 2022 12 09 - El Cid - 1Documento2 páginas2022 12 09 - El Cid - 1csh.ruivasconcelosaedm.eduAinda não há avaliações
- Cinética - de Palma, Exilado - Uma Viagem Do OlharDocumento3 páginasCinética - de Palma, Exilado - Uma Viagem Do OlharFernanda VieiraAinda não há avaliações
- Bellour - A Querela Dos Dispositivos PDFDocumento8 páginasBellour - A Querela Dos Dispositivos PDFPedro FreitasAinda não há avaliações
- DunkirkDocumento53 páginasDunkirkTobiasKnight100% (1)
- BergmanoramaDocumento6 páginasBergmanoramaLucas Reis0% (1)
- BIETTE, Jean-Claude - A Borboleta de Griffith 1986Documento6 páginasBIETTE, Jean-Claude - A Borboleta de Griffith 1986Pablo NascimentoAinda não há avaliações
- O cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971No EverandO cinema entre a repressão, a alegoria e o diálogo: 1970-1971Ainda não há avaliações
- Argento Bava FulciDocumento2 páginasArgento Bava FulciAdriano HazeAinda não há avaliações
- Heci 1.3Documento8 páginasHeci 1.3Luisa FrazãoAinda não há avaliações
- Cavalo de GuerraDocumento5 páginasCavalo de GuerraMarco MorettiAinda não há avaliações
- Buster Keaton - O Mundo É Um CircoDocumento137 páginasBuster Keaton - O Mundo É Um CircoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A Dificuldade Do DocumentarioDocumento14 páginasA Dificuldade Do DocumentarioPéricles MendesAinda não há avaliações
- Heci 2.4Documento8 páginasHeci 2.4Luisa FrazãoAinda não há avaliações
- Kammerspiel - Lotte EisnerDocumento17 páginasKammerspiel - Lotte EisnerjornalismorsAinda não há avaliações
- A Mise en scène no cinema: Do clássico ao cinema de fluxoNo EverandA Mise en scène no cinema: Do clássico ao cinema de fluxoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- BatmanDocumento3 páginasBatmanPlanejamento MetzAinda não há avaliações
- Sombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaNo EverandSombras & Sons: Recortes sobre cinema e música contemporâneaAinda não há avaliações
- A Escola de Cinema de Nova YorkDocumento5 páginasA Escola de Cinema de Nova YorkLuciana CristinaAinda não há avaliações
- Cinética - A Sombra de Uma DúvidaDocumento8 páginasCinética - A Sombra de Uma DúvidaFernanda VieiraAinda não há avaliações
- Cinemateca Portuguesa 0307Documento20 páginasCinemateca Portuguesa 0307kustad33Ainda não há avaliações
- FICHA DE TRABALHO - Leitura e GramáticaDocumento2 páginasFICHA DE TRABALHO - Leitura e GramáticaSusana Araújo0% (1)
- 1 PBDocumento12 páginas1 PBAndré FoglianoAinda não há avaliações
- História Do CinemaDocumento34 páginasHistória Do CinemaBEATRIZ RIBEIRO BROGIOAinda não há avaliações
- Cidadão KaneDocumento4 páginasCidadão KaneDavid MatosAinda não há avaliações
- Texto 02Documento6 páginasTexto 02Doris NascimentoAinda não há avaliações
- Heci 3.3Documento6 páginasHeci 3.3Luisa FrazãoAinda não há avaliações
- Revista Rubedo #11 2001Documento56 páginasRevista Rubedo #11 2001KathiaMarcelaDonansanAinda não há avaliações
- Slide CinemaDocumento13 páginasSlide CinemaVitoria GabrielaAinda não há avaliações
- Análise Lucas BuenoDocumento5 páginasAnálise Lucas Buenolucasbuenofm2Ainda não há avaliações
- A TrocaDocumento4 páginasA TrocaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- O Corpo IngloriosoDocumento18 páginasO Corpo IngloriosoFernandoMachadoSilvaAinda não há avaliações
- 38419-Texto Do Artigo-107156-1-10-20180722Documento10 páginas38419-Texto Do Artigo-107156-1-10-20180722Miguel KamirangAinda não há avaliações
- 05 IUGOSLAVO DE NASCIMENTO, CIGANO POR PROFISSÃO - Eduardo ValenteDocumento4 páginas05 IUGOSLAVO DE NASCIMENTO, CIGANO POR PROFISSÃO - Eduardo ValentejazzciganoAinda não há avaliações
- Caderno de CinemaDocumento15 páginasCaderno de CinemamiqueiasAinda não há avaliações
- A Noiva CadaverDocumento3 páginasA Noiva CadaverJanete Doro100% (2)
- The Kid - ChaplinDocumento10 páginasThe Kid - ChaplinSabrina RosaAinda não há avaliações
- Cenografia No CinemaDocumento21 páginasCenografia No CinemaCarolina de SáAinda não há avaliações
- 2 TromaDocumento4 páginas2 TromaAntoine DebujonAinda não há avaliações
- Crítica Pobres Criaturas - Plano CríticoDocumento8 páginasCrítica Pobres Criaturas - Plano CríticoDavid LeãoAinda não há avaliações
- Sunset Boulevard - Filme NoirDocumento7 páginasSunset Boulevard - Filme NoirRafaAinda não há avaliações
- A Análise Do Filme MetropolisDocumento5 páginasA Análise Do Filme MetropolisgiovannadonegasilvaAinda não há avaliações
- A Juventude de Jean Renoir - RohmerDocumento8 páginasA Juventude de Jean Renoir - RohmerjcbezerraAinda não há avaliações
- Novos CinemaDocumento34 páginasNovos CinemaMafalda MoreiraAinda não há avaliações
- Breve Histórico Das Concepções Da Montagem No Cinema", de Ruy GardnierDocumento3 páginasBreve Histórico Das Concepções Da Montagem No Cinema", de Ruy GardnierRaquel de SouzaAinda não há avaliações
- 12 Anos de EscravidãoDocumento2 páginas12 Anos de EscravidãoJoão Vital PAinda não há avaliações
- O Homossexual No Cinema - o Dilema Da RepresentaçãoDocumento12 páginasO Homossexual No Cinema - o Dilema Da RepresentaçãoRafael SandimAinda não há avaliações
- Máscaras Do Pavor (Etc.) (Z-Library)Documento186 páginasMáscaras Do Pavor (Etc.) (Z-Library)Deivson VargasAinda não há avaliações
- Revista PrismaDocumento25 páginasRevista PrismaBeatriz LimaAinda não há avaliações
- Godard - Histórias-Do-Cinema-Godard-2022 - Annas-Archive - Libgenrs-Nf-3281991Documento174 páginasGodard - Histórias-Do-Cinema-Godard-2022 - Annas-Archive - Libgenrs-Nf-3281991Demétrio Rocha Pereira100% (1)
- Da Abjeção - Jacques RivetteDocumento2 páginasDa Abjeção - Jacques RivetteCalac100% (1)
- Caderno de Imersão - Tempos ModernosDocumento14 páginasCaderno de Imersão - Tempos ModernosEduardo NataliAinda não há avaliações
- Literatura, Cartum e CinemaDocumento32 páginasLiteratura, Cartum e CinemaPRISCILA GUIMARAES PINTOAinda não há avaliações
- Os Padrões de Sepultamento Do Sítio Arqueológico Lapa Do Santo PDFDocumento34 páginasOs Padrões de Sepultamento Do Sítio Arqueológico Lapa Do Santo PDFFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Direita e Esquerda São Artifícios RetóricosDocumento3 páginasDireita e Esquerda São Artifícios RetóricosFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Em Defesa Da Publicidade InfantilDocumento7 páginasEm Defesa Da Publicidade InfantilFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Em Vez de Culpar A DesigualdadeDocumento2 páginasEm Vez de Culpar A DesigualdadeFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A Trajetória Humana PDFDocumento25 páginasA Trajetória Humana PDFFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Conflito e Cooperacao Na Evolucao Humana PDFDocumento14 páginasConflito e Cooperacao Na Evolucao Humana PDFFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Da Fama de Horácio Entre Os AntigosDocumento8 páginasDa Fama de Horácio Entre Os AntigosFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- O Novo Romance HistóricoDocumento12 páginasO Novo Romance HistóricoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Conflito e Cooperacao Na Evolucao Humana PDFDocumento14 páginasConflito e Cooperacao Na Evolucao Humana PDFFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Catarse Na Tragédia GregaDocumento8 páginasCatarse Na Tragédia GregaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Banquete de PlatãoDocumento16 páginasBanquete de PlatãoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A Conquista Da HonraDocumento3 páginasA Conquista Da HonraFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Ética, Poética, Tragédia, Mimesis em AristótelesDocumento9 páginasÉtica, Poética, Tragédia, Mimesis em AristótelesFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Eu Não Sou Um EnganoDocumento4 páginasEu Não Sou Um EnganoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Cartas de Iwo JimaDocumento3 páginasCartas de Iwo JimaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A Revolução Será TelevisionadaDocumento3 páginasA Revolução Será TelevisionadaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Adros Do TempoDocumento4 páginasAdros Do TempoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Um Cineasta Do DesencantoDocumento2 páginasUm Cineasta Do DesencantoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Mann em DiscussãoDocumento6 páginasMann em DiscussãoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A VilaDocumento5 páginasA VilaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A Conquista Do AfetoDocumento5 páginasA Conquista Do AfetoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Além Da VidaDocumento2 páginasAlém Da VidaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- A TrocaDocumento4 páginasA TrocaFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Buster Keaton - O Mundo É Um CircoDocumento137 páginasBuster Keaton - O Mundo É Um CircoFábio Nadson Bezerra MascarenhasAinda não há avaliações
- Apostila para Oficina Experimetnal de Cianotipia - .CompressedDocumento18 páginasApostila para Oficina Experimetnal de Cianotipia - .Compressedleonanb3422100% (1)
- MEMO Grupo Unitis 2014Documento181 páginasMEMO Grupo Unitis 2014Tchitueno Honore100% (2)
- 13 BerbequinsDocumento4 páginas13 Berbequinsalienmaster999Ainda não há avaliações
- Grafismo InfantilDocumento16 páginasGrafismo InfantilNarudere Q100% (1)
- Roberto Correa Dos Santos A Pós Filosofia de CLDocumento114 páginasRoberto Correa Dos Santos A Pós Filosofia de CLElvio CotrimAinda não há avaliações
- Produção Textual Individual Ritmica e DançaDocumento4 páginasProdução Textual Individual Ritmica e Dançajosue_ellorepAinda não há avaliações
- Papai Noel by Mayara KubotaDocumento9 páginasPapai Noel by Mayara KubotaCarola Andrea Orellana SilvaAinda não há avaliações
- Cover Baixo Entrevista - HermetoDocumento9 páginasCover Baixo Entrevista - Hermetozimby12Ainda não há avaliações
- Perspectiva - LUIS CANOTILHO - (Professor Coordenador)Documento155 páginasPerspectiva - LUIS CANOTILHO - (Professor Coordenador)hyslekenAinda não há avaliações
- Nas Quebrada S Dav OzDocumento215 páginasNas Quebrada S Dav OzriobaldozAinda não há avaliações
- Artes AtividadesDocumento20 páginasArtes AtividadesF1rmino PH100% (1)
- Amasadora NuevaDocumento20 páginasAmasadora NuevaVictorOmarAlvanCortezAinda não há avaliações
- LivrosDocumento1 páginaLivrosmeiryoliveiraAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Dinossauro de Rolo de Papel Higienico - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaComo Fazer Um Dinossauro de Rolo de Papel Higienico - Pesquisa GoogleBianca AguiarAinda não há avaliações
- 4º ANO Avaliação Artes - 1 BimestreDocumento2 páginas4º ANO Avaliação Artes - 1 BimestrefabymatossoaresAinda não há avaliações
- Decalques Com ColaDocumento16 páginasDecalques Com ColaAlexmaur100% (4)
- Interlight Ia0216 - Tabela de Preços - Rev - Geral - Fev-22-Rev00Documento46 páginasInterlight Ia0216 - Tabela de Preços - Rev - Geral - Fev-22-Rev00gerencia operacionalrjAinda não há avaliações
- ReticulaDocumento30 páginasReticulaAderson Dos Santos SampaioAinda não há avaliações
- Apostila Corte CosturaDocumento21 páginasApostila Corte Costuraaninhamvl100% (1)
- Autográfico e AlográficoDocumento7 páginasAutográfico e AlográficoMaryana LopesAinda não há avaliações
- Desenho Arquitetônico 5Documento37 páginasDesenho Arquitetônico 5Renan LimaAinda não há avaliações
- A Voz e o Silêncio em 4 33 de John Cage PDFDocumento6 páginasA Voz e o Silêncio em 4 33 de John Cage PDFlacan5Ainda não há avaliações
- TCC - As Bruxas de GoyaDocumento50 páginasTCC - As Bruxas de GoyaMarcos AraújoAinda não há avaliações
- 034 09 Toyota Corolla Xli 2008 em Diante Dica de Instalacao Alarme KeylessDocumento3 páginas034 09 Toyota Corolla Xli 2008 em Diante Dica de Instalacao Alarme KeylessMarcos Lobato100% (1)
- Música Clássica - ResumoDocumento10 páginasMúsica Clássica - ResumoZiza PadilhaAinda não há avaliações
- Teste Leitura - o Príncipe FelizDocumento2 páginasTeste Leitura - o Príncipe FelizAnonymous TJjUqrAinda não há avaliações
- Literatura Era Medieval e Era ClássicaDocumento20 páginasLiteratura Era Medieval e Era ClássicacanopuscalistoAinda não há avaliações
- America, Americas - Arte e MemóriaDocumento520 páginasAmerica, Americas - Arte e MemóriaJoão Gonçalves100% (1)
- O Coro Dos ContrariosDocumento7 páginasO Coro Dos ContrariosGueri de GueriAinda não há avaliações
- FICHA 3 Elementos Da Linguagem Visual LinhasDocumento4 páginasFICHA 3 Elementos Da Linguagem Visual Linhasfabio SallesAinda não há avaliações