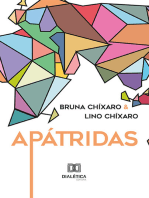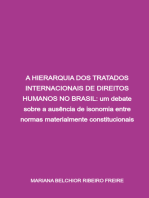Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
03 Bioética em Saúde - Prof. Marcus Nery
Enviado por
Marcus André NeryTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
03 Bioética em Saúde - Prof. Marcus Nery
Enviado por
Marcus André NeryDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Disciplina: Bioética em Saúde
Prof.: Marcus Nery
Direitos humanos e ética das relações
A pergunta central nos parece ser a seguinte: é possível conciliar e garantir, ao mesmo
tempo, o espaço privado da moral individual dos cidadãos, a esfera subjetiva e pluralista das
escolhas de cada um de decidir o que é o bem e o mal e qual tipo de felicidade quer alcançar,
com a existência de uma ética pública, isto é, de um conjunto de valores coletivos
compartilhados por todos e tutelados pelas instituições públicas? Em suma, o politeísmo de
valores típicos da nossa sociedade pode conviver com um ethos coletivo sem ferir as liberdades
subjetivas dos indivíduos? Entre o liberalismo e o fundamentalismo?
Não podemos obviamente responder exaustivamente a esta questão, mas somente
esboçar algumas pistas, reflexões e sugestões. As teses que vamos esboçar são duas:
1) que nenhuma sociedade, e portanto, tampouco a moderna sociedade liberal, pode
sobreviver sem um conjunto de valores éticos coletivos entendidos não somente num sentido
puramente “formal” e procedimental, isto é, como respeito de puras regras de procedimentos
para alcançar o consenso entre os sujeitos, mas também num sentido “material”, isto é, como
compartilhamento de valores e de comportamentos coletivos;
2) que, na nossa sociedade contemporânea, os direitos humanos podem vir a constituir
o conteúdo material desta ética pública ou republicana.
Quanto à primeira tese, podemos constatar que, de fato, apesar da pretensa
neutralidade e formalidade do Estado de direito liberal, o que vigora nas sociedades liberais é a
ética, quando não o fundamentalismo, do mercado, que impõe à sociedade os seus valores
coletivos das mais variadas formas. É a estrutura econômica capitalista que determina, em
última instância, o comportamento coletivo dos indivíduos enquanto produtores e consumidores
de mercadoria. É o capitalismo, no seu processo de reprodução sempre mais ampliada em
escala mundial, que provoca uma mercantilização e uma reificação sempre mais extensa de
todas as relações sociais e constitui um ethos coletivo que permeia todas as dimensões do
indivíduo e que invade, de forma aberta ou sorrateira, a esfera individual, condicionando quando
não determinando os comportamentos individuais através do habitus.
A nossa segunda tese afirma que dos direitos humanos são o conteúdo material de uma
ética pública ou republicana. Habermas propõe uma “legitimação através dos direitos humanos”
de tipo procedimental, partindo do pressuposto de que não é mais possível, na sociedade
politeísta, pluralista e secularizada em que vivemos - pelo menos no Ocidente, onde estes
processos são mais avançados -, encontrar uma ética “material”, ou seja, um consenso ao redor
de alguns valores coletivos compartilhados, mas somente uma ética “formal”, isto é, um
consenso ao redor dos procedimentos necessários para garantir que cada um possa livremente
desenvolver suas atitudes e preferências.
Do nosso ponto de vista, os direitos humanos constituem não somente uma legitimação
“procedimental”, mas também uma ética “material”. Se olharmos os documentos que seguiram à
Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pelas Nações Unidas, em 1948, isto é,
o corpus dos direitos humanos, podemos observar que os direitos humanos não são
simplesmente “direitos” no sentido estritamente jurídico da palavra, mas constituem um conjunto
de “valores” sem os quais a sociedade não pode subsistir. O que significa dizer que a doutrina
dos direitos humanos comporta uma série de dimensões relacionadas entre si.
Declaração universal dos direitos do homem
As ideias e valores dos direitos humanos são traçadas através da história antiga e
crenças religiosas e culturais ao redor do mundo. O primeiro registro de uma declaração dos
direitos humanos foi o Cilindro de Ciro, escrito por Ciro, o grande, rei da Pérsia (atual Irã) por
volta de 539 a.C.. Filósofos europeus da época do iluminismo desenvolveram teorias da lei
natural que influenciaram a adoção de documentos como a Declaração de Direitos de 1689 da
Inglaterra, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 da França e a Carta de
Direitos de 1791 dos Estados Unidos.
Durante a 2ª guerra mundial os aliados adotaram as Quatro Liberdades: liberdade da
palavra e da livre expressão, liberdade de religião, liberdade por necessidades e liberdade de
viver livre do medo. A Carta das Nações Unidas "reafirmou a fé nos direitos humanos, na
dignidade, e nos valores humanos das pessoas" e convocou a todos seus estados-membros a
promover "respeito universal, e observância dos direitos humanos e liberdades fundamentais
para todos sem distinção de raça, sexo, língua, ou religião".
Quando as atrocidades cometidas pela Alemanha nazi tornaram-se aparentes depois da
Segunda Guerra Mundial, o consenso entre a comunidade mundial era que a Carta das Nações
Unidas não tinha definido suficientemente os direitos a que se referia. Uma declaração universal
que especificasse os direitos individuais era necessária para dar efeito aos direitos humanos.
Abalados pela barbárie recente e ensejos de construir um mundo sob novos alicerces
ideológicos, os dirigentes das nações que emergiram como potências no período pós-guerra,
liderados por URSS e Estados Unidos estabeleceram na Conferência de Yalta, na Ucrânia, em
1945, as bases de uma futura "paz" definindo áreas de influência das potências e acertado a
criação de uma Organização multilateral que promova negociações sobre conflitos
internacionais, objetivando evitar guerras e promover a paz e a democracia e fortaleça os
Direitos Humanos.
Embora não seja um documento que representa obrigatoriedade legal, serviu como base
para os dois tratados sobre direitos humanos da ONU, de força legal, o Tratado Internacional
dos Direitos Civis e Políticos, e o Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais. Continua a ser amplamente citado por acadêmicos, advogados e cortes
constitucionais. Especialistas em direito internacional discutem com freqüência quais de seus
artigos representam o direito internacional usual.
A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos
como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações, com o objetivo de que
cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se
esforce, através do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e liberdades,
e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional, por assegurar o seu
reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios
Estados-Membros, quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição.
O canadense John Peters Humphrey foi chamado pelo Secretário Geral das Nações
Unidas para trabalhar no projeto da declaração. Naquela época, Humphrey havia sido recém
indicado como diretor da divisão de direitos humanos dentro do secretariado das Nações
Unidas. A comissão dos direitos humanos, um braço das Nações Unidas, foi constituída para
empreender o trabalho de preparar o que era inicialmente concebido como Carta de Direitos.
A Declaração Universal foi adotada pela Assembleia Geral no dia 10 de dezembro de
1948 com 48 votos a favor, nenhum contra e 08 abstenções (todas do bloco soviético).
Abusos cometidos e consequentes reações da sociedade a esses
abusos, na forma das normatizações que os sucederam
Pesquisas clínicas e científicas envolvendo populações vulneráveis ou especiais
dependem, necessariamente, de mecanismos de inclusão bem-sucedidos para garantir
resultados significativos. Nesse sentido, a inclusão destes grupos pode ser útil ao pesquisador
para garantir que técnicas, drogas ou metodologias clínicas sejam aplicáveis a diferentes
populações. Deve-se ter em mente que os pesquisadores buscam fundamentalmente resultados
generalizáveis, com valores previsíveis e, para isso, dependem de grupos específicos para a
produção desse tipo de resultado em uma experiência clínica.
Essa interação entre pesquisas norteadas por resultados e a inclusão necessária de
participantes de diferentes populações, naturalmente, cria uma tensão entre os dados científicos
obtidos e o tratamento ético apropriado aplicado aos participantes das pesquisas que os
sustentam. A herança traumática dos abusos cometidos pelo nazismo, sob o disfarce de
“pesquisa científica”, permanece como um desafio para os pesquisadores.
Como reflexo das pesquisas nazistas que levaram ao Julgamento de Nurembergue,
ainda hoje, se reconhece que a tensão entre as intenções dos pesquisadores em produzir
conhecimento científico e o cumprimento dos princípios éticos de proteção aos participantes de
pesquisas é um espaço de contínuo risco. Os casos de transgressão ética ocorridos ao longo da
segunda metade do século XX, em que os participantes da pesquisa eram desconsiderados,
tratados injustamente ou mesmo prejudicados em seus interesses, vêm estimulando o
monitoramento contínuo das pesquisas e a elaboração de diretrizes para a proteção dos
participantes na pesquisa.
Nesse contexto, as pessoas em desvantagem ou vulneráveis a danos e riscos,
independente das condições exigidas por determinada pesquisa clínica, devem ser alvo
constante de preocupação ética. Por diferentes razões, estes são participantes já marginalizados
socialmente e, portanto, susceptíveis à exploração.
Geralmente ocupam um lugar de desigualdade nas relações de poder com os demais
atores sociais ou, em alguns casos específicos, apresentam diferentes habilidades cognitivas, o
que os torna menos capazes e autônomos. Este é o caso, por exemplo, de deficientes mentais.
A desigualdade econômica e a desigualdade de gênero, por outro lado, vulnerabiliza os pobres,
as mulheres, em especial as mulheres grávidas, ou os prisioneiros. Esta lista, no entanto,
poderia ser bem mais ampla.
Populações vulneráveis são convidativas para pesquisa justamente em função de sua
vulnerabilidade, uma condição que potencializa o risco de transgressão ética na fase de
levantamento dos dados. Não é de surpreender que nos últimos 70 anos a maior parte dos
casos com repercussão sensacionalista no campo da ética na pesquisa envolvesse pessoas
vulneráveis. Uma das consequências disso é o fato da ética na pesquisa vir sendo construída e
aprimorada de acordo com exemplos das pesquisas clínicas-limite que desenharam a história
moderna.
Experimentos nazistas (1939 - 1945)
A ética na pesquisa moderna somente ganhou expressão a partir dos experimentos
nazistas julgados em Nurembergue, em 1947. Os médicos nazistas realizavam experimentações
absurdas em prisioneiros de campos de concentração com o intuito de promover o estado de
guerra. Estes médicos estavam mergulhados cada vez mais no contexto de permissividade para
a prática de atos extremos que norteou o período da guerra e na recusa total à perspectiva de
derrota de Hitler.
Este contexto de permissividade pautava-se na crença de “superioridade ariana” dos
alemães. Houve casos de os médicos infringirem feridas à bala em prisioneiros, de infecção
deliberada de prisioneiros com tifo e com outras doenças de campos de batalha, de exposição
de prisioneiros a temperaturas muito baixas por períodos prolongados, além de apoiar
abertamente a ideologia nazista quanto à defesa da eliminação de homossexuais, da
esterilização dos judeus e outras populações indesejáveis.
Outros experimentos nazistas incluíam forçar prisioneiros a beber água do mar ou a
respirar ar poluído por longos períodos de tempo, promover novas técnicas de castração e fazer
transplantes de ossos e membros do corpo.
Apesar de quinze médicos nazistas terem sido julgados e sentenciados em
Nurembergue, Joseph Mengele, o mais notável clínico do nazismo alemão, escapou. Posner
oferece um arrepiante testemunho relativo à pesquisa de Mengele sobre as diferenças nas cores
dos olhos entre gêmeos adolescentes ciganos, ilustrando a extensão de sua crueldade:
“...na sala de trabalho perto da sala de dissecação, 14 gêmeos ciganos estavam esperando e
chorando. Dr. Mengele não nos dirigiu uma única palavra e preparou uma seringa de 10
centímetros cúbicos e outra de 15. De uma caixa, Mengele pegou Evipal e, de outra, clorofórmio,
que estava em recipientes de 20 centímetros cúbicos, colocando tudo na mesa de operação.
Depois disso, o primeiro gêmeo foi trazido...uma garota de quatorze anos. Dr. Mengele ordenou
que se despisse a criança e colocasse a cabeça dela na mesa de dissecação. Então, injetou
Evipal intravenoso no braço direito da garota. Depois que ela adormeceu, ele sentiu o ventrículo
esquerdo do coração e injetou dez centímetros cúbicos de clorofórmio. Depois de uma pequena
convulsão, a criança estava morta...dessa maneira todos os 14 adolescentes foram mortos...”.
Mengele, então, removeu os olhos de todos os gêmeos mortos e enviou para Berlim
para a realização de estudos futuros. As revelações acerca das experiências nazistas em
Nurembergue incitaram o começo da análise ética e da vigilância de protocolos de pesquisa
envolvendo participantes humanos, levando à elaboração do Código de Nurembergue, o
primeiro sistema normativo internacional regulador dos padrões de pesquisas clínicas.
Pesquisas com câncer no Hospital Judeu de Doenças Crônicas (1963-1966)
Pesquisas clínicas questionáveis conduzidas pelo médico Chester Southam, em Nova
York, foram primeiramente relatadas em um importante artigo de abordagem ética publicado
pelo médico Henry Beecher, no New England Journal of Medicine. Interessado na resposta
imunorreativa ao câncer, Southam injetava células cancerígenas de fígado, rotineiramente, em
22 pacientes judeus idosos a fim de monitorar a resposta clínica no organismo dessas pessoas,
sem qualquer obtenção de consentimento livre e esclarecido. Aos pacientes foi dito apenas que
iriam “receber algumas células”.
Nenhum benefício terapêutico jamais foi experimentado por esses pacientes – muitos
foram prejudicados e subsequentemente morreram por causa das injeções – até mesmo porque
a pesquisa em si não foi concebida com qualquer finalidade terapêutica.
Pesquisas com hepatite na Escola Estadual Willowbrook (1955-1970)
Determinadas pesquisas conduzidas por Saul Krugman investigaram o efeito da
infecção causada pela hepatite entre crianças deficientes mentais na escola estadual
Willowbrook, localizada em Staten Island nos Estados Unidos. Para tal propósito, Krugman não
tratou as crianças já infectadas com hepatite e deliberadamente infectou outras crianças com o
vírus. Novamente, a dimensão ética dessa pesquisa foi primeiramente questionada por Beecher,
que notou que nenhuma das crianças fora adequadamente informada sobre a natureza da
pesquisa e que nem poderiam ter sido dadas a condição mental do grupo. A pesquisa buscava
rastrear o desenvolvimento da infecção viral e não apresentou nenhum benefício terapêutico às
crianças envolvidas.
O Estudo Tuskegee sobre a sífilis (1932-1972)
Depois dos experimentos dos campos de concentração nazistas, o estudo Tuskegee
sobre a sífilis é, talvez, o exemplo mais conhecido de experimentação humana sem qualquer
proteção ética aos participantes. Financiado pelo Centro para Controle de Doenças e dirigido
inicialmente pelo médico Taliaferro Clark, do Serviço Público Nacional de Saúde, o “Estudo
Tuskegee de Sífilis Não Tratada em Homens Negros” examinou os efeitos da doença em 600
negros, 399 que tinham a doença e 201 que não tinham, na zona rural do estado do Alabama
nos Estados Unidos.
Apesar dos participantes do estudo terem voluntariamente concordado em receber
tratamento para seu “sangue ruim”, termo local usado na época para descrever o sangue das
pessoas que tinham sífilis, assim como anemia e fadiga, nenhum deles foi informado sobre o
verdadeiro propósito do estudo. Cada um dos participantes foi induzido a acreditar que estaria
recebendo o tratamento adequado. O mais grave é que mesmo quando a penicilina foi
descoberta, o tratamento mais eficiente para a sífilis, nenhum deles foi informado deste novo
fato, e sequer lhes foi oferecida a chance de abandonar o estudo. O experimento Tuskegee em
torno da sífilis foi encerrado após a publicação de um artigo de primeira página no New York
Times, de autoria de Jean Heller, descrevendo o estudo e seus efeitos. Estima-se que entre 28 e
100 pessoas morreram por causa desse estudo.
Pesquisas com AZT nos países em desenvolvimento (1997)
Uma pesquisa clínica sobre o HIV realizada na África do Sul e em outros países em
desenvolvimento foi fortemente criticada pelo médico sul-africano Peter Lurie e seu colega
Sydney Wolfe, em um artigo de grande impacto publicado no New England Journal of Medicine,
em 1997. A pesquisa tinha como proposta determinar a eficácia da administração de várias
drogas novas na prevenção contra a transmissão vertical de HIV, na esperança de desenvolver
um protocolo de drogas de menor custo, porém igualmente eficiente. Na época, o tratamento
padrão à base de zidovudina (AZT) usado regularmente em países desenvolvidos,
particularmente nos Estados Unidos e alguns países da Europa, custava aproximadamente US$
1.000, portanto, caro demais para ser usado nos países mais pobres.
A pesquisa estava voltada para a utilização de drogas possíveis de serem introduzidas
nos países em desenvolvimento. Embora a intenção da pesquisa fosse admirável, a metodologia
levantou problemas éticos significativos. Ao invés de comparar a administração das novas
drogas, em casos de comprovação diagnóstica eficiente, com os métodos terapêuticos eficazes
já vigentes, conforme a exigência da época estabelecida pela Declaração de Helsinque, os
estudos estavam comparando a utilização das novas drogas com a administração de placebo.
Isso significava, em termos concretos, que apenas metade das mulheres grávidas participantes
do estudo estava se beneficiando da participação na pesquisa. Não existia nenhum equilíbrio
clínico entre os instrumentos da pesquisa, uma vez que a zidovudina já havia sido aceita como
tratamento de ouro naquela época. O mais grave é que não estava claro sequer se essas
mulheres receberiam algum beneficio potencial no futuro, uma vez que os resultados estavam
sendo imediatamente remetidos para os Estados Unidos. A possibilidade de benefício às
mulheres que recebiam o placebo era apenas sugerida no estudo. Ao final, o governo sul-
africano recusou-se a implementar a forma de tratamento que sustentava a pesquisa.
Como Lurie e Wolfe demonstraram tais estudos controlados por placebo jamais seriam
conduzidos em países desenvolvidos. Pelo menos, a todas as mulheres participantes deveria ter
sido garantido o recebimento do protocolo de tratamento padrão de AZT.
Consequentemente, os estudos controlados por placebo foram acusados de serem
abusivos, de capitalizarem seus resultados à custa da exploração de mulheres pobres de países
do mundo subdesenvolvido. Estas não tiveram acesso a nenhum tratamento alternativo para a
prevenção da transmissão do HIV dado os “padrões locais de atendimento”.
Os pesquisadores provenientes dos países desenvolvidos contra argumentaram que o
trabalho deles só poderia ser realizado de maneira aceitável entre as mulheres pobres, que
tiveram poucas escolhas em relação ao tratamento a ser oferecido e que as participantes seriam
“gratas” por, pelo menos, receberem algum tratamento. Isso significa reconhecer que foi a
vulnerabilidade delas que as converteu em alvos preferenciais da pesquisa. De fato, os estudos
acerca do AZT se justificaram por suas motivações e revelaram o quanto é lamentável que o
padrão de cuidado perinatal atual para mulheres grávidas infectadas com HIV não inclua
nenhuma intervenção profilática contra o vírus em um grande número de países.
Você também pode gostar
- 40 Questões de DH RespondidasDocumento14 páginas40 Questões de DH RespondidasEraldo FerreiraAinda não há avaliações
- 40 Questões de DH RespondidasDocumento12 páginas40 Questões de DH RespondidasEraldo FerreiraAinda não há avaliações
- Módulo 7Documento25 páginasMódulo 7Ana MoraisAinda não há avaliações
- UntitledDocumento17 páginasUntitledJosias CardosoAinda não há avaliações
- Trabalho de Filosofia - Ensaio FilosóficoDocumento3 páginasTrabalho de Filosofia - Ensaio FilosóficoMariana GomesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos: conceitos históricosDocumento7 páginasDireitos Humanos: conceitos históricosAlessandra MonteiroAinda não há avaliações
- Trab Direitos HumanosDocumento13 páginasTrab Direitos HumanosAna Luiza CabralAinda não há avaliações
- MOLL - Jaqueline.2013. Artigo. Direitos Humanos e Educação. Caderno Pedagógico MECDocumento7 páginasMOLL - Jaqueline.2013. Artigo. Direitos Humanos e Educação. Caderno Pedagógico MECFloraAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Jurisdição InternacionalNo EverandDireitos Humanos e Jurisdição InternacionalAinda não há avaliações
- Unidade III - Psicologia e Políticas PúblicasDocumento41 páginasUnidade III - Psicologia e Políticas Públicasgabriel20012021Ainda não há avaliações
- Direitos HumanosDocumento26 páginasDireitos HumanosTurma E2Ainda não há avaliações
- Xadrez à Luz do Sol: Direitos Humanos, Gênero e Etnia em QuestãoNo EverandXadrez à Luz do Sol: Direitos Humanos, Gênero e Etnia em QuestãoAinda não há avaliações
- A origem da Declaração Universal dos Direitos HumanosDocumento10 páginasA origem da Declaração Universal dos Direitos Humanoscarlos4385Ainda não há avaliações
- DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA: A Razão Existencial e A Invenção e Conservação Dos Direitos HumanosDocumento20 páginasDIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA: A Razão Existencial e A Invenção e Conservação Dos Direitos HumanosWendel CostaAinda não há avaliações
- Fundamentos dos Direitos HumanosDocumento13 páginasFundamentos dos Direitos HumanosShelzia Rafael CossaAinda não há avaliações
- Como Trabalhar Sobre Direitos Humanos No Novo Ensino Médio Da Proposta BNCCDocumento7 páginasComo Trabalhar Sobre Direitos Humanos No Novo Ensino Médio Da Proposta BNCCluizharaujoAinda não há avaliações
- Diversidade étnica, conflitos regionais e direitos humanosNo EverandDiversidade étnica, conflitos regionais e direitos humanosAinda não há avaliações
- DIREITOS HUMANOS E O RELATIVISMO CULTURAL 92 A 98Documento7 páginasDIREITOS HUMANOS E O RELATIVISMO CULTURAL 92 A 98elvisjuan260Ainda não há avaliações
- O Direito ao Acesso à Justiça e os Direitos Sociais: uma análise da eficácia da tutela provisória na solução dos conflitos no direito previdenciárioNo EverandO Direito ao Acesso à Justiça e os Direitos Sociais: uma análise da eficácia da tutela provisória na solução dos conflitos no direito previdenciárioAinda não há avaliações
- Ensaio Direitos HumanosDocumento9 páginasEnsaio Direitos HumanosLucas SabinoAinda não há avaliações
- TOSI, Guiseppe - Direitos Humanos Uma Retorica Vazia-InterrogaDocumento13 páginasTOSI, Guiseppe - Direitos Humanos Uma Retorica Vazia-InterrogaCORAJEAinda não há avaliações
- Declaração Universal dos Direitos HumanosDocumento7 páginasDeclaração Universal dos Direitos HumanosIsrael GonçalvesAinda não há avaliações
- Os Direitos Humanos e A GlobalizaçãoDocumento24 páginasOs Direitos Humanos e A GlobalizaçãoVera Casimiro MartinsAinda não há avaliações
- Evolução histórica dos direitos humanosDocumento6 páginasEvolução histórica dos direitos humanosAilton LucasAinda não há avaliações
- Direito e direitos humanos: abordagem histórico-filosófica e conceitualNo EverandDireito e direitos humanos: abordagem histórico-filosófica e conceitualAinda não há avaliações
- Não Discriminação e a Proteção de Minorias no Direito Internacional Pós-ModernoNo EverandNão Discriminação e a Proteção de Minorias no Direito Internacional Pós-ModernoAinda não há avaliações
- Artigo BioeticaDocumento9 páginasArtigo BioeticaKeilaAinda não há avaliações
- 2 - Constitucional e DHDocumento5 páginas2 - Constitucional e DHMarília Armanda BellotAinda não há avaliações
- Juventude transgênera: um contemplar ético-jurídico a partir da utilização de bloqueadores hormonais na puberdadeNo EverandJuventude transgênera: um contemplar ético-jurídico a partir da utilização de bloqueadores hormonais na puberdadeAinda não há avaliações
- Evolução dos Direitos Humanos e sua ImportânciaDocumento419 páginasEvolução dos Direitos Humanos e sua ImportânciaKelly OuriquesAinda não há avaliações
- Constituição 88 e DHDocumento6 páginasConstituição 88 e DHMarco Antonio Floriano RodriguesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e GlobalizaçãoDocumento15 páginasDireitos Humanos e GlobalizaçãoJorge CaetanoAinda não há avaliações
- Direitos humanos e inclusão social na Terapia OcupacionalDocumento11 páginasDireitos humanos e inclusão social na Terapia OcupacionalantonioAinda não há avaliações
- 2527-Article Text-7958-1-10-20140812 PDFDocumento12 páginas2527-Article Text-7958-1-10-20140812 PDFNatháliaMariel Ferreira de SouzaAinda não há avaliações
- Resumo Direitos HumanosDocumento9 páginasResumo Direitos HumanossidneyuftAinda não há avaliações
- Direitos Humanos, Diversidade e TolerânciaDocumento29 páginasDireitos Humanos, Diversidade e TolerânciaPaloma cardoso100% (1)
- CONPEDI - Direitos Humanos - Conceito em Movimento-2.2021Documento18 páginasCONPEDI - Direitos Humanos - Conceito em Movimento-2.2021Andre PiresAinda não há avaliações
- República e Democracia: perspectivas da Filosofia do DireitoNo EverandRepública e Democracia: perspectivas da Filosofia do DireitoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos na Ásia: Diversidade e PerspectivasDocumento20 páginasDireitos Humanos na Ásia: Diversidade e PerspectivasJean NasgueweitzAinda não há avaliações
- Ética, Cidadania e DireitoDocumento3 páginasÉtica, Cidadania e DireitomassiemacieAinda não há avaliações
- Direitos e DeveresDocumento2 páginasDireitos e Deveresja_costasilva100% (1)
- Trabalho de Etica - 064032Documento14 páginasTrabalho de Etica - 064032Aderito Ali AbudoAinda não há avaliações
- Escola Família e ComunidadeDocumento22 páginasEscola Família e ComunidadeClube de Tiro ValleAinda não há avaliações
- Trabalho análogo à escravidão: reconhecimento e fundamentalidadeNo EverandTrabalho análogo à escravidão: reconhecimento e fundamentalidadeAinda não há avaliações
- Educar para as virtudes e o bem comumNo EverandEducar para as virtudes e o bem comumAinda não há avaliações
- Ética, e Direitos HumanosDocumento4 páginasÉtica, e Direitos HumanosVitor PinhoAinda não há avaliações
- Artigo Direitos HumanosDocumento19 páginasArtigo Direitos HumanosAmanda RiosAinda não há avaliações
- Evolução dos Direitos Humanos e CidadaniaDocumento8 páginasEvolução dos Direitos Humanos e CidadaniaAndressa MartinsAinda não há avaliações
- Cultura de Direitos HumanosDocumento1 páginaCultura de Direitos Humanosfrancisco.juniorAinda não há avaliações
- Luta pela dignidade e igualdadeDocumento3 páginasLuta pela dignidade e igualdadeluciano cassimiro roquesAinda não há avaliações
- A Declaração Dos D.H No Seu Sexagésimo Aniversário PDFDocumento26 páginasA Declaração Dos D.H No Seu Sexagésimo Aniversário PDFcrisforoniAinda não há avaliações
- A Criacao Da Declaracao Universal Dos Direitos Humanos 20220513-184043Documento4 páginasA Criacao Da Declaracao Universal Dos Direitos Humanos 20220513-184043Soneca CraftAinda não há avaliações
- A Hierarquia Dos Tratados Internacionais De Direitos Humanos No BrasilNo EverandA Hierarquia Dos Tratados Internacionais De Direitos Humanos No BrasilAinda não há avaliações
- A Proteção Internacional Dos Direitos Humanos e o Direito BrasileiroDocumento7 páginasA Proteção Internacional Dos Direitos Humanos e o Direito BrasileiroIgor CaldeiraAinda não há avaliações
- Direitos Lgbtqia Como Direitos Humanos e Práticas JurídicasDocumento33 páginasDireitos Lgbtqia Como Direitos Humanos e Práticas JurídicasGlauber MMAinda não há avaliações
- 05 Biofísica - Prof. Marcus NeryDocumento17 páginas05 Biofísica - Prof. Marcus NeryMarcus André NeryAinda não há avaliações
- 02 Biofísica - Prof. Marcus NeryDocumento9 páginas02 Biofísica - Prof. Marcus NeryMarcus André NeryAinda não há avaliações
- 03 Biofísica - Prof. Marcus NeryDocumento6 páginas03 Biofísica - Prof. Marcus NeryMarcus André NeryAinda não há avaliações
- 01 BHE - Prof. Marcus NeryDocumento9 páginas01 BHE - Prof. Marcus NeryMarcus André NeryAinda não há avaliações
- Políticas Públicas e Planejamento de Infraestrutura Como Promoção Aos Direitos HumanosDocumento13 páginasPolíticas Públicas e Planejamento de Infraestrutura Como Promoção Aos Direitos Humanoseu.maysilva1995Ainda não há avaliações
- Código Deontológico Do Serviço PolicialDocumento5 páginasCódigo Deontológico Do Serviço PolicialSSnake72Ainda não há avaliações
- Juizados Especiais e a invisibilidade da violência de gêneroDocumento12 páginasJuizados Especiais e a invisibilidade da violência de gêneroThaís SouzaAinda não há avaliações
- Aula 01 PGDFDocumento214 páginasAula 01 PGDFCaio Fábio MartinsAinda não há avaliações
- O dever de pagar tributos como direito fundamentalDocumento25 páginasO dever de pagar tributos como direito fundamentalGalanni Dorado de Oliveira0% (1)
- Processo Seletivo CFOAPM 2016Documento23 páginasProcesso Seletivo CFOAPM 2016fabriciocerqueiraAinda não há avaliações
- A Evolução Do Conceito de CidadaniaDocumento6 páginasA Evolução Do Conceito de CidadaniavanessapiuchiAinda não há avaliações
- Letramento CríticoDocumento9 páginasLetramento CríticoAdriana BragaAinda não há avaliações
- Utopia Samuel MorynDocumento6 páginasUtopia Samuel MorynMargarita Elizabeth Rico AmparánAinda não há avaliações
- Despejos Na Pandemia - EFTA e CDHC PDFDocumento41 páginasDespejos Na Pandemia - EFTA e CDHC PDFMiguel FPRSAinda não há avaliações
- Psicologia Jurídica - Relatório de EstágioDocumento107 páginasPsicologia Jurídica - Relatório de EstágioMarceloAraldiAinda não há avaliações
- Aula 2 Direitos FundamentaisDocumento21 páginasAula 2 Direitos FundamentaisFranciscoTiagoOliveiraAinda não há avaliações
- Bernardo Gonçalves Fernandes - Curso de Direito Constitucional-JusPODIVM (2020)Documento14 páginasBernardo Gonçalves Fernandes - Curso de Direito Constitucional-JusPODIVM (2020)Emilay ChaieneAinda não há avaliações
- Declaração Dos Direitos HumanosDocumento2 páginasDeclaração Dos Direitos HumanosExplicando HashtagsAinda não há avaliações
- I Tomo Parte 2 Perseguicao A Populacao e Ao Movimento NegrosDocumento207 páginasI Tomo Parte 2 Perseguicao A Populacao e Ao Movimento NegrosRose Mara KielelaAinda não há avaliações
- Controlo Externo Da Actividade PolicialDocumento224 páginasControlo Externo Da Actividade PolicialPauloMacedAinda não há avaliações
- Aulas de História e Os Direitos Das Crianças e Dos Adolescentes - Entre Possibilidades e Desafios - Humberto Da Silva MirandaDocumento19 páginasAulas de História e Os Direitos Das Crianças e Dos Adolescentes - Entre Possibilidades e Desafios - Humberto Da Silva MirandaCaio BrasilAinda não há avaliações
- PM04 4ea4b72e95Documento376 páginasPM04 4ea4b72e95Zeca MatosAinda não há avaliações
- O Comportamento Ético Policial e A Importância Do Poder DisciplinarDocumento26 páginasO Comportamento Ético Policial e A Importância Do Poder DisciplinarPaulo EstimadoAinda não há avaliações
- FÉRIAS22Documento3 páginasFÉRIAS22Petrus NegreiroAinda não há avaliações
- Avaliação - Faculeste - Direitos HumanosDocumento3 páginasAvaliação - Faculeste - Direitos HumanosAdvocacia Custódio - Laisy78% (9)
- Cartilha - Ziraldo - Direitos HumanosDocumento19 páginasCartilha - Ziraldo - Direitos HumanosJéssicaAinda não há avaliações
- Conhecimentos Gerais e EspecíficosDocumento9 páginasConhecimentos Gerais e EspecíficosLeila SilvaAinda não há avaliações
- Politica Nacional de Direitos Humanos Franciele RieffelDocumento26 páginasPolitica Nacional de Direitos Humanos Franciele RieffelEmanueli SantiagoAinda não há avaliações
- Trabalho de Introd Ao DtoDocumento2 páginasTrabalho de Introd Ao DtoAndrade GetaoAinda não há avaliações
- Quem ÉDocumento8 páginasQuem ÉLucimar Alves PereiraAinda não há avaliações
- Edital Estágio Defensoria Pública PiauíDocumento17 páginasEdital Estágio Defensoria Pública PiauíA MarcaAinda não há avaliações
- KARAM, Maria Lúcia. de Crimes, Penas e Fantasias.Documento29 páginasKARAM, Maria Lúcia. de Crimes, Penas e Fantasias.Karl MichaelAinda não há avaliações
- Monografia Dignidade Da Pessoa Humana Aplicação Do Princípio Da Dignidade Nas Relações PrivadasDocumento42 páginasMonografia Dignidade Da Pessoa Humana Aplicação Do Princípio Da Dignidade Nas Relações PrivadasZack AraujoAinda não há avaliações
- Noções de Direitos Humanos: Prof Letícia CastroDocumento15 páginasNoções de Direitos Humanos: Prof Letícia CastroJairo JuniorAinda não há avaliações