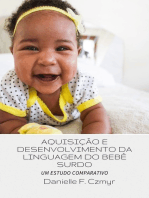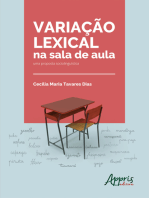Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
LP II - Língua Portuguesa - IFK - ISPC
LP II - Língua Portuguesa - IFK - ISPC
Enviado por
itianethferreira69Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LP II - Língua Portuguesa - IFK - ISPC
LP II - Língua Portuguesa - IFK - ISPC
Enviado por
itianethferreira69Direitos autorais:
Formatos disponíveis
LÍNGUA PORTUGUESA II
Sumários desenvolvidos para o Ensino Universitário
SUMÁRIO
TEMA 1: NOTAS PROPEDÊUTICAS....................................................................................... 2
1.1. Língua oficial, língua materna (língua primeira), língua segunda, língua nacional,
dialecto, falante nativo, protolíngua ............................................................................................ 2
1.2. Monolinguismo, bilinguismo, plurilinguismo ou multilinguismo, política linguística,
interferência linguística ............................................................................................................... 3
1.3. Estatuto do português ....................................................................................................... 4
TEMA 2: LÍNGUA E ESTILO .................................................................................................... 6
2.1. Qualidades essenciais da linguagem..................................................................................... 6
2.2. Vícios de linguagem ............................................................................................................. 6
2.3. Competência linguística e competência comunicativa ......................................................... 8
2.4. Figuras de estilo .................................................................................................................... 8
2.4.1. Figuras de palavras (ou tropos) ...................................................................................... 8
2.4.2. Figuras de construção (ou de sintaxe) .......................................................................... 11
3.4.3. Figuras de pensamento ................................................................................................. 14
TEMA 3: SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA ............................................................................ 16
3.1. Semântica: campo semântico e campo lexical ................................................................... 16
3.2. A pragmática....................................................................................................................... 19
TEMA 4: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA .................................................................................... 21
4.1. Variação diatópica .............................................................................................................. 21
4.2. Variação diastrática ............................................................................................................ 21
4.3. Variação situacional ........................................................................................................... 22
4.4. Variação diacrônica ............................................................................................................ 23
TEMA 5: O DEBATE ................................................................................................................. 24
5.1. Conceito .............................................................................................................................. 24
5.2. Como organizar um debate regrado.................................................................................... 24
5.3. Conectivos ou articuladores textuais .................................................................................. 25
5.4. Construção de um argumento: facto; ideia; opinião e crença ............................................. 29
5.5. Refutação ............................................................................................................................ 30
5.6. Contrarrefutação ................................................................................................................. 30
5.7. A Construção do discurso ................................................................................................... 31
5.7.1. Estruturas do Discurso ................................................................................................. 32
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................................... 35
LÍNGUA PORTUGUESA II
TEMA 1: NOTAS PROPEDÊUTICAS
1.1. Língua oficial, língua materna (língua primeira), língua segunda, língua
nacional, dialecto, falante nativo, protolíngua
A língua oficial - é a “língua” utilizada na escolarização e nos contactos administrativos,
oficiais e internacionais dos elementos de uma sociedade para quem pode ser, ou não, língua
materna.
Quando essa sociedade é constituída por comunidades ou grupos de pessoas com línguas
maternas diferentes, o Estado determina qual a língua (ou línguas) que deve(m) ser considerada(s)
língua oficial. São exemplos desta política linguística certos países africanos como Angola e
Moçambique que têm o português como língua oficial ou, na Europa, o Luxemburgo que tem
como línguas oficiais o alemão, o francês e o luxemburguês.
A língua materna - é aquela que se aprende em primeiro lugar, ou seja, a língua em que
se começa a produzir enunciados orais.
Segundo Inês Duarte, uma língua natural é língua materna de uma comunidade linguística
quando é ela que as crianças nascidas nessa comunidade desenvolvem espontaneamente como
resultado do processo de aquisição da linguagem.
Em suma, designa-se como língua materna, aquela que uma criança aprende primeiro, em
casa com a mãe (ou com quem a substitua) e com a família mais chegada, mais tarde, à que a
socialização se vai alargando, com amigos de brincadeira e com os outros adultos do seu grupo
linguístico.
Língua segunda é, por sua vez, língua não materna (da maioria) dos falantes de uma
determinada sociedade, ou de grupos de imigrantes, usada como meio de escolarização e como
língua veicular nas instituições administrativas e oficiais.
A aprendizagem da língua segunda faz-se normalmente no contexto escolar e permite a
inserção do indivíduo no sistema sociopolítico dominante, constituindo mesmo um factor de
ascensão social.
A língua nacional pode ser definida em duas perspectivas. Na primeira, é a língua falada
num país, com uma abrangência total ou quase total. Na segunda, é a língua de origem local, aquela
que acarreta consigo uma herança étnico-cultural.
O dialecto: não o considere como língua marginalizada nem dos mais atrasados. O
dialecto, no ponto de vista linguístico, é a variedade regional da fala de uma língua, ou seja, a
variante de uma língua falada numa dada região geograficamente falando. Essa variação se nota
através de algumas palavras, sendo que o conteúdo da língua é idêntico.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 2
LÍNGUA PORTUGUESA II
Para tal, nunca se considere o Kimbundu, o Kikongo, o Cokwe, o Umbundu, o Ngangela como
sendo dialectos de Português.
Falante nativo: “termo usado na linguística para fazer referência a alguém que tem uma
língua concreta como sua língua nativa (também chamada de primeira língua ou língua materna).
O termo implica, como essa língua foi adquirida de maneira natural desde a infância, que
é aquela que o falante terá suas intuições mais confiáveis e, portanto, se pode confiar no juízo de
um falante sobre o uso da língua. Por consequência, quando se investiga uma língua, é
recomendado tentar obter informações dos falantes nativos.
Protolíngua: “O antepassado hipotético de uma família de línguas.
Quando encontramos algumas línguas que claramente têm relação genética entre si e que,
portando, formam uma família linguística, segue‐se por definição que todas elas descendem de um
antepassado comum, isto é, elas começaram muito tempo atrás como meros dialectos regionais
dessa língua ancestral.
Quando há dados suficientes, os linguistas históricos podem aplicar a reconstrução
comparativa para obter informações substanciais sobre o modo de ser dessa língua antepassada,
mesmo que o carro mais comum seja a inexistência de registos. A reconstrução que eles obtêm
dessa forma é uma descrição razoavelmente exacta da língua ancestral, que é chamada a
protolíngua da família toda.
1.2. Monolinguismo, bilinguismo, plurilinguismo ou multilinguismo, política
linguística, interferência linguística
Os falantes são monolingues quando nas suas comunicações no
interior de uma mesma comunidade sociolinguística, utilizam
somente uma língua.
Os falantes são bilingues quando, por sua vez, têm a capacidade
de comunicar e de se expressar em duas línguas diferentes,
resultante de um contacto frequente com essas duas línguas (por
exemplo, um filho de mãe portuguesa e pai francês pode tornar-se
bilingue nestas duas línguas).
No caso de o indivíduo possuir essa capacidade de expressão em mais do que duas línguas,
com as quais contacta regular e frequentemente, pode considerar-se multilingue.
Existem vários graus de multilinguismo, verificando-se, quase sempre, uma especialização
do uso das línguas conforme a situação comunicacional, o contexto ou o tipo de interlocutor. O
ambiente multilingue, quer de indivíduos, quer de comunidades, é mais frequente do que se pode
supor e é muitas vezes decorrente ou promovido por políticas linguísticas específicas.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 3
LÍNGUA PORTUGUESA II
Política linguística é o conjunto de intenções e decisões do governo de um país relativas
ao uso oficial de uma ou mais línguas e à determinação da norma-padrão, tanto no que respeita à
língua oral como à escrita (as reformas ortográficas são exemplo de acções de política linguística).
Faz parte, igualmente, da política linguística - a forma de divulgação de uma língua como
língua estrangeira ou segunda de acordo com o contexto em que é ensinada.
Interferência linguística é a simbiose entre duas ou mais línguas. É uma consequência do
contacto entre línguas. A interferência pode ocorrer a todos os níveis: tanto ao nível da estruturação
do léxico como ao nível gramatical, em que a sintaxe estará tão implicada como os inventários de
forma e em que a sua estreita estruturação já não protegerá o nível fonológico.
1.3. Estatuto do português
Todas as comunidades linguísticas têm direito a usar a sua língua e a mantê-la e promovê-
la em todas as formas de expressão cultural.
Em Angola, as línguas autóctones coabitam com a língua portuguesa de forma pacífica,
apesar de que nesta relação a língua portuguesa tem um funcionamento prestigiado, dada a sua
posição exclusiva de língua de poder.
O panorama linguístico da humanidade é constituído por mais de 7.000 línguas conhecidas,
umas com representação ou código escrito, outras apenas com uma realização oral. São essas
línguas que permitem a inter-relação entre os membros das diferentes comunidades humanas. Não
importa se esta ou aquela língua é de maior ou menor expressão que as outras. O essencial é que
todas elas servem de instrumento de comunicação para os seus utentes, cada uma delas reflectindo
a realidade sociocultural e histórica da sociedade circundante.
Para a África, no meio dessa imensidão de línguas, na senda angolana, encontram-se as
duas grandes famílias linguísticas genética e estruturalmente diferentes. Trata-se:
• das línguas africanas de origem bantu;
• das línguas africanas de origem não bantu.
As línguas bantu e não bantu (com excepção do português) não gozam de nenhum estatuto
definido, servindo somente de línguas de comunicação a micro-nível, quer dizer, entre os membros
de um mesmo grupo etnolinguístico.
A realidade linguística de Angola é, culturalmente, tão diferenciada quanto a diversidade
de etnias existentes, realizando as funções socioculturais e identitárias da população. O país tem
seis línguas “nacionais” de carácter mais abrangente: kimbundu, kikongo, umbundu, chokue
(tchokwe), fiote e kwanyama.
O português é a língua veicular, língua da Administração, Comunicação
Social e Ensino. Este estatuto surge no âmbito da política linguística
aplicada em 1975, de manter o português como língua oficial e de unidade
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 4
LÍNGUA PORTUGUESA II
nacional. Os teóricos da época, neste quesito, tiveram como objectivo:
alavancar um Estado unido, linguística e culturalmente (apesar das
diferenças étnicas).
Notas:
1. Angola é um país plurilingue (além do português são faladas outras línguas);
2. Luanda, por ser a capital, tem um maior número de falantes de outras línguas além do
kimbundu. A sua natureza faz dela o viveiro de pessoas oriundas de outras etnias;
3. O umbundu é a língua mais falada em Angola (além do português);
4. Angola é um país plurilingue (além do português são faladas outras línguas);
5. O kimbundu é uma língua com grande relevância, por ser a língua tradicional da capital.
Hoje, provavelmente, com mais de 10 milhões de habitantes.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 5
LÍNGUA PORTUGUESA II
TEMA 2: LÍNGUA E ESTILO
2.1. Qualidades essenciais da linguagem
• Correcção - obediência à disciplina gramatical, o respeito das normas linguísticas que vigoram
na língua-padrão.
• Concisão - consiste em dizer o essencial, evitando as digressões inúteis.
• Clareza - qualidade primordial (mais a correcção) da expressão escrita ou falada. Espelha a lisura
do pensamento e facilita-lhe a pronta percepção.
• Precisão - escolha acertada do termo próprio, da palavra exacta para a ideia que se quer exprimir.
• Naturalidade – articulação original, sem necessidade de usar termos difíceis ou frases
rebuscadas.
• Originalidade - qualidade inata ao falante ou escritor, um dom natural, que a arte não dá, mas
pode estimular e aprimorar.
• Harmonia – correcta disposição das palavras, de tal maneira que o período se imponha pelo
ritmo, equilíbrio e harmonia.
• Colorido e elegância - virtudes que dão à obra literária o acabamento ideal e o toque da perfeição.
Decorrem do uso criterioso das figuras e dos ornatos de estilo, e exigem imaginação fértil e
brilhante e o perfeito domínio da técnica literária.
2.2. Vícios de linguagem
Vícios de linguagem são incorreções e defeitos no uso da língua falada ou escrita.
• Ambiguidade - defeito da frase que apresenta duplo sentido:
o Aldair, vi o Roberto no serviço com sua irmã. [sua: de quem?]
• Barbarismo - emprego de palavras erradas relativamente à pronúncia, forma ou significação:
o Proporam # propuseram.
o Cidadões # cidadãos.
o Adevogado # advogado.
• Cacofonia ou cacófato - som desagradável ou palavra de sentido ridículo resultante da
contiguidade de certos vocábulos na frase:
o A boca dela…
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 6
LÍNGUA PORTUGUESA II
o Nunca Brito vinha aqui…
• Estrangeirismo - uso de palavras, expressões ou construções próprias de línguas estrangeiras,
sobretudo, quando existem, em português, termos equivalentes:
o Outdoor - cartaz, painel.
o Gentleman – cavalheiro.
o Menu – cardápio.
Arcaísmo - uso de palavras ultrapassadas:
o Vosmecê – você.
o Velida – bela.
o Coita – dor, aflição.
• Hiato – som desagradável formado pela sucessão de fonemas vocálicos:
o Ou eu o ouvia ali, ou não o ouviu mais.
o Perdeu-o o homem que estava à beira da morte.
• Colisão - sucessão desagradável de consoantes iguais ou idênticas:
o Pintor português pinta portas e paredes por preços populares.
• Eco - concorrência de palavras que têm a mesma terminação (rima na prosa):
o A flor tem odor e frescor.
• Obscuridade – sentido duvidoso decorrente do emaranhado da frase, da má colocação das
palavras, da impropriedade dos termos, da pontuação defeituosa ou do estilo empolado.
• Pleonasmo (vicioso): redundância, presença de palavras supérfluas na frase:
o Entrar para dentro; sair para fora.
• Solecismo: erro de sintaxe (concordância, regência, colocação):
o Falta cinco alunos.
o Vou assistir o jogo.
o Revoltarão-se.
• Preciosismo, rebuscamento: linguagem artificial, cheia de subtilezas e vazia de ideias,
maneirismo.
• Plebeísmo: uso de palavras e expressões vulgares.
o Kumbu – dinheiro.
o Coroa - pessoa idosa.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 7
LÍNGUA PORTUGUESA II
2.3. Competência linguística e competência comunicativa
Competência linguística: designa o conhecimento da língua, em várias vertentes: sons da
língua – fonologia; formação e forma das palavras – morfologia; organização das palavras na frase
– sintaxe; identificação da significação – semântica.
Competência comunicativa: é a capacidade de quem fala ou escreve saber seleccionar as
formas linguísticas adequadas ou apropriadas a cada situação: quando falar, sobre que falar, com
quem, onde, de que modo.
2.4. Figuras de estilo
Figuras de estilo são recursos especiais de que se vale quem fala ou escreve, para
comunicar à expressão mais intensidade e estética. Podem ser:
a) Figuras de palavras (ou tropos)
b) Figuras de construção (ou de sintaxe)
c) Figuras de pensamento
2.4.1. Figuras de palavras (ou tropos)
Figuras de palavras são desvios de significação a que são submetidas as palavras, quando
se deseja atingir um efeito expressivo.
Ilustração:
o O tigre é uma fera. [fera= animal feroz: sentido próprio, literal, usual]
o Pedro era uma fera. [fera = pessoa muito brava: sentido figurado, ocasional]
Principais figuras de palavras (ou tropos)
Metáfora – é a aproximação de duas realidades distintas, visando realçar as suas
semelhanças, em que uma substitui a outra. É semelhante à comparação, mas sem utilizar um termo
de cunho comparativo:
o Ser jovem é uma doçura.
o Amor é fogo que arde sem se ver. (Camões)
o Muitos jovens perdem a razão quando vivem o fogo de uma paixão.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 8
LÍNGUA PORTUGUESA II
Comparação – é a aproximação de dois conceitos realçando um deles por confronto com
outro, através do uso de um termo de cunho comparativo:
o Ela é esperta como um coelho.
o Tal qual o pai, ele tornou -se médico.
Catacrese: é uma espécie de metáfora em que se emprega uma palavra no sentido figurado
por hábito ou esquecimento de sua etimologia:
o Vou embarcar num autocarro. (autocarro não é barco)
o O Isata enterrou uma agulha na pele. (pele não é terra)
Metonímia – uso de um termo por outro em função de uma relação de contiguidade. Há
metonímia quando se emprega:
a) a causa pelo efeito ou o contrário:
o Vivo do meu trabalho. (do produto do trabalho = alimento)
o Respeita os meus cabelos brancos. (Respeita a minha idade – os cabelos brancos são o
efeito da velhice)
b) o autor pela obra:
o Estou a ler Agualusa. (= a obra de Agualusa)
o Li Pepetela muitas vezes. (= a obra de Pepetela)
c) o continente pelo conteúdo:
o Eles sempre foram amantes do copo. [= da(s) bebida(s) ]
o Comi um prato de funje. (= funje contido no prato)
d) o instrumento pelo usuário:
o Ele é um bom garfo. (= comilão)
o Os microfones estavam ansiosos para ouvir a Ministra da Saúde. (=repórteres)
e) o símbolo pelo simbolizado:
o Que as armas cedam à toga. (= que a força militar acate o direito)
o A coroa foi disputada pelos irmãos. (= poder)
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 9
LÍNGUA PORTUGUESA II
f) o lugar pelo produto feito no mesmo:
o Aprecio o madeira. (= o vinho fabricado na ilha da Madeira)
o O meu amigo é fumante de um bom Havana. (= cigarro fabricado em Havana)
g) o abstracto pelo concreto ou o contrário:
o A virtude vence. (= os virtuosos)
o Não deixou ela chorar, tem um coração nobre. (= sentimento)
h) a parte pelo todo:
o Sem comida, sem teto, a vida é dura. (= casa)
o O Tito tem duas bocas para alimentar. (= pessoas)
i) o singular pelo plural:
o O homem é racional. (= os homens)
o O médico tem um bom salário. (= os médicos)
j) o indivíduo pela espécie ou classe:
o Na calada da noite, revelou-se um judas. (= traidor)
o Chegaram os átilas da escola moderna. (= destruidores)
k) a qualidade pela espécie:
o Os mortais (= os homens)
o Os irracionais (= os animais)
l) a matéria pelo objecto:
o Fiquei sem metais para comprar banana (= moedas)
o Já estão a tocar os bronzes da Paróquia da Caála (= os sinos)
m) o inventor pela invenção:
o Gutenberg possibilitou a difusão do conhecimento. (- a invenção de Gutenberg —
imprensa)
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 10
LÍNGUA PORTUGUESA II
n) a marca pelo produto:
o Este é o meu Toshiba. (computador).
o O Lenovo da Margarida é bonito. (telefone)
Antonomásia - designa os seres por meio de algum de seus atributos ou de um facto que
os celebrizou:
o O poeta da Sagrada Esperança (= Agostinho Neto)
o O pai da psicanálise (= Sigmund Freud)
Perífrase: consiste em substituir uma palavra ou conceito breve por uma expressão
analítica longa e indirecta com o mesmo significado:
o Venho da cidade das mulheres belas, terra das acácias rubras. (= venho de Benguela)
o Quando surgiram os primeiros raios de sol, saiu de casa. (= quando amanheceu)
Nota: - Muitos autores preferem chamar antonomásia ou perífrase, entretanto, vale destacar que,
as duas figuras têm o mesmo efeito em fenómenos diferentes. Antonomásia envolve pessoas,
perífrase envolve coisas ou espaços.
Sinestesia - consiste no cruzamento de palavras que transmitem sensações diferentes. Tais
sensações podem ser físicas ou psicológicas:
o Um doce abraço para os meus pais. (sensações de gosto e tato)
o O cheiro gostoso das plantas é medicinal. (sensações de olfato e gosto)
2.4.2. Figuras de construção (ou de sintaxe)
Figuras de construção ou de sintaxe – são construções que se afastam das estruturas
regulares ou comuns e que visam transmitir à frase mais concisão, expressividade. Podemos
destacar as seguintes:
Elipse – consiste na omissão de um termo ou oração que facilmente podemos subentender
no contexto:
o Nossa professora estava satisfeita, como, aliás, todas as suas colegas. (Isto é: como, aliás,
estavam satisfeitas todas as suas colegas.)
o As mãos eram pequenas e os dedos, finos e delicados. (elipse da forma verbal “eram”)
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 11
LÍNGUA PORTUGUESA II
Nota: - A elipse uma espécie de economia de palavras, entretanto, interessa a elipse como figura
de estilo.
Pleonasmo (estilístico) – consiste no emprego de palavras redundantes, com o fim de
reforçar ou enfatizar a expressão:
o Vi a Isabel com os meus próprios olhos.
o Triste jovem! Chorou lágrimas profundas.
Nota: - Quando o pleonasmo não é estético, passa a ser vicioso como: descer para baixo, entrar
para dentro, subir para cima.
Assíndeto – consiste na supressão de conjunções, sobretudo da copulativa “e”, para
imprimir mais vivacidade à frase:
o A estudante entrou, apresentou a tarefa, saiu.
o Olhou para a jovem, beijou-a, abraçou-a.
Polissíndeto – consiste na repetição intencional do conector (geralmente e). É eficaz para
sugerir movimentos contínuos ou séries de acções que se sucedem rapidamente:
o Ele cai e levanta e torna a cair.
o É bonita e inteligente, e inocente, e de trato fácil, é uma maravilha de mulher.
Hipérbato – consiste em alterar a ordem normal dos termos ou orações com o fim de lhes
dar destaque:
o Estranha, de mãos dadas vinha a mulher com ele. (= A mulher estranha vinha com ele de
mãos dadas.)
o Tão leve estou que já nem sombra tenho. (Mário Quintana) – (= Estou tão leve que já nem
sombra tenho.)
Anacoluto – consiste na quebra ou interrupção do fio da frase, ficando termos
sintacticamente desligados do resto do período, sem função:
o Aquela prova, não gostei das questões que me apresentaram.
o Essas jovens de hoje, são bonitas e inteligentes.
Nota: - O termo sem nexo sintáctico coloca-se, em geral, no início da frase para se lhe dar realce.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 12
LÍNGUA PORTUGUESA II
Anáfora – consiste na repetição da mesma palavra ou expressão no início de varias
orações, períodos ou versos:
o Grande no pensamento, grande na acção, grande na glória.
o Tudo interessante, tudo de origem, tudo bonito.
Aliteração – consiste na repetição intencional do mesmo som consonantal no início, no
meio ou no final de palavras sucessivas:
o O rato roeu a roupa do rapaz.
o Ele nasceu, cresceu e permaneceu naquela localidade.
o Assonância - consiste na repetição intencional do mesmo som vocálico no início, no meio
ou no final de palavras sucessivas:
o Ela é a Ana, ama e é amada!
o O meu chapéu é de modelo europeu.
Onomatopeia – consiste no emprego de uma palavra ou conjunto de palavras que sugerem
sons ou ruídos de seres e coisas:
o O tic-tac do relógio da minha sala é descompassado.
o Trim-trim! Trim-trim! Quem está a tocar?
Silepse – é uma concordância feita não com o termo, mas com a ideia transmitida pelo
mesmo. Pode ser:
a) de género – a concordância é feita com o género do termo a que se refere e não com o
termo em si:
o Vossa Majestade será informado acerca de tudo. (Vossa Majestade = o rei)
o De longe, viu o seu amor, vestida de véu e grinalda. (amor = mulher, esposa)
b) de número – a concordância é feita com o número (singular ou plural) que é transmitido
pela ideia do termo, e não com o número real do termo:
o Corria gente de todos os lados, e gritavam. (Mário Barreto)
o A Associação fechou, mas continuam actuantes.
c) de pessoa – a concordância é feita com a pessoa que se tem em mente, e não com a pessoa
(1.ª, 2.ª ou 3.ª) na qual o termo efectivamente se encontra:
o Os angolanos somos acolhedores.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 13
LÍNGUA PORTUGUESA II
o Estudantes de Psicologia queremos mais rigor e cientificidade.
3.4.3. Figuras de pensamento
Antítese - consiste na aproximação de palavras ou expressões de sentido oposto:
o Não há alegria sem tristeza, riqueza sem miséria.
o Vida e morte, beleza e horror, rotina de um ser vivo.
Paradoxo – consiste em usar, intencionalmente, um contrassenso:
o O poeta compreendera o mal de ser feliz. (Olavo Bilac)
o O amor é uma triste consolação.
Notas:
o Alguns autores preferem denominar paradoxo ou oximoro;
o O paradoxo confunde-se, na maioria dos casos, com a antítese, entretanto, diferem-se: a antítese
opõe palavras que já são de natureza opostas. O paradoxo opõe ideias opostas entre si.
Apóstrofe – consiste na interpelação enfática de pessoas ou coisas (presentes ou ausentes,
reais ou fictícias):
o Deus! Ó Deus! Onde estás que não respondes? (Castro Alves)
o Desce do espaço imenso; ó águia do oceano. (Castro Alves)
Eufemismo – consiste em suavizar a expressão de uma ideia triste, molesta ou
desagradável:
o Ele foi desta para melhor. (morreu)
o Você faltou com a verdade. (mentiu)
Gradação – é uma sequência de ideias dispostas em sentido ascendente ou descendente:
"O primeiro milhão possuído excita, acirra, assanha a gula do milionário." (Olavo Bilac)
Uma palavra, um gesto, um olhar bastava para despertar suspeita. (Domingos Ceggala)
Nota: - A gradação ascendente denomina-se também clímax, e a descendente, anticlímax.
Hipérbole – é o recurso de expressão pelo qual se engrandece ou diminui de forma
exagerada uma afirmação:
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 14
LÍNGUA PORTUGUESA II
o A jovem chorou rios de lágrimas.
o Posso repetir mais de cem vezes.
Ironia – consiste em dizemos o contrário do que pensamos, quase sempre com intenção
sarcástica:
o Parabéns! Tiveste a classificação de zero.
o Grande gesto, bater em senhoras indefesas.
Personificação – consiste em emprestar vida e acção a seres inanimados ou abstractos:
o As árvores cantavam de alegria.
o O sol acordou mais brilhante.
Retificação - consiste em retificar uma afirmação anterior:
o O Isidro é inteligente, ou melhor, um génio.
o Li o livro “O que a África não disse”. Não, minto. Li “A África que incomoda”.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 15
LÍNGUA PORTUGUESA II
TEMA 3: SEMÂNTICA E PRAGMÁTICA
3.1. Semântica: campo semântico e campo lexical
A semântica é o estudo do significado das línguas. O signo linguístico é uma entidade de
dupla face, constituído por um plano de expressão e um plano de conteúdo. A semântica é, não só,
o estudo do conteúdo das palavras isoladamente, mas também do significado das palavras nas
frases, relacionando-se, assim, com o módulo sintáctico. Ou seja, a semântica trata da significação
das palavras, que podem estar isoladas ou contextualizadas.
As palavras não só podem ter uma acepção primária, mas também diversas acepções; tudo
dependerá do contexto. A semântica trata de todas as possibilidades de significação, envolvendo
nosso conhecimento de mundo, experiência de vida e outros factores extralinguísticos, como a
região em que vivemos, a idade que temos, o grupo social ou profissional a que pertencemos, etc.
Tudo isso vai influenciar os matizes da palavra.
A palavra isolada tem um significado primário; no entanto, tem vários sentidos secundários
dentro de contextos específicos. Vale dizer também que, em nossa língua, gramaticalmente
falando, há inúmeros factores que podem alterar o significado das palavras, como:
– a acentuação gráfica/prosódia: sábia (mulher culta) e sabiá (ave);
– a posição da sílaba tônica: fabrica (paroxítona; forma do verbo fabricar) e fábrica
(proparoxítona);
– o timbre: molho (/ô/; caldo) e molho (/ó/; conjunto de objetos unidos);
– o número: a letra (símbolo gráfico) e as letras (literatura);
– o gênero: a rádio (emissora) e o rádio (aparelho);
– o acento grave (crase): “Chegou a noite. ” (A noite chegou.) e “Chegou à noite.” (Alguém
chegou à noite.);
– a posição de certas palavras: qualquer mulher (alguma mulher) e mulher qualquer (mulher
sem valor) / “Eu preciso aprender a ser só, e não a só ser.” (sozinho/somente);
– o contexto da conjunção: “Nós estudamos, mas não passamos. ” (adversidade, oposição) e
“Não só jogo vôlei, mas faço natação.” (adição).
– o contexto da preposição: “Para mim, ele é um canalha.” (opinião) e “Não dá para sair hoje.”
(possibilidade);
– o contexto do advérbio: “Fale mais! ” (intensidade) e “Não fale mais! ” (tempo).
– a pontuação: “Ele voltou logo, fiquei feliz. ” (vírgula depois de logo, ideia de tempo) e “Ele
voltou, logo fiquei feliz. ” (vírgula antes de logo, ideia de conclusão);
– a regência: “João sempre implica com ela. ” (zombar) e “Ela implicou em um assalto o
namorado. ” (envolver).
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 16
LÍNGUA PORTUGUESA II
Campo semântico
Segundo os semanticistas, os lexemas estão organizados em nosso dicionário mental em
campos semânticos. Por exemplo, o campo semântico das partes do corpo incluiria lexemas tais
como cabeça, tronco, membros, etc. O campo semântico das cores, itens como vermelho, verde,
azul, preto, etc. Estudos experimentais têm demonstrado que as pessoas reconhecem mais
rapidamente uma palavra quando esta ocorre logo após outra pertencente ao mesmo campo
semântico. Por exemplo, acessamos mais rapidamente o item lexical médico, se antes dele vimos
o item enfermeira. Da mesma forma, o acesso ao lexema manteiga é mais imediato, se antes vimos
o item lexical pão. Por outro lado, se antes de médico, vimos pão ou antes de manteiga vimos
enfermeira, o acesso lexical é comparativamente mais lento.
Campo semântico – conjunto dos significados que uma palavra pode ter nos diferentes contextos
em que se encontra:
- Campo semântico de "peça": "peça de automóvel", "peça de teatro", "peça de bronze",
"és uma boa peça", "uma peça de carne", etc.
Duas noções semânticas importantes, directamente relacionadas à noção de campo
semântico, são os conceitos de hiponímia1 e hiperonímia2.
Na organização hierárquica dos campos semânticos, o sentido de certos lexemas pode estar
incluído no sentido de outros. Por exemplo, comparemos a seguinte cadeia que contém itens
lexicais com diferentes graus de especificidade: carapau → peixe → animal.
O lexema carapau é um hipónimo, ou seja, é o item mais específico da cadeia, contendo
as propriedades de todos os demais. Já o item animal, o mais geral, é um hiperónimo. Assim, todo
hipónimo contém o seu hiperónimo, mas nem todo hiperónimo contém o seu hipónimo, o que, nos
termos do nosso exemplo, equivale a dizer que todo peixe é um animal, mas nem todo animal é
um carapau.
1
- Relação
de hierarquia semântica entre palavras, em que o significado de uma (designada por
hipónimo), por ser mais específico, se encontra incluído no de outra palavra (designada por
hiperónimo).
2
- Relação de hierarquia semântica entre palavras, em que o significado de uma (designada por
hiperónimo), por ser mais geral, inclui o de outras (designadas por hipónimos).
- A palavra "animal" é um hiperónimo de "peixe". A palavra "peixe" é um hiperónimo de
"carapau".
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 17
LÍNGUA PORTUGUESA II
Outras relações entre os lexemas são a sinonímia3, a antonímia4, a homonímia e a
polissemia.
Lexemas sinónimos têm, em tese, significantes distintos, mas identidade de significado.
No entanto, de facto, não há dois lexemas em nenhuma língua cujos significados sejam
exactamente idênticos. Há sempre diferenças estilísticas, regionais, distributivas e até emocionais,
entre eles. Por exemplo, morrer é sinônimo de falecer e de bater as botas, mas o primeiro lexema
é mais neutro, enquanto o segundo é mais formal e o terceiro pode ser considerado gíria. Além
disso, suas propriedades distribucionais nas frases também variam. Observe que podemos
construir uma frase como: O homem morreu atropelado, mas *Ele faleceu atropelado ou *Ele
bateu as botas atropelado seriam agramaticais.
Lexemas antónimos têm significados opostos. Há diferentes tipos de antonímia. A
antonímia graduável admite a expressão de valores em uma escala, ao contrário da antonímia
não-graduável, na qual o contraste entre os lexemas não admite graus. Exemplos do primeiro tipo
podem ser os pares longe/perto ou bom/mau em que pode haver graus de distância ou bondade
(muito longe, muito mau). Exemplos de antonímia não graduável seriam os pares solteiro/casado
e macho/fêmea, em que não haveria uma escala possível de graus intermediários.
Além desses antônimos lexicais, há também a antonímia gramatical formada com o
auxílio de prefixos, como por exemplo, feliz/infeliz ou honesto/desonesto.
Lexemas homónimos são aqueles que tem forma idêntica, mas sentidos não relacionados,
ou seja, não têm traços semânticos ou semas comuns. É o caso de vocábulos tais como manga, que
pode significar parte da roupa ou fruta, sem que haja qualquer relação de sentido entre esses dois
sentidos; também banco seria um caso de homonímia, pois o objecto para sentar-se nada tem a ver
com a instituição financeira.
Costuma-se distinguir entre os homónimos homógrafos, que têm a mesma grafia e a
mesma pronúncia, como os exemplos dados anteriormente, e os homônimos homófonos, que têm
o mesmo som, mas grafias diferentes, como sela (arreio do cavalo) e cela (prisão).
Por outro lado, a polissemia se refere aos casos em que um mesmo lexema tem mais de
um significado, sendo que estes guardam relação entre si, ou seja, possuem semas comuns. É o
caso de lexemas como coroa (de flores ou de rei) que, em ambas as acepções, tem em comum o
traço semântico de circularidade; ou rede (de deitar ou de computadores) que tem em comum o
sema de entrelaçamento.
3
- Relação semântica entre duas ou mais palavras que podem ser usadas no mesmo contexto, sem
que se produza alteração de significado do enunciado em que ocorrem: fiel/leal; débil/fraco/frágil;
distante/afastado.
4
Relação semântica entre duas ou mais palavras que, embora partilhando algumas propriedades
semânticas que as relacionam, têm significados opostos: grande / pequeno; quente / frio; bonito /
feio.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 18
LÍNGUA PORTUGUESA II
Do ponto semântico, vale ainda destacar a relação de parte e todo: holonímia5 e
meronímia6.
3.2. A pragmática
Como vimos anteriormente, o significado linguístico é estudado pela semântica. A
interpretação plena de um enunciado linguístico só será possível, no entanto, se além do conteúdo
da frase em si, considerarmos também o contexto em que o enunciado foi feito. Além da
competência gramatical, há uma competência pragmática, que viabiliza essa interpretação plena
dos enunciados.
O contexto
O conceito de contexto deve ser melhor explicitado para que possamos apreciar plenamente
a sua importância na produção e compreensão dos enunciados linguísticos. Há, naturalmente,
sempre um contexto físico, que é o espaço onde uma conversa tem lugar, por exemplo.
O lugar físico é, sem dúvida, um factor condicionante dos enunciados linguísticos.
Certamente, uma conversa que tenha lugar no interior de uma igreja, por exemplo, terá
características diferenciadas de outras que se passem, digamos, em um bar ou em um estádio de
futebol.
Há também um contexto epistêmico, ou seja, o conhecimento compartilhado pelos
interlocutores. O contexto discursivo em que uma sentença ocorre, ou seja, o discurso que
antecede ou que se segue ao enunciado interfere decisivamente no seu significado. Uma frase
extraída de seu contexto discursivo pode ter significado bem diverso daquele que tinha
originalmente. O contexto extra-linguístico, isto é, as expressões faciais, os gestos, a entonação
ao se proferir uma frase também podem modificar completamente o seu significado. Finalmente,
o contexto social em que uma interação verbal tem lugar é outro factor importante para a sua
interpretação.
5
Relação de hierarquia semântica entre palavras, em que o significado de uma (designada de
holónimo) refere um todo do qual a outra (designada de merónimo) é parte constituinte:
- Carro / volante -> carro estabelece uma relação de holonímia com volante; corpo / braço; barco
/ vela.
6
Relação de hierarquia semântica entre palavras, em que o significado de uma (designada de
merónimo) remete para uma parte constituinte da outra (designada de holónimo):
- A palavra “dedo” é um merónimo da palavra “mão”.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 19
LÍNGUA PORTUGUESA II
Campo lexical
A lexicologia trata do estudo do léxico (vocábulo/palavra), basicamente quanto a sua
formação e seu sentido, portanto esta parte da gramática está intrinsecamente ligada à morfologia
e à semântica.
A formação de uma palavra começa a partir de “pedaços” (chamados de morfemas) que a
compõem, como radical, prefixo, sufixo e desinências.
Ao conjunto de palavras damos o nome de vocabulário. O dicionário se ocupa exactamente
disso. Fora dele, entretanto, as palavras passam a adquirir “vida própria”, afinal, elas não são vazias
de significado. Portanto, a lexicologia se ocupa também das palavras em si e de seus sentidos. O
que se espera do falante, muitas vezes, é a percepção da selecção/adequação vocabular dentro de
um contexto. Como dizia Carlos Drummond de Andrade em Procura da poesia: “cada uma (a
palavra) tem mil faces sob a face neutra”. Isso quer dizer que, por meio do contexto, pode-se
atribuir significados diferentes a uma mesma palavra.
- O Campo lexical é o conjunto de palavras associadas, pelo seu significado, a um determinado
domínio conceptual:
- O conjunto de palavras "jogador", "árbitro", "bola", "baliza", "equipa", "estádio" faz parte
do campo lexical de "futebol".
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 20
LÍNGUA PORTUGUESA II
TEMA 4: VARIAÇÃO LINGUÍSTICA
A variação linguística é entendida como uma caraterística distintiva das
línguas, com ênfase às línguas naturais. Corroborando com Cunha e Cintra
(2014, p. 4), "a variação é, pois, inerente ao sistema da língua e ocorre em
todos os níveis: fonético, fonológico, morfológico, sintático, etc.".
4.1. Variação diatópica
Uma língua não permanece a mesma em toda a extensão do território onde é falada. Um
dos traços mais marcantes da identidade característica de uma pessoa é, sem dúvida, a sua origem
geográfica. No âmbito da língua portuguesa, por exemplo, é comum tentar-se caracterizar a origem
de uma pessoa com base em sua pronúncia ou em suas preferências de uso lexical. Assim, pode-
se ouvir, no dia-a-dia, classificações informais sobre os falares regionais brasileiros, tais como, o
falar mineiro, o falar carioca, o falar nordestino, etc. Nem sempre estas classificações conseguem
ser precisas, pois não é tarefa simples isolar variantes puramente geográficas dos demais tipos de
variantes linguísticas, tais como as variações decorrentes da classe social, grau de educação, idade,
estilo, etc.
De facto, a variação linguística é um fenómeno tão pervasivo que se pode até mesmo falar
da variação individual do uso linguístico, conceito expresso pelo termo idioleto, que designa,
exatamente, as particularidades próprias da língua falada por cada um de nós, uma vez que todos
temos nossas preferências lexicais e características de pronúncia individuais.
O estudo das variantes geográficas é feito por uma disciplina denominada Geografia
Linguística ou Geolinguística, relacionada a uma disciplina mais antiga e abrangente, a
Dialectologia.
A Geolinguística teve seu início com as pesquisas feitas pelo alemão Wenker e pelos
franceses Gilliéron e Edmont. Estes últimos tornaram-se célebres pelo Atlas Linguístico da
França, lançado na primeira década do século XX, tendo o segundo autor percorrido de bicicleta
grande parte do território francês, em uma tarefa meticulosa de documentação dos falares
regionais. De fato, a Geografia Linguística procura representar as variantes espaciais de uma
língua em mapas ou atlas.
4.2. Variação diastrática
Assim como varia horizontalmente, isto é, no âmbito da região geográfica onde é falada,
uma língua também apresenta variações verticais, ou seja, no âmbito de uma comunidade
específica localizada em uma mesma região geográfica, caracterizando o que se tem chamado de
dialectos sociais ou sociolectos. Há uma interação estreita entre a variação horizontal e a vertical.
Nesse caso, o dialeto padrão pode ser definido como a variante linguística usada pelo grupo
de falantes em posição de domínio político e econômico em uma dada sociedade.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 21
LÍNGUA PORTUGUESA II
As variantes sociolinguísticas ocorrem em todas as sociedades e estão
directamente relacionadas às categorias através das quais cada sociedade se organiza. Nem
sempre essas categorias permitem uma diferenciação nítida entre si, formando um sistema
complexo em que cada factor se entrecruza com os demais. Entre esses vários factores de
estractificação social, costuma-se distinguir os seguintes:
Idade: as diversas faixas etárias dos falantes que compõem uma sociedade
apresentam correlatos linguísticos, muitas vezes mais aparentes no plano do
vocabulário, mas que podem, também, manifestar-se na pronúncia e nos tipos de
construção frasal preferenciais. Pode-se distinguir facilmente a linguagem infantil da
linguagem do adulto, mas há também outras faixas etárias que, geralmente, apresentam
peculiaridades de linguagem, tais como os adolescentes e os anciãos.
Sexo: apesar da homogeneidade cada vez maior entre os papéis sociais
desempenhados pelo homem e pela mulher nas grandes cidades, em muitas culturas,
as diferenças de gênero costumam estar associadas, em maior ou menor grau, a
diferenças linguísticas, sobretudo no que tange ao vocabulário. Nas sociedades
indígenas, podem ocorrer diferenças formais bastante marcadas entre a fala do homem
e a fala da mulher.
Profissão: as atividades profissionais, geralmente, têm seu vocabulário técnico
específico, dominado por seus praticantes. Essas características, geralmente lexicais,
específicas dos grupos socioprofissionais recebem a denominação de gíria. Por exemplo:
gíria dos médicos, dos radioamadores, dos carpinteiros, etc. De caráter não técnico e, por
vezes, carregada de conteúdo emocional, distingue-se, a gíria, vocabulário expressivo,
utilizado por um grupo social a fim de se diferenciar dos demais.
Posição social: o status dos falantes dentro do grupo social a que pertencem
também actua como um elemento diferenciador da linguagem. Esse factor está
estreitamente relacionado ao factor profissional e ao factor escolaridade.
Grau de escolaridade: a frequência à escola exerce uma influência forte sobre
o grau de domínio e uso das regras da gramática prescritiva, actuando como um factor
importante de implementação do dialecto padrão.
Local de residência – áreas dentro de uma mesma cidade, ou bairros, podem
desenvolver seu uso próprio da linguagem, ficando seus membros caracterizados por
certas escolhas vocabulares, certas expressões, gírias típicas, etc.
4.3. Variação situacional
Um mesmo falante de uma dada língua deve ser capaz de variar sua maneira de se expressar
dependendo da situação em que se encontra. Por exemplo, ao se dirigir a um velho amigo em uma
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 22
LÍNGUA PORTUGUESA II
festa, certamente o falante deverá usar a linguagem de modo distinto daquele que usaria se
estivesse em uma entrevista de emprego.
Vários traços linguísticos correlacionam-se diretamente ao contexto imediato ou situação
de fala em que o evento comunicativo ocorre. O ambiente físico, o contexto social ou cultural, o
tema da fala, o grau de intimidade entre os interlocutores, os elementos emocionais são, todos,
factores inter-relacionados e, muitas vezes, sobrepostos, que caracterizam as chamadas variantes
situacionais de fala, também denominadas de registros ou níveis de fala.
4.4. Variação diacrônica
Uma língua está em permanente transformação. Não falamos hoje como falávamos há
alguns anos; em todas as gerações, os jovens sempre falam diferente dos velhos, têm outras
preferências vocabulares e de construção frasal e até pronúncias distintas. A mudança
linguística é inexorável, afectando todos os níveis de organização das línguas, que vão se
transformando, abandonando certas pronúncias, palavras e construções e adoptando novos
itens lexicais e estruturas sintácticas.
Assim, em cada momento da história de uma língua, encontram-se arcaísmos e
neologismos. Os arcaísmos são vocábulos ou construções sintáticas que deixaram de ser usados.
Por exemplo, palavras como alpendre, itajer, supimpa, outrossim, são arcaicas, podendo ainda ser
ouvidas, talvez, apenas na boca dos mais idosos. Além dos vocábulos, as construções frasais
também envelhecem. Por exemplo, no século XIX, eram comuns frases como “Ninguém não veio,
em que uma palavra de sentido negativo precedia o verbo, sem que se omitisse o advérbio de
negação”. Nessa época usava-se também a construção ambos os dois, atestada mesmo em textos
literários. A expressão é, hoje, considerada incorrecta pela gramática normativa, que a caracteriza
como um caso de pleonasmo, redundância a ser evitada. Também eram bem mais comuns o uso
da mesóclise (far-se-á), do pretérito mais-que-perfeito (amara, bebera, partira) e de algarismos
romanos, hoje de uso já bastante restrito.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 23
LÍNGUA PORTUGUESA II
TEMA 5: O DEBATE
5.1. Conceito
O debate é uma técnica comunicativa cujo objectivo visa aprofundar o conhecimento sobre
um tema polémico ou relevante, através do confronto de ideias e opiniões.
Para a realização de um debate é, necessariamente, a existência dos seguintes elementos:
os participantes, ou seja, os contendores, um moderador e, sempre que necessário, um secretário.
Debate regrado é um gênero oral em que duas ou mais pessoas se reúnem para conversar
sobre duas ideias diferentes, levantando argumentos que defendam a sua linha de pensamento.
O debate é bastante comum durante campanhas políticas, em escolas, faculdades e
comunidades. O debate regrado, como o nome indica, segue determinadas regras que foram dadas
antes de o debate começar, como tempo de fala e direito a réplicas e tréplicas. Este tipo de debate
é muito comum durante o período eleitoral, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas
propostas de governo.
Não basta apenas ter uma opinião sobre um assunto, mas é preciso saber expor, falar sobre
a opinião.
O debate amplia a capacidade dos alunos de encontrar uma solução a partir da escuta aos
outros, sendo que o objectivo do trabalho com os gêneros do domínio do argumentar é encontrar,
a partir do raciocínio coletivo, soluções viáveis para situações colocadas que estão sendo
discutidas.
Além disso, o debate regrado tem a finalidade de desenvolver as capacidades
argumentativas e contribuir para a formação de valores como o respeito pela opinião do outro e o
cuidado com o acto da fala, pois, saber falar, não importa em que língua, é dominar os gêneros que
nela emergiram historicamente, dos mais simples aos mais complexos.
O objectivo do debate regrado é desenvolver estratégias argumentativas a serem utilizadas
não em um gênero textual escrito, conforme já havia sido feito em sala de aula, mas com um gênero
da modalidade oral, ou seja, o “debate regrado”.
A principal característica do debate regrado é que as pessoas têm o direito de expor suas
opiniões e ideias, ouvir e respeitar os demais, mesmo que sejam opostas, de uma forma organizada
e objectiva. Para que haja um debate regrado faz-se necessário:
a) a presença de argumentos que revelam posições positivas ou negativas em relação ao tema;
b) concordância, apoio, desacordo e refutação;
c) variados tipos de argumento: por exemplificação, de autoridade, de princípios, de
causalidade, etc.
5.2. Como organizar um debate regrado
O debate é uma atividade que decorre naturalmente da vida em sociedade e que nos permite
a troca de ideias, o confronto de pontos de vista e a reflexão. Além disso, a informação aumenta,
aprende-se a tomar a palavra, a demonstrar e a convencer.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 24
LÍNGUA PORTUGUESA II
Para que o debate corra bem convém definir:
1. O papel de cada um dos intervenientes
Um debate é uma troca ativa, em que se recebe, ouvindo atentamente os outros, e em que
se dá, exprimindo as nossas convicções sobre os temas em discussão. Para tal, é preciso:
Saber ouvir - Cada um tem direito à expressão. Não se deve ironizar nem cortar a palavra.
Mesmo que não se partilhe da opinião expressa, deve-se respeitá-la e ouvir atentamente o que os
outros têm para dizer. Ouvir bem é pensar no que o outro diz.
Praticar" a expressão oral - Não se aproveita o debate se não se estiver resolvido a tomar
a palavra. Esta é uma boa ocasião para se vencer a timidez.
Exprimir-se é expor o ponto de vista sobre cada um dos pontos abordados, pelo que deve
indicar-se com nitidez a posição que se tem, tendo o cuidado de apoiar cada afirmação com um ou
vários documentos/provas.
O valor de um debate reside no valor dos argumentos. Devem procurar-se, pois, provas
para convencer os outros. Não se deve ter receio de mudar de opinião no decorrer do mesmo se
descobrirmos que o ponto de vista defendido não é válido. Tal atitude é prova de honestidade e de
coragem.
2. As etapas para a organização e realização de um debate
• Escolher um assunto simples e que desperte interesse.
• Na maioria das vezes, o debate ganha em animação e interesse se tiver sido preparado
previamente por quem o organiza, quer em nível da informação fornecida/adquirida, quer
pensando sobre o tema em questão.
• O debate deve ser organizado materialmente, ou seja, como vai ser a sala? Quem vai
animar/moderar o debate?
• O que faz o (a) animador (a) /moderador (a): lança o debate, expondo com clareza o assunto
a discutir; dá a palavra às pessoas que a pedem e impede que a outras intervenham sem a
ter pedido; estimula os participantes e convida-os a reagir e a exprimirem-se; chama a
atenção para o assunto que está a ser debatido quando as intervenções dos participantes
"fogem" ao mesmo; controla o tempo e, no fim, convida a que tirem conclusões.
Durante o debate, dois secretários tomam notas das principais ideias emitidas que permitirão
fazer o balanço final.
5.3. Conectivos ou articuladores textuais
Mas o que são conectivos ou articuladores textuais?
Conectivos são palavras ou expressões que interligam as frases, períodos, orações,
parágrafos, permitindo a sequência de ideias. Esse papel é desempenhado, sobretudo, pelas
conjunções, palavras invariáveis usadas para ligar os termos e orações em um período. Além
disso, alguns advérbios e pronomes também podem exercer essa função.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 25
LÍNGUA PORTUGUESA II
Os conectivos ou articuladores textuais são elementos essenciais no desenvolvimento dos
textos, uma vez que estão relacionados com a coesão textual. Assim, se forem mal-empregados,
reduzem a capacidade de compreensão da mensagem e comprometem o texto.
Lista de alguns conectivos
1. Prioridade e relevância - usados no início das frases para apresentar uma ideia. Eles
também podem oferecer relevância ao que está sendo apresentado. São eles:
• em primeiro lugar;
• antes de mais nada;
• antes de tudo;
• em princípio;
• primeiramente;
• acima de tudo;
• principalmente;
• primordialmente;
• sobretudo;
• a priori; a posteriori;
• precipuamente.
Exemplo: Primeiramente devemos atentar ao conceito de pluralidade cultural.
2. Tempo, frequência, duração, ordem ou sucessão - esses situam o leitor na sucessão dos
acontecimentos ou das ideias. Por esse motivo, são muito explorados em textos narrativos. Alguns
deles são:
• enfim;
• logo;
• logo depois;
• imediatamente;
• logo após;
• a princípio;
• pouco antes;
• pouco depois;
• anteriormente;
• posteriormente;
• em seguida;
• afinal;
• por fim;
• finalmente;
• agora;
• actualmente;
• hoje;
• frequentemente; etc.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 26
LÍNGUA PORTUGUESA II
Exemplo: Logo após sair da aula, Ariela teve um encontro com Montalvo.
3. Semelhança, comparação ou conformidade – são usados para estabelecer uma relação
com uma ideia ou um conceito que já foi apresentado anteriormente no texto e também
para apontar ideias de outro texto (intertextualidade). São eles:
• igualmente;
• da mesma forma;
• assim também;
• do mesmo modo;
• similarmente;
• semelhantemente;
• de maneira idêntica;
• de conformidade com;
• de acordo com;
• segundo;
• conforme;
• sob o mesmo ponto de vista;
• tal qual;
• tanto quanto;
• como;
• assim como;
• como se;
• bem como.
Exemplo: De acordo com as ideias de Aldair, o angolano é um indivíduo bastante controverso.
4. Condição ou hipótese - esses termos são utilizados em situações circunstanciais que
podem oferecer hipóteses para uma situação futura.
• se;
• caso;
• eventualmente.
Exemplo: Caso chova essa tarde, não iremos à escola.
5. Continuação ou adição - utilizamos esses conectivos para acrescentar algo ao texto e que
esteja relacionado com o que anteriormente foi apresentado. São eles:
• além disso;
• demais;
• ademais;
• outrossim;
• ainda mais;
• por outro lado;
• também;
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 27
LÍNGUA PORTUGUESA II
• e;
• nem;
• não só;
• como também;
• não apenas;
• bem como.
Exemplo: A Leontina é médica legista, além disso, é especialista em cardiologia.
6. Causa, consequência e explicação - esses elementos servem para explicar as causas e
consequências de uma acção, um fenómeno, etc.
• por consequência;
• por conseguinte;
• como resultado;
• por isso;
• por causa de;
• em virtude de;
• assim;
• de facto;
• com efeito;
• tão;
• tanto;
• tamanho;
• que;
• porque;
• porquanto;
• pois;
• já que;
• uma vez que;
• visto que;
• como (no sentido de porquê);
• portanto;
• de tal forma que;
• haja vista.
Exemplo: O aquecimento global tem afetado diretamente o ser humano e os animais. Como
resultado, temos a extinção de muitas espécies.
Aspectos pertinentes
Argumentação: sobre o conceito de argumentar
Argumentar é um meio de persuasão. Segundo Aristóteles, a Retórica é, sobretudo, a arte
de saber escolher o meio mais adequado para atingir a persuasão de um dado auditório em um
determinado momento. Isso quer dizer que aquele que deseja tornar-se um bom orador precisa
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 28
LÍNGUA PORTUGUESA II
sensibilizar-se ao seu público para poder melhor comunicar-se com ele, e a Argumentação é um
desses meios.
Aristóteles destaca três meios persuasivos - ethos, pathos e logos - e assim os define,
respectivamente:
O primeiro depende do caráter pessoal do orador, o segundo, de levar o
auditório a uma certa disposição de espírito; e o terceiro, do próprio
discurso no que diz respeito ao que demonstra ou parece demonstrar.
Assim, segundo a perspectiva aristotélica, pode-se dizer que “argumentar” é o acto de
buscar a persuasão por meio da razão, por meio do conteúdo de uma fala. Seria fazer comunicar
intelectos e estabelecer “razões” compreensíveis entre orador e auditório.
É válido ressaltar que um discurso não precisa limitar-se a um desses apelos; em verdade,
é aconselhável pautar pela variabilidade.
Num outro prisma, argumentar é sistematizar a fala. É possível identificar blocos de fala
ao escutar um discurso e dizer algo como “isso é a ideia principal”; “isso é uma referência”, e
assim por diante. Pois bem, um argumento é composto de partes que se interagem entre si. Assim,
para argumentar, analisar discursos e preparar uma refutação, é importante ser capaz de identificar
esses blocos.
Com isso, não se quer dizer que argumentação pode ser convertida em uma técnica fechada.
O que se busca, em verdade, é habilitar o orador a comunicar-se melhor, a transmitir o que pensa
de maneira mais clara, objetiva e eficiente, porém, sem desconsiderar os valores que carrega
consigo e sua boa vontade. É tornar a escolha do conteúdo do discurso uma actividade consciente;
é melhorar um processo que o cérebro faz normalmente.
Combinando essas ideias, poder-se-ia concluir que “Argumentação” é o
meio persuasivo que se vale razão, do conteúdo do discurso, e que
“argumentar” é o acto de estruturar a fala para discutir intelectualmente de
maneira mais precisa.
5.4. Construção de um argumento: facto; ideia; opinião e crença
Facto: um facto é um elemento concreto pertencente à esfera da realidade, ou seja, trata-
se de um dado, de uma estatística, de uma notícia, de uma passagem de um livro, a teoria filosófica
de um professor e assim por diante. É algo constatável.
Ideia: uma ideia é uma construção abstracta que clama por aceitação como verdade. É uma
sentença declarativa. Por exemplo “Cabinda é uma cidade culturalmente viva”; talvez você
acredite nessa ideia da maneira como está, talvez você consiga comprovar essa ideia a partir da
sua própria vivência, porém, o enunciado acima não inspira essa confiança por si só. São
necessários factos para suportá-lo.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 29
LÍNGUA PORTUGUESA II
Opinião: uma opinião é uma ideia cara ao orador, isto é, é uma frase a qual o orador atribui
sua própria confiança. Observe que há uma grande diferença entre a ideia e a opinião: somente
nesta há investimento pessoal do orador. Ambas precisam do suporte de factos para serem críveis
ao ouvinte, porém, a opinião é uma ideia adoptada pelo orador como verdade.
Crença: uma crença é uma ideia “improvável”. É uma construção abstracta para a qual é
impossível apontar factos. Em outras palavras, o investimento pessoal do orador é um acto de fé.
5.5. Refutação
A refutação, ou o acto de refutar é, em essência, a apresentação de evidências que
enfraquecem ou anulam um argumento apresentado pela parte oposta. É uma fala que pretende
demonstrar a falta de razão, verdade ou validade na fala do outro.
Em um debate competitivo, isso geralmente se dá por falas curtas e directas
no início ou meio do discurso, que podem atacar uma ou mais partes
estruturais de um argumento que já foi apresentado pela bancada oposta,
ou provavelmente será.
Em Sócrates, o objectivo da refutação (elenchos) era refinar uma definição, um conceito
ou uma ideia. É o momento de crítica, escrutínio e profunda análise de uma ideia, buscando
identificar e corrigir suas falhas.
Durante a maiêutica, a refutação é o momento de questionamento que traz a ideia ao seu
limite lógico e observa se ali ela consegue ainda assim se sustentar, ou se ela não é sólida o
suficiente e precisa ser superada. A ideia socrática é útil no debate competitivo na sala de
preparação e nos estudos prévios, pois esse momento de crítica é fundamental para a estruturação
de bons argumentos. É útil que o debatedor, ao se preparar para uma competição estruturando
argumentos, preveja refutações possíveis a ele e tente o ajustar para que seja o mais infalível
possível.
5.6. Contrarrefutação
A finalidade da contrarrefutação é demonstrar que, apesar do
ataque, o argumento continua sólido e deve ser considerado pelos
adjudicadores, por isso, é importante neste momento manter o máximo de
decoro possível e evitar a todo custo a ironia, os ataques ad hominem (à
pessoa que refutou) e qualquer outra atitude que pode ser entendida pelos
adjudicadores como agressiva. Isso porque é muito comum que o
debatedor, ao ver seu argumento ou o de sua dupla contestado, se exalte
ao defendê-lo, e a exaltação, ao ser interpretada pela banca como
agressividade, irá transparecer uma imagem de desespero ou ataque
directo, que geram pontos negativos.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 30
LÍNGUA PORTUGUESA II
5.7. A Construção do discurso
Todo discurso deve ter como ponto de partida a conquista da atenção do público. Afinal,
uma plateia desatenta não será informada, motivada ou persuadida de forma eficiente. Isso não
significa que toda forma de atenção seja positiva; é possível que um orador chame atenção para si,
mas não para o tema de sua fala. Para garantir que isso não aconteça, é preciso definir o objectivo
do discurso antes de estruturá-lo. Uma forma eficiente de determinar esse objectivo é seguir o
paradigma de Aristóteles e escolher entre informar, motivar ou persuadir.
Além de um objectivo definido, existem outros elementos necessários para a confecção de
um discurso eficiente. Os mais clássicos deles são os conceitos de Logos, Pathos e Ethos,
desenvolvidos por Aristóteles como os pilares da Oratória, anteriormente introduzidos.
LOGOS: é a capacidade de convencer através da racionalidade, demonstrando uma
argumentação intelectualmente coerente e embasada. No que diz respeito ao LOGOS, é
recomendado que o discurso seja construído pensando na coerência interna e, no contexto dos
debates competitivos, na integração com a bancada. Também é fundamental trazer dados que
corroborem seus argumentos e citar as fontes dessas informações para que a plateia possa verificá-
las.
PATHOS: é a capacidade de provocar emoções em uma plateia. É comum confundi-lo
com características da Oratória, como o uso da voz e a gesticulação que, de facto, são artifícios
fundamentais para despertar emoções nos espectadores do discurso, mas não abrangem a
totalidade desse conceito.
Uma parte considerável do PATHOS está na própria construção intelectual do discurso.
Quando um orador dedica parte da sua fala a relatar a situação de pessoas reais
Que são afectadas pelo tema que ele está a abordar, a plateia tende a parar de observar o discurso
como uma abstração e começa a desenvolver empatia. Para que essa estratégia funcione, é
importante que o orador seja honesto com suas emoções e demonstre que está verdadeiramente
comovido. Vale ressaltar que isto não é uma habilidade simples; atores levam anos de treinamento
para conseguir comunicar-se com a plateia a nível emocional. Algo que ajuda bastante é descrever
a situação com o máximo de detalhes que seu tempo permitir.
Outra técnica para despertar sentimentos é evocar memórias. Em um debate competitivo
você dificilmente vai ter informações sobre a vida pessoal dos debatedores e, mesmo que tenha,
não é aconselhável confrontá-los com questões de foro íntimo. Nesse contexto, o recomendável
seria apelar para a memória colectiva, tratando de figuras históricas ou questões culturais
compartilhadas por todos os ouvintes.
ETHOS: é a credibilidade do orador para falar sobre um determinado assunto; tudo que
faça o público acreditar que o orador em discurso é a pessoa mais adequada para falar sobre aquele
tema.
Três características que se destacam dentro desse conceito: a honestidade, o conhecimento
de causa e a polidez.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 31
LÍNGUA PORTUGUESA II
Mesmo que o orador conheça o assunto que está a abordar e se porte de forma polida, a
plateia resistir a compactuar com suas ideias se acreditar que ele tem interesses escusos. Por esse
motivo, demonstrar honestidade - é fundamental para o convencimento através do ETHOS.
Uma forma de transmitir esse valor é expor evidências de que o tema do discurso está
presente na vida do locutor há muito tempo ou que houve trabalho investido para chegar nas
conclusões apresentadas. Afinal existe uma tendência a acreditar que uma mentira não seria
sustentada com tanta dedicação ou por um período tão longo.
Para demonstrar conhecimento de causa, o básico é fazer um discurso
coerente, trazendo informações de fontes confiáveis.
Vale destacar que existem estratégias para que uma fala tenha mais impacto. O orador deve
informar o público caso tenha uma vivência ou formação acadêmica que lhe tenha provido uma
intimidade maior com o tema do discurso.
Deixar essas informações claras é fundamental para que a plateia perceba que ele tem uma
experiência além do comum sobre o assunto ao qual está se referindo.
O aspecto da polidez engloba vestimenta, terminologia em usos. Diferentes públicos vão
cobrar diferentes formas de expressão e, por vezes, a formalidade excessiva pode chegar a
distanciar o orador da plateia. Nesse sentido, é fundamental que o orador tenha algum
conhecimento sobre seus ouvintes para garantir que vai se portar de uma forma que eles
legitimariam como vinda de alguém que sabe muito sobre o tema.
5.7.1. Estruturas do Discurso
S.P.R.I
Essa estrutura tem, como principal objetivo, a transmissão dinâmica de informações
complexas. Costuma ser utilizada em exposições de inovações nas mais diversas áreas de actuação
profissional, sobretudo, na área tecnológica. Sua maior qualidade é a capacidade de capturar a
atenção de um público que seja leigo sobre o tema do discurso, mesmo quando é preciso falar
sobre o assunto de forma técnica e aprofundada.
Cada letra do S.P.R.I simboliza um momento do discurso que deve seguir exactamente a
ordem que as letras se apresentam na sigla.
• S ou SITUAÇÃO: é o momento introdutório do discurso onde o contexto das coisas é
apresentado de forma imparcial.
• P ou PROBLEMA: momento onde o orador deve focar seu discurso em alguma
adversidade que esteja presente na situação que ele apresentou anteriormente.
• R ou RESOLUÇÃO: a função da resolução é provar o valor da ideia que está sendo
apresentada, por isso é fundamental que fique claro como ela soluciona o problema. Nessa
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 32
LÍNGUA PORTUGUESA II
etapa da estrutura S.P.R.I, o debatedor vai falar sobre como a proposta que ele está
trazendo resolve o problema anteriormente citado. A resolução deve ser explicada de forma
simples e objectiva, pois na etapa seguinte o orador pode apresentar conceitos mais
complexos.
• I ou INFORMAÇÕES: é a etapa onde serão apresentadas informações mais complexas.
Os momentos anteriores serviram para provar o valor da proposta que está a ser
apresentada, demonstrando como elas resolvem um problema real. Nessa última fase,
quando o locutor já conquistou a atenção do ouvinte, as informações técnicas que, para um
público leigo poderiam ser tidas como monótonas, vão ser percebidas com mais atenção.
S.O.S.R.A
O discurso S.O.S.R.A é um convite a uma ação, é o modelo ideal para discursos que se
encerrem propondo que a plateia tome uma medida concreta e adote a proposta do debatedor para
mudar a situação em que eles se encontram. Assim como no modelo anterior, cada letra da sigla
S.O.S.R.A representa um momento da fala e esses momentos devem seguir a mesma ordem que
eles seguem no título da estrutura.
• S ou SITUAÇÃO: representa a exposição do contexto de forma abrangente.
• O ou OBSERVAÇÃO: é o momento no qual o debatedor se volta para algum aspecto
específico da situação que foi apresentada.
• S ou SENTIMENTOS: é a fase em que o locutor vai demonstrar as emoções que sente
em relação ao tema observado e vai tentar provocar sentimentos semelhantes naqueles que
o estiverem ouvindo.
• R ou REFLEXÃO: é o momento através do qual o orador vai expor o raciocínio que o
levou a acreditar nas medidas que ele vai apresentar na etapa seguinte. A ou
• A ou ACÇÃO: é a etapa onde será lançada uma proposta para mudar a realidade
apresentada na observação.
Essa proposta deve se amparar nas ideias apresentadas na etapa da reflexão e nas emoções
apresentadas na etapa dos sentimentos.
Estrutura Clássica
Estudiosos da Retórica como Cícero e Quintiliano chamavam-na de dispositio. Apesar de
ser uma estrutura pensada para uma realidade muito diferente da atual, o dispositio ainda pode ser
útil, sobretudo em debates que prezem pela polidez típica dos clássicos.
Abaixo, as etapas do dispositio serão apresentadas em ordem cronológica, já adaptando algumas
recomendações para o contexto dos debates competitivos.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 33
LÍNGUA PORTUGUESA II
Exordium: apresentação do principal argumento e das informações mais relevantes para o
discurso. No caso do primeiro orador da primeira defesa de um debate, essa também é a fase onde
se deve trazer a definição dos termos.
Narratio: humanização da situação. Nessa fase, o debatedor vai falar sobre as pessoas que estão
envolvidas nas questões que estão sendo debatidas, é recomendável expor os vícios daqueles que
estiverem sendo acusados ou as virtudes daqueles que estão sendo defendidos, afinal essa fase do
discurso é fundamental para provocar sentimentos.
Divisio ou Partitio: nesse momento, o orador vai expor seus argumentos secundários
que não tiveram força suficiente para ser incluídos no exordium.
Confirmatio: momento onde são fornecidas provas para as informações apresentadas no
exordium, no narratio e no divisio. É recomendável citar fontes como pesquisas científicas,
reportagens e evidências empíricas que agreguem credibilidade ao discurso.
Confutatio: refutação de possíveis argumentos que tenham surgido como contraponto aos seus.
Caso o orador em discurso seja o primeiro do debate, essa etapa pode ser reservada para antecipar
e refutar previamente alguns dos argumentos mais óbvios que poderiam ser trazidos pelas outras
bancadas.
Peroratio: momento de conclusão que deve trazer um fechamento memorável para que a plateia
continue reflectindo sobre o discurso mesmo depois que ele se encerre. Caso haja disponibilidade
de tempo, é recomendável recapitular os principais argumentos antes da conclusão propriamente
dita.
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 34
LÍNGUA PORTUGUESA II
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Bechara, E. (2009). Moderna gramática portuguesa (37.ª ed.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
Cunha, C., & Cintra, L. (2014). Nova Gramática do Português Contemporâneo (21ª ed.). Lisboa:
JSC.
Florido, M. B., & Silva, M. E. (1986). Novos caminhos para a linguagem 3. Lisboa: Porto editora.
Galvão, C. M. (2014). Ensino do Português como segunda língua. Coimbra: ESEC.
Gonçalves, L. A., & Silva, P. B. (2004). O jogo das diferenças: o multiculturalismo e seus
contextos (3. ed ed.). Belo Horizonte: Autêntica.
Lopes, L. P. (2002). Identidades Fragmentadas: a construção discursiva de raça, gênero e
sexualidade em sala de aula. Campinas, SP: Mercado de Letras.
Mateus, M. H., & Cardeira, E. (2007). Norma e Variação. Luanda: Editorial Nzila.
Miguel, M. H., & Alves, M. A. (2016). Saber +: Manual de Língua Portuguesa para o ensino
universitário. Luanda: Norprint.pt.
Mota, K., & Denise, S. (2004). Recortes Interculturais na Sala de Línguas Estrangeiras. Salvador,
BA: EDUFBA.
Neto, T. d. (2014). História da Educação e Cultura de Angola. Luanda: Zaina Editores.
Quinta, J., Brás, J., & Gonçalves, M. N. (2017). O Umbundo no poliedro linguístico angolano: a
Língua Portuguesa no entrelaçamento do colonialismo e pós-colonialismo. Revista
Lusófona de Educação.
Semprini, A. (1999). Multiculturalismo. São Paulo: EDUSC.
Souza, L. (2015). O Aprendizado de uma segunda língua (espanhol) pensado a partir da educação
sociocomunitária e do multiculturalismo. São Paulo: Centro Universitário Salesiano .
Inocêncio Fortunato Kuyanga – ifkuyanga@gmail.com 35
Você também pode gostar
- Gramática Do Tétum PDFDocumento194 páginasGramática Do Tétum PDFGiulia Viana LimaAinda não há avaliações
- Definição de L1, LM, L2, LV, LE, LP, LODocumento13 páginasDefinição de L1, LM, L2, LV, LE, LP, LOAmisse Manuel MutucaAinda não há avaliações
- Apostila Assistente Financeiro - Comunicação e Linguagem - 2020Documento42 páginasApostila Assistente Financeiro - Comunicação e Linguagem - 2020FabianoFariaAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura - VariedadeDocumento3 páginasFicha de Leitura - VariedadeGildo Joaquim FranciscoAinda não há avaliações
- Trabalho de Línguas em SociedadeDocumento14 páginasTrabalho de Línguas em SociedadeGreezy Tha RapfobiaAinda não há avaliações
- SociolinguisticaDocumento11 páginasSociolinguisticaMalq Rafa100% (1)
- A Didatica Como CienciaDocumento21 páginasA Didatica Como CienciaHelfas SamuelAinda não há avaliações
- Estudos Da LinguagemDocumento25 páginasEstudos Da LinguagemPedro VieiraAinda não há avaliações
- Conceitos LínguaDocumento11 páginasConceitos LínguaDebisDuarteAinda não há avaliações
- SociolinguisticaDocumento15 páginasSociolinguisticaJoel PaculeAinda não há avaliações
- CASTRO, Maria Lúcia Souza. O Ensino Da Língua Materna Sob A Perspectiva Docente A Diglossia Na EscolaDocumento11 páginasCASTRO, Maria Lúcia Souza. O Ensino Da Língua Materna Sob A Perspectiva Docente A Diglossia Na EscolaLorenzo Galahad FerdnandsAinda não há avaliações
- Variações Linguísticas São Diferenças Que Uma Mesma Língua Apresenta Quando É UtilizadaDocumento9 páginasVariações Linguísticas São Diferenças Que Uma Mesma Língua Apresenta Quando É UtilizadaDinis Miguel MatsinheAinda não há avaliações
- BilinguismoDocumento10 páginasBilinguismoDinis Miguel Matsinhe100% (1)
- Guilherme,+7428 18993 1 LEDocumento19 páginasGuilherme,+7428 18993 1 LECarlos Maula MuribaAinda não há avaliações
- DAFS 2.º Cap 1 LÍNGUA PORTUGUESA PORTUGUÊS I I ACT ACT - CAPITULO 1Documento14 páginasDAFS 2.º Cap 1 LÍNGUA PORTUGUESA PORTUGUÊS I I ACT ACT - CAPITULO 1FilipeAinda não há avaliações
- Didatica L BDocumento17 páginasDidatica L BIlidio SamboAinda não há avaliações
- LIBRAS - Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua PortuguesaDocumento96 páginasLIBRAS - Tradutor e Intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua Portuguesaapi-26019392100% (2)
- Anexo - Portugues - Teste de Nivelamento 2017-1Documento8 páginasAnexo - Portugues - Teste de Nivelamento 2017-1MICAELLA FERNANDESAinda não há avaliações
- O Tradutor e Interprete de Lingua Brasileira de Sinais e Lingua PortuguesaDocumento89 páginasO Tradutor e Interprete de Lingua Brasileira de Sinais e Lingua PortuguesajtibAinda não há avaliações
- Distincao de Língua e ComunicacaoDocumento13 páginasDistincao de Língua e ComunicacaoONOFRE COMBUSTÍVEISAinda não há avaliações
- Bilinguismo 3Documento11 páginasBilinguismo 3Anabela Graça LopesAinda não há avaliações
- Sociolinguística RevistaDocumento4 páginasSociolinguística RevistaArlindo Vasco BaloiAinda não há avaliações
- Apostila de LibrasDocumento108 páginasApostila de LibrasDeniza Eh Junior100% (1)
- Variação Linguística É Cada Um Dos Sistemas em Que Uma Língua Se DiversificaDocumento12 páginasVariação Linguística É Cada Um Dos Sistemas em Que Uma Língua Se Diversificaedilsonelias manhiçaAinda não há avaliações
- Libras Linguanguem Brasileira de SinaisDocumento45 páginasLibras Linguanguem Brasileira de SinaisRafael Henrique Jähnert VandresenAinda não há avaliações
- Singularida e UniversalidadeDocumento14 páginasSingularida e UniversalidadeBarberAinda não há avaliações
- GROSJEAN - Bilinguismo IndividualDocumento14 páginasGROSJEAN - Bilinguismo IndividualvitorjochimsAinda não há avaliações
- Apostila - 1Documento104 páginasApostila - 1Everton AssariceAinda não há avaliações
- 1 - Língua e Comunidade Linguística - FiDocumento1 página1 - Língua e Comunidade Linguística - FicibermammypAinda não há avaliações
- BilinguismoDocumento3 páginasBilinguismoGisele FrighettoAinda não há avaliações
- Nota de Aula 1Documento5 páginasNota de Aula 1rayane thaynara santosAinda não há avaliações
- Proficiencia Ingles Prova Mestrado 09 10Documento5 páginasProficiencia Ingles Prova Mestrado 09 10rlfacanhaAinda não há avaliações
- Comunicacao Oral e EscritaDocumento30 páginasComunicacao Oral e EscritaRaquel Almeida0% (1)
- Conceitos de LínguaDocumento3 páginasConceitos de LínguaAdolfo Taliano da MartaAinda não há avaliações
- Contribuiçoes Da SociolinguisticaDocumento5 páginasContribuiçoes Da SociolinguisticaluinalvanonatoAinda não há avaliações
- Mundo LusofonoDocumento9 páginasMundo LusofonoRafael Hélder MartinhoAinda não há avaliações
- Comunidade Linguistica TrabalhoDocumento10 páginasComunidade Linguistica TrabalhoCelio Do Rosario MarianoAinda não há avaliações
- Comunicação e Linguagem - ApostilaDocumento45 páginasComunicação e Linguagem - ApostilaM100% (1)
- 2008-08-14 03 Variacao LinguisticaDocumento6 páginas2008-08-14 03 Variacao LinguisticaUbirajara da S Santos100% (90)
- Apostila de LTT - Profa. Ana Paula Oliveira.Documento72 páginasApostila de LTT - Profa. Ana Paula Oliveira.raridadeduda100% (1)
- Apostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 35Documento45 páginasApostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 35Lays MacedoAinda não há avaliações
- Linguística GeralDocumento82 páginasLinguística Geraladriane stAinda não há avaliações
- Conceitos Básicos de LínguasDocumento7 páginasConceitos Básicos de LínguasBreno FernandesAinda não há avaliações
- Gramática Da Língua PortuguesaDocumento40 páginasGramática Da Língua PortuguesaAmone UetimaneAinda não há avaliações
- SLHTJ 2. Ficha 2Documento3 páginasSLHTJ 2. Ficha 2Domingos CamassaAinda não há avaliações
- BenildeDocumento5 páginasBenildeMateus Jaime ChaimaAinda não há avaliações
- O Que É Uma LínguaDocumento2 páginasO Que É Uma LínguaJay Klender Worses100% (3)
- Apostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 4Documento42 páginasApostila Lingua Brasileira de Sinais Libras 4Jean RodriguesAinda não há avaliações
- Letramento em LibrasDocumento44 páginasLetramento em LibrasNatália AraújoAinda não há avaliações
- Manual de Lingua Portuguesa - SapequeteleDocumento24 páginasManual de Lingua Portuguesa - Sapequetelemanuelsapequetelegmail.com sapequetelemanuelAinda não há avaliações
- Variação Linguística-571326a723a14ff3912782249a9e1 240408 140850Documento2 páginasVariação Linguística-571326a723a14ff3912782249a9e1 240408 140850Lexi LimaAinda não há avaliações
- Biliguismo 2Documento11 páginasBiliguismo 2Anabela Graça LopesAinda não há avaliações
- Aquisição E Desenvolvimento Da Linguagem Do Bebê SurdoNo EverandAquisição E Desenvolvimento Da Linguagem Do Bebê SurdoAinda não há avaliações
- Variação Lexical na Sala de Aula: Uma Proposta SociolinguísticaNo EverandVariação Lexical na Sala de Aula: Uma Proposta SociolinguísticaAinda não há avaliações
- Índio não fala só tupi: uma viagem pelas línguas dos povos originários no BrasilNo EverandÍndio não fala só tupi: uma viagem pelas línguas dos povos originários no BrasilAinda não há avaliações
- Discriminação E Preconceito Linguístico Em Relação As Variedades Da Língua EspanholaNo EverandDiscriminação E Preconceito Linguístico Em Relação As Variedades Da Língua EspanholaAinda não há avaliações
- O sujeito nulo no português popular da BahiaNo EverandO sujeito nulo no português popular da BahiaAinda não há avaliações
- Análise e história da língua portuguesa: Uma vida entre palavrasNo EverandAnálise e história da língua portuguesa: Uma vida entre palavrasAinda não há avaliações
- Bilinguismo Bimodal em Surdos: um estudo de casoNo EverandBilinguismo Bimodal em Surdos: um estudo de casoAinda não há avaliações
- Considerações Sobre o Ensino de Pronúncia Do Inglês Como Língua Internacional A Falantes Do Português BrasileiroDocumento11 páginasConsiderações Sobre o Ensino de Pronúncia Do Inglês Como Língua Internacional A Falantes Do Português BrasileiroMARCELAAinda não há avaliações
- Fraseologia e Paremiologia - Múltiplas AbordagensDocumento368 páginasFraseologia e Paremiologia - Múltiplas AbordagensHelena Ferreira100% (1)
- 50 Dicas para A Conversação em InglêsDocumento15 páginas50 Dicas para A Conversação em InglêsAnonymous N22tyB6UN100% (1)
- Planej.1o Bim. Ingles 1o Ao 5o AnoDocumento5 páginasPlanej.1o Bim. Ingles 1o Ao 5o Anorenata souzaAinda não há avaliações
- Prova 2Documento3 páginasProva 2rayane thaynara santosAinda não há avaliações
- Planejamento Trimestral Maghy-Língua InglesaDocumento21 páginasPlanejamento Trimestral Maghy-Língua Inglesamaghy carvalhoAinda não há avaliações
- Artigo Cientifico - Preconceito LinguísticoDocumento19 páginasArtigo Cientifico - Preconceito LinguísticoÍtalo SilvaAinda não há avaliações
- 1598-8estudo Do Vocabulario 2Documento24 páginas1598-8estudo Do Vocabulario 2belucha NhatsodoAinda não há avaliações
- Comentario Sobre A ObraDocumento3 páginasComentario Sobre A ObraReris Adacioni de Campos dos SantosAinda não há avaliações
- Tese Mestrado - SusanaChavesSilvaDocumento70 páginasTese Mestrado - SusanaChavesSilvaEverton EsdrasAinda não há avaliações
- Portaria 20-DECEX de 11fev16 Novos Descritores-CompactadoDocumento13 páginasPortaria 20-DECEX de 11fev16 Novos Descritores-CompactadoEdilson de SousaAinda não há avaliações
- W MorfologiaDocumento11 páginasW MorfologiaGOSMEAinda não há avaliações
- A Fonética Como Importante Componente Comunicativo para o Ensino de Língua EstrangeiraDocumento11 páginasA Fonética Como Importante Componente Comunicativo para o Ensino de Língua EstrangeiraedipoAinda não há avaliações
- Caderno de MatemáticaDocumento102 páginasCaderno de MatemáticaARLINDOAinda não há avaliações
- Luizato, Gerente Da Revista, 8 Leitura Literária e Análise Linguística 312 - 323Documento12 páginasLuizato, Gerente Da Revista, 8 Leitura Literária e Análise Linguística 312 - 323Maurizio MorelliAinda não há avaliações
- Teste I de Didactica Das Linguas Bantu - Anabela Manuel Waite TesouraDocumento4 páginasTeste I de Didactica Das Linguas Bantu - Anabela Manuel Waite TesouraTavares BernardoAinda não há avaliações
- O Ensino de Gramática À Luz de VygotskyDocumento11 páginasO Ensino de Gramática À Luz de VygotskyWlanderson MirandaAinda não há avaliações
- Documento Base Do Exame Celpe-Bras PDFDocumento135 páginasDocumento Base Do Exame Celpe-Bras PDFConstanza Villa100% (1)
- Aula 01Documento6 páginasAula 01Cleide Rodrigues RodriguesAinda não há avaliações
- Ingles Instrumental - Aula-1Documento19 páginasIngles Instrumental - Aula-1Livan ReisAinda não há avaliações
- Tempo KaingangDocumento14 páginasTempo KaingangVanderlei OrsoAinda não há avaliações
- Slides - Histórico Da Educação Dos SurdosDocumento23 páginasSlides - Histórico Da Educação Dos SurdosLarissa NobreAinda não há avaliações
- Trabalho de BilinguismoDocumento15 páginasTrabalho de BilinguismoJoaquim Saldeira ManuelAinda não há avaliações
- Lidando Com Os ErrosDocumento20 páginasLidando Com Os ErrosFábioHenriqueAinda não há avaliações
- Por Que Os Brasileiros Devem Aprender EspanholDocumento7 páginasPor Que Os Brasileiros Devem Aprender EspanholElaine Guimaraes100% (3)
- Metodologia Do Ensino Da LPortuguesa e EstrangeiraDocumento33 páginasMetodologia Do Ensino Da LPortuguesa e EstrangeiraFabrício FerrettiAinda não há avaliações
- O Processo de Ensino-Aprendizagem Do PortuguêsDocumento22 páginasO Processo de Ensino-Aprendizagem Do PortuguêsLEMMY RICHAinda não há avaliações
- Almeida Ensino BilingueDocumento10 páginasAlmeida Ensino BilingueTiago de AguiarAinda não há avaliações
- Spoken English 01Documento24 páginasSpoken English 01Angélica Larocca TroostAinda não há avaliações