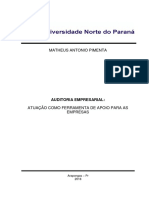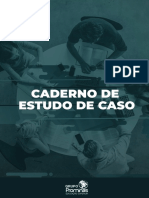Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Monoadm 07
Monoadm 07
Enviado por
Luciana Roberta CastroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Monoadm 07
Monoadm 07
Enviado por
Luciana Roberta CastroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FACULDADE DINMICA DAS CATARATAS CURSO DE ADMINISTRAO GESTO DA QUALIDADE
ANTONIO BARRIOS JASON J. JACINTO MARCOS MARTINS
IMPLANTAR A GESTO DA QUALIDADE E OS CONTROLES FINANCEIROS EM UMA MICRO EMPRESA O caso Supermercado Martins TCC Trabalho de Concluso de Curso
FOZ DO IGUAU 2007
ANTONIO BARRIOS JASON J. JACINTO MARCOS MARTINS
IMPLANTAR A GESTO DA QUALIDADE E OS CONTROLES FINANCEIROS EM UMA MICRO EMPRESA O caso Supermercado Martins
Relatrio de Estgio supervisionado II, apresentado a disciplina de Estgio II, do curso de Graduao em Administrao com Habilitao em Gesto da Qualidade, da Faculdade Dinmica das Cataratas UDC. Orientador: Emerson Orcini Ferrari
FOZ DO IGUAU 2007
TERMO DE APROVAO UNIO DINMICA DE FACULDADES CATARATAS CURSO DE ADMINISTRAO NFASE EM QUALIDADE
Sistemas de Informao Gerencial na Financeira Supermercado Martins TRABALHO DE CONCLUSO DE CURSO PARA OBTENO DO TTULO DE BACHAREL EM ADMINISTRAO
________________________________________ Orientador: Prof. Emerson Orcini Ferrari
Banca Examinadora:
________________________________________ Emerson Ferrari
________________________________________
Foz do Iguau, 05 de novembro de 2007.
Os computadores so incrivelmente rpidos, precisos e burros; os homens so incrivelmente lentos, imprecisos e brilhantes; juntos, seu poder ultrapassa os limites da imaginao. Albert Einstein
Dedicamos este trabalho aos nossos pais, esposas e companheiras, nossos familiares e filhos e filhas que nos ajudaram na nossa formao, respeito, tica, carter e responsabilidade, conhecimento. Aos mestres e professores que colaboraram para este trabalho se realizar.
Agradeo
primeiro
Deus,
aos
Diretores,
funcionrios e clientes do Supermercado Martins pela oportunidade de aprender a importncia dentro de uma empresa.. Aos colaboradores que ajudaram a formular e analisar os problemas. Ao prof. Orientador Emerson Orcini, aos demais professores que contriburam ao longo dos perodos de aula e ao mestre Neron Alpio Cortes Berghauser
Resumo
Na atualidade, a competitividade est inserida em todos os setores atingindo tambm o universo das pequenas empresas. Neste contexto, o gerente necessita estar on-line com as informaes de sua empresa e pronto para tomar as decises que afetar ou beneficiar a empresa. Os concorrentes trabalham com margens cada vez menores e preos competitivos para conseguir atrair clientes e manter os atuais. Os clientes sentem todas as decises e so bombardeados por informaes e a empresa necessita, alm de competir em preos, ela deve ter diferencial competitivo para manter o cliente satisfeito. Por isso o planejamento importante e a empresa deve ter meios de controlar tudo o que est acontecendo na empresa. Este trabalho apresenta um conjunto de aes propostas para uma pequena empresa do ramo comercial, como forma de buscar a sua estabilidade financeira. Para que isto fosse alcanado, foi proposta a implantao de um sistema computacional de controle gerencial, no qual buscou-se dar nfase nas ferramentas de gesto financeira. Trata-se de um estudo de natureza exploratria, do tipo estudo de caso para o qual foram utilizadas fontes primrias (entrevistas com o proprietrio) e secundrias do tipo bibliogrficas. Procurou-se com a implantao do sistema de informao gerencial oferecer, ao proprietrio, uma forma de controle que possa ser facilmente utilizada e que possa gerar resultados positivos para a empresa. Para a anlise financeira da empresa, foram utilizadas as regras denominadas pelo Modelo de Kanitz para avaliao do ndice de Solvncia da empresa. Palavras-Chave: Gesto Financeira. Mtodo de Kanitz. Sistema de Informao.
ABSTRACT
Competitiveness is embedded in all sectors also reaching the universe of small businesses, today. In this context, the manager must be on-line with its business information and ready to take the decisions that affect or benefit the company. Competitors works with ever lower margins and competitive prices to attract customers, achieve and maintain ones. Customers feel all decisions and are pressed by information and the company needs to compete in price than it should have competitive differential to keep the customer satisfied. So the planning is important and should be equipped to monitor everything that is happening in the company. This research presents a set of actions proposed for a small commercial company, as a way to seek its financial stability. For this to be achieved it was proposed to establish a computer system to the management control, which sought to provide emphasis on the tools of financial management. This is an exploratory research, case study for which the primary sources were used (interview with the owner) and secondary-type literature. With the information system management deployment tried to offer, to the owner, a way of control that can be easily used and can generate positive results to the company. For the financial analysis, were used the rules called Kanitz Model for evaluation of the Solvency index of the company. Keywords: Financial Management. Kanitz Method. Information System.
SUMRIO 1 INTRODUO .......................................................................................................11 1.1 CADASTRO DA EMPRESA ................................................................................11 1.2 IDENTIFICAO DOS ACADMICOS ...............................................................12 1.3 TEMA ..................................................................................................................13 1.4 DEFINIO DOS PROBLEMAS OU OPORTUNIDADES ..................................13 1.5 DELIMITAO DO TRABALHO .........................................................................13 1.6 OBJETIVOS ........................................................................................................13 1.6.1 Objetivos Gerais .............................................................................................14 1.6.2 Objetivos Especficos ....................................................................................14 1.7 JUSTIFICATIVA ..................................................................................................14 1.8 ESTRUTURA DO TRABALHO............................................................................15 2 FUNDAMENTAO TERICA .............................................................................16 2.1 ADMINISTRAO ..............................................................................................16 2.2 PLANEJAMENTO ...............................................................................................17 2.3 TIPOS DE PLANEJAMENTO..............................................................................18 2.3.1 Planejamento Estratgico..............................................................................18 2.3.2 Planejamento Ttico.......................................................................................19 2.3.3 Planejamento Operacional ............................................................................19 2.4 SISTEMAS DE INFORMAO ...........................................................................20 2.4.1 Estruturao de um Sistema de Informao................................................21 2.4.2 Componentes de um Sistema .......................................................................22 2.4.3 Tipos de um Sistema de Informao ............................................................23 2.4.4 Sistema de Informao Gerencial .................................................................24 2.4.5 Anlise dos Requisitos Funcionais ..............................................................26 2.4.6 Recursos dos Sistemas de Informao........................................................28 2.4.7 Implantao de um SIG..................................................................................29 2.5 CRITRIOS PARA A AVALIAO DE ESTOQUE .............................................29 2.6 ADMINISTRAO FINANCEIRA........................................................................30 2.7 DEMONSTRAO FINANCEIRA .......................................................................31 2.7.1 BALANO PATRIMONIAL..............................................................................32 2.7.2 DEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO..................................32 2.8 INDICADORES FINANCEIROS ..........................................................................34 2.8.1 ndices de Liquidez ........................................................................................34
2.8.2 ndices do Endividamento .............................................................................35 2.8.3 Endividamento Geral (EG) .............................................................................35 2.9 NDICES DE LUCRATIVIDADE OU RENTABILIDADE ......................................36 2.9.1 Retorno sobre o Patrimnio Lquido ............................................................36 2.9.2 Retorno sobre o Ativo Total (ROA) ..............................................................37 2.10 DETERMINAO DE SOLVNCIA ..................................................................37 2.11 ORGANOGRAMA .............................................................................................39 2.12 FLUXOGRAMA .................................................................................................40 2.12.1 Tipos de Fluxograma ...................................................................................41 2.12.2 Vantagens e Desvantagens do Fluxograma ..............................................41 2.13 TREINAMENTO ................................................................................................42 2.13.1 Treinamento no Trabalho ............................................................................43 2.13.2 Treinamento Formal Interno........................................................................44 2.13.3 Treinamento Formal Externo.......................................................................44 2.13.4 Treinamento Distncia ..............................................................................45 2.14 FERRAMENTA 5W2H.......................................................................................45 2.15 ANLISE SWOT ...............................................................................................46 3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS...............................................................47 4 DIAGNSTICO ......................................................................................................48 4.1 HISTRICO DA EMPRESA ................................................................................48 4.2 SITUAO ATUAL DA EMPRESA .....................................................................49 4.3 POLTICAS GERENCIAIS...................................................................................50 4.4 FATURAMENTO E COBRANA ........................................................................50 4.5 DESENVOLVIMENTO DOS CLCULOS FINANCEIROS ..................................52 4.6 PESQUISA / QUESTIONRIO............................................................................54 4.7 FLUXOGRAMA ATUAL DO PROCESSO FINANCEIRO ....................................61 4.8 ANLISE DO AMBIENTE ORGANIZACIONAL / SWOT.....................................63 5 PROPOSIES DE MELHORIA...........................................................................66 5.1 IMPLANTAR NOVO SISTEMA FINANCEIRO INFORMATIZADO ......................66 5.2 TREINAMENTO PARA A EQUIPE......................................................................67 5.3 PLANO DE AO ...............................................................................................67 5.4 OTIMIZAO NA FORMA DE MARCAO DE PREO DE VENDA................68 6 CONSIDERAES FINAIS ...................................................................................69 REFERNCIAS.........................................................................................................70
11
1 INTRODUO
Na atualidade o mercado financeiro est voltado no mais apenas para o aumento de sua receita, mas isso sim passou a ser um desafio aos gestores de categoria em buscar mtodos prticos e eficientes para atender essas mudanas e anseios onde o cliente se torna dentro desse contexto cada vez mais exigente. A misso, a viso e os valores da organizao devem estar fixados de forma prtica sendo assim o administrador no processo de gesto de qualidade tem consigo um trao que um estilo voltado a vencer, estar frente de todo e qualquer sinistro que possa ocorrer na sua unidade de negcio. Para isso, v-se uma sociedade voltada a estudar, mapear, planejar para atender a todas essas mudanas mercadolgicas. Atravs deste trabalho de busca e atendimento intensivo em estabelecer a satisfao de seu cliente, deve-se perder a miopia em relao ao pensamento de se trabalhar em um mercado competitivo e sem controles financeiros, tendo consigo ento uma organizao que no pode dar respostas rpidas. O profissional com a sua viso voltada a ter o controle de todas as atividades da empresa estar apto a manter sua empresa melhor que a concorrncia. Acredita-se que a busca de um planejamento gerencial definido, um controle financeiro, e um plano de vendas, que busque orientar os vendedores em relao aos e clientes. Trabalhar a estratgia de compras, e maior competitividade no mercado interno procurando avaliar todos os fatores que nos leve a oferecer produtos de qualidade com o reforo do nome da empresa e a garantia de que os clientes tero um parceiro.
Identificao da Unidade Concedente do Estgio 1.1 Cadastro da Empresa
Razo Social: Nome fantasia: Ramo atividades:
Mercado Martins Secos e Molhados Supermercado Martins Secos e molhados
12
Localizao: CEP: Telefone: Data da Fundao: Proprietrio:
Avenida Ado Arcngelo Dal Bem, 1240 Brasilndia do Sul - Pr 87.595 -000 (44) 3654-1223 26/05/1975 Miguel Martins
Nmero atual de colaboradores: 6 (quatro) Porte da empresa: rea total: Estrutura organizacional: Horrio trabalho: horrio comercial 08:00 h s 19:00 h. Micro empresa em crescimento. 180m
1.2 Identificao dos Acadmicos
Nome: Antonio Barrios Endereo: Rua Marta Freiertag N. 792, Jardim Panorama II Foz do Iguau. Telefone Residencial: 45- 3525-1035 Telefone Comercial: 45 3523-0816 Celular: 45 8802- 2711 E-mail: btoninho@hotmail.com Nome: Jason Jonathan Jacinto Endereo: Rua Belarmino de Mendona N. 710, Ap 2001, Centro Foz do Iguau. Telefone Residencial: 45- 3523-2559 Telefone Comercial: 45 3522-2000 Celular: 45 9111- 0500 E-mail: br_jason@hotmail.com
13
Nome: Marcos Martins Endereo: Rua Belarmino de Mendona n. 931, Centro Foz do Iguau. Telefone Residencial: 45- 3572-0332 Celular: 45 9915-0079 E-mail: marcosm12003@yahoo.com.br
1.3 Tema Sistemas de Informao Gerencial com foco no planejamento gerencial financeiro para buscar oportunidades do mercado no qual a empresa atua e aumentar a sua lucratividade.
1.4 Definio do Problema ou Oportunidade
Com um sistema de informao gerencial focado num planejamento financeiro definido e aplicvel s condies da empresa, como o desempenho financeiro pode colaborar para que a empresa se mantenha no mercado gerando lucros. Estaria a empresa aplicando a gesto financeira correta?
1.5 Delimitao do trabalho
Este trabalho foi realizado voltado para a rea de Sistemas de Informaes Gerenciais, com enfoque na Gesto Financeira da empresa Supermercado Martins da cidade de Brasilndia do Sul, as pesquisas foram feitas durante o ano de 2007.
1.6 Objetivos Aqui so abrangidos alguns fatores que proporcionam um maior
entendimento do trabalho em si. Neste tpico, so abordados os Objetivos Gerais e os Objetivos Especficos.
14
1.6.1Objetivo Geral Propor um planejamento financeiro e elaborar uma estratgia aplicada qualidade gerencial para que a empresa Supermercado Martins tenha um controle sobre seus movimentos financeiros, vendas, compras, banco, caixa e rendimentos.
1.6.2 Objetivos Especficos a) Fazer um diagnstico da empresa com enfoque na implantao de um Sistema de Informaes Gerenciais. b) Avaliar a capacidade de gerenciamento financeiro e de rendimento da empresa. c) Aplicar um modelo de qualidade para a gesto financeira da empresa
1.7 Justificativa
Para o sucesso das aes comerciais, vendas, financeiro, marketing e novos servios, a empresa deve ter capacidade de honrar seus compromissos financeiros, traar estratgias que melhorem o desempenho dos funcionrios, ser competitivo no mercado, oferecer valores aos clientes e manter a fidelidade dos clientes e fornecedores. Para que a empresa desempenhe seu papel ela deve ter controle de suas finanas, que esses controles sejam confiveis para dar suporte s tomadas de deciso. Essas decises que influenciaro os preos dos produtos, a qualidade dos produtos e dos funcionrios, a variedade de produtos, condies de pagamentos de compras e vendas e necessidades especiais de clientes. Com isso a empresa se posicionara de forma a atender todos os objetivos os seus objetivos com seus clientes, fornecedores e acionistas da empresa. No h dvidas que a empresa deve melhorar seus controles para que isso reflita em benefcios para gerar satisfao dos clientes e gere lucros para a empresa. Esta preocupao deve estar presente em todo o conjunto da empresa, desde sua gerncia, reas de suporte, passando pela rea de vendas, departamento pessoal e
15
que as metas e objetivos gerais e os especficos tenham estritamente o significado de evoluir.
1.8 Estrutura do trabalho
A estrutura do trabalho de Concluso de curso - TCC est estruturado da seguinte forma: introduo no qual so declarados contextos, problemas, justificativas e objetivos. Em continuidade, no segundo captulo esta contida a reviso de literatura, que so os conceitos tericos referentes ao tema estudado para suporte da pesquisa em estudo. No captulo terceiro so descritos os procedimentos metodolgicos referentes pesquisa bem como os instrumentos para sua realizao. O quarto captulo apresenta a empresa em estudo Supermercado Martins. No quinto captulo so apresentadas s proposies de melhoria, as consideraes finais com indicaes com propostas para futuros trabalhos.
16
2 FUNDAMENTAO TERICA Neste tpico foram aplicadas algumas ferramentas-chave para o
entendimento do trabalho em si. Nele, comentado sobre Administrao, Administrao financeira, Planejamento, sistema de informao, fluxograma, organograma, treinamento, mtodos de solvncia, demonstrativos de resultados e balanos.
2.1 Administrao
Chiavenato (2004) comenta que a palavra Administrao vem do latim ad (direo, tendncia para) e minister (subordinao ou obedincia), e significa aquele que realiza uma funo abaixo do comando de outro, aquele que presta servio a outro. A tarefa da Administrao interpretar os objetivos propostos pela organizao e transform-los em ao organizacional por meio do planejamento, organizao, direo e controle de todos os esforos realizados em todas as reas e em todos os nveis da organizao, a fim de alcanar tais objetivos da maneira mais adequada. Assim, a Administrao o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos a fim de alcanarem objetivos. Isto , a palavra administrao diz respeito a uma atividade que se realiza sob o comando de outro, de uma ao dispensada a outro em razo de autoridade. A administrao a arte de realizar objetivos atravs de pessoas. Chiavenato (2004) afirma que a Administrao um fenmeno universal no mundo moderno. Cada organizao e empresa requer uma tomada de deciso, a coordenao de mltiplas atividades, conduo de pessoas, avaliao do desempenho dirigido a objetivos determinados, obteno e alocao de diferentes recursos etc. Numerosas atividades administrativas desempenhadas por diversos administradores, voltadas para tipos especficos de reas e de problemas, precisam ser realizadas em cada organizao ou empresa. O profissional pode ser um engenheiro, um economista, um contabilista, um mdico etc. necessrio conhecer profundamente a sua especialidade. Mas, no momento em que promovido a supervisor, chefe, gerente ou diretor, exatamente a partir desse momento, ele deve ser administrador. Precisa ento dedicar-se a uma srie de responsabilidades que
17
lhe exigiro conhecimentos e posturas completamente novos e diferentes que a sua especialidade no lhe ensinou em momento algum. Da o carter universal da Administrao: cada empresa necessita no de um administrador apenas, mas de uma equipe de administradores em vrios nveis e nas suas vrias reas e funes para levarem adiante as diversas especialidades dentro de um conjunto integrado e harmonioso de esforos em direo aos objetivos da empresa. Como o administrador no o executor, mas o responsvel pelo trabalho dos outros, ele no pode se dar ao luxo de errar ou de arriscar apelando para estratagemas de ensaio-e-erro, j que isto implicaria conduzir seus subordinados pelo caminho menos indicado. O administrador um agente de mudana e de transformao das empresas, levando-as a novos rumos, novos processos, novos objetivos, novas estratgias, novas tecnologias; um agente educador no sentido de que, com sua direo e orientao, modifica comportamentos e atitudes das pessoas; um agente cultural na medida em que, com o seu estilo de Administrao, modifica a cultura organizacional existente nas empresas. A Administrao no um fim em si mesmo, mas um meio de fazer com que os trabalhos sejam realizadas da melhor forma possvel, com o menor custo e com a maior eficincia e eficcia (CHIAVENATO, 2004). O objetivo da administrao da qualidade consiste em alavancar a produtividade e a competitividade da empresa, maximizando sua rentabilidade. A avaliao da qualidade realizada, quantitativamente, por meio de ndices que medem resultados da empresa em vrias reas.
2.2 Planejamento
Segundo o dicionrio Aurlio planejamento, trabalho de preparao para qualquer empreendimento, segundo roteiro e mtodos determinados; planificao: Mas aps tantas formulaes chega um determinado ponto em que os indivduos envolvidos no processo pela qual visa extremamente realizao da empresa onde esta inserida e conseqentemente seus co-participantes, podem observar certas indagaes sobre o trabalho sua ao, desempenho, performance de forma a no entender a finalidade da ferramenta, mostrando a maneira exata de mostrar como ocorre isso. PORTER (1986) afirma que no meio empresarial, temos
18
varias foras adversas que interpem-se entre ns e nosso objetivos, motivo qual se torna mxima necessidade de elaborar um bom planejamento. J para (Pinho, 2005) planejamento , ainda, um processo contnuo, um exerccio mental que executado pela empresa independentemente da vontade especfica de seus executivos. E completa Lacombe (2004) que, para um bom planejamento necessrio um plano contingente, ou plano B, isto , um plano para ser usado no caso do plano principal ter que ser trocado em funo de mudanas nos ambientes externo ou interno.
2.3 Tipos de Planejamento
Nos grandes nveis hierrquicos, podem-se distinguir trs tipos de planejamento: a) Planejamento estratgico; b) Planejamento ttico; c) Operacional.
2.3.1 Planejamento Estratgico
Planejamento
Estratgico,
explica
Pinho
(2005),
processo
administrativo que proporciona sustentao metodolgica para se estabelecer a melhor direo a ser seguida pela empresa, visando a otimizado grau de interao com o ambiente e atuando de forma inovadora e diferenciada. De acordo com Lacombe:
[...] o planejamento estratgico deve definir os rumos do negcio e, portanto, responder pergunta: qual o nosso negcio e como deveria slo?" Seu propsito influenciar os ambientes internos e externos, a fim de assegurar o desenvolvimento timo de longo prazo da empresa com um cenrio aprovado. (LACOMBE.,2003, p 163).
Para Robbins (2003) Planejamento Estratgico um planejamento que se aplica organizao como um todo, estabelecendo seus objetivos globais e posicionando-a em termos do ambiente.
19
Segundo Maximiano (2000), uma vez que a estratgia procura adaptar a organizao com sucesso a seu ambiente, a base para a formulao da estratgia a analise das ameaas e oportunidades do ambiente. Quando ocorre esta formulao conseguimos ver que ser diferente e nico possvel, quando colocamos em pratica criatividade, conhecimento, tcnica e vontade. Ser igual fcil, mas seu retorno quando ocorre muito pequeno.
2.3.2 Planejamento Ttico
O Planejamento Ttico para Oliveira (2005) tem por objetivo otimizar determinada rea de resultado e no a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposies dos objetivos, estratgias e polticas estabelecidos no planejamento estratgico. Chiavenato (2000) comenta que Planejamento Ttico o conjunto de tomada de deliberada de decises envolvendo empreendimentos mais limitados, prazos mais curtos, reas menos amplas e nveis mais baixos da hierarquia. Segundo Oliveira (2005), Planejamento Ttico tem por objetivo otimizar determinada rea de resultados e no a empresa como um todo. Portanto, trabalha com decomposies dos objetivos, estratgias e polticas estabelecidas no planejamento estratgico.
2.3.3 Planejamento Operacional
O Planejamento Operacional pode ser definido por Oliveira (2005) como a formalizao, principalmente atravs de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implantao estabelecidas. Para Chiavenato (2000) o Planejamento Operacional se preocupa com o que fazer e como fazer. Tem um carter imediatista, focalizando o curto prazo para resoluo das tarefas e ao. Lacombe (2003) comenta que uma operao gerencial e necessita de recursos para executar suas tarefas necessrias.
20
Segundo Kotler (1998) o processo gerencial de desenvolver e manter um ajuste vivel entre os objetivos, experincias e recursos da organizao e suas atuais respectivas oportunidades ao mercado, pois elas so mutantes. O propsito moldar e remodelar os negcios e produtos da empresa como objetivo de crescimento e lucro. As estratgias fazem com que a empresa se mantenha no mercado, muitas vezes alcanando a liderana. Inteirar a organizao ao meio ambiente, procurando evidenciar seus pontos fortes, eliminar os fracos e superar os concorrentes base da estratgia competitiva Porter (1986) descobrir as estratgias que a empresa pode utilizar para atingir seus objetivos. Determinar a posio da empresa no mercado e qual o nicho que ela atua. Verificar o que seus concorrentes esto fazendo. Aps tantas formulaes chega um determinado ponto em que os indivduos envolvidos no processo pela qual visa extremamente realizao da empresa onde esta inserida e conseqentemente seus co-participantes, podem observar certas indagaes sobre o trabalho sua ao, desempenho, performance de forma a no entender a finalidade da ferramenta, mostrando a maneira exata de mostrar como ocorre isso. Porter, 1986 afirma que no meio empresarial, temos varias foras adversas interpem-se entre ns e nosso objetivos, motivo qual se torna mxima necessidade de elaborar um bom planejamento. De acordo com Oliveira (2001) o fato de conhecer e utilizar seus pontos fortes para atrair os clientes. Segundo Keegan E Green (2003) as atividades da empresa tm que atingir suas metas e buscar uma vantagem diferencial competitiva criando uma cadeia de valor para seus clientes. Quando a empresa seja ela do seu porte pequena ou no e se mantm com olhos no foco de sua organizao o sucesso e visto de forma gradativa. Para isso ocorrer o marketing no pode ser visto como rea separada, ou seja, no deve haver uma separao dessas cincias entre financeiro, vendas, operacional, administrativo, mas ocorrer uma maior interao por partes de todos envolvidos nesse processo. Sendo assim deve-se trabalhar com a gesto sem fronteiras que tem o objetivo de levar a comunicao em todas as reas da empresa e fora dela sendo um elo de ligao muito forte onde possa se tornar um grande diferencial competitivo. Objetivo, segundo Oliveira (2001), o alvo ou a situao que se pretende
21
atingir. Aqui se determina para onde empresa deve guiar seus esforos.
2.4 Sistemas de Informao
Para BIO (1985) o sistema de informao um subsistema do sistema empresa, e dentro da mesma linha de raciocnio pode-se concluir que seja composto de um conjunto de subsistemas de informaes, por definio, interdependentes. Para OBRIEN (2004, p. 7) define que sistema de informao pode ser definido simplesmente como um grupo de elementos inter-relacionados ou em interao que formam um todo unificado. A Figura 1 ilustra os trs papis fundamentais para uso da tecnologia da informao nos negcios, segundo OBRIEN (2001): Sistemas de Informao
Apoio Vantagem Estratgica
Apoio Tomada de Deciso Empresarial
Apoio s Operaes
Figura 1 Fonte: OBRIEN, J. A., 2004, p. 18.
22
2.4.1 Estruturao de um sistema de informao
REBOUAS (2001) define a anlise da estrutura de sistemas como uma tcnica que consiste em construir, graficamente, um modelo lgico para o sistema de informaes gerenciais, a qual permite que usurios e analistas de sistemas, organizao e mtodos encontrem uma soluo clara e nica para o sistema, de modo que este transmita as reais necessidades dos usurios. A anlise organizacional envolve a avaliao dos sistemas e subsistemas organizacionais e ambientais envolvidos em toda situao. A anlise de sistemas tradicionalmente envolve um estudo detalhado dos itens relacionados da organizao a seguir:
a) b) c) d) e) f)
Ambiente Estrutura da administrao Pessoal Atividades Sistemas ambientais com os quais ela trabalha Sistemas de informao vigentes
2.4.2 Componentes de um Sistema
Rebouas (2001) reconhece os componentes de um sistema como, um conjunto de partes interagentes e interdependentes que, conjuntamente, formam um todo com determinado objetivo e efetuam determinada funo. Segundo Oliveira (2003) todo e qualquer sistema de informao que se esteja contemplando, ele sempre apresentar em seu funcionamento os seguintes componentes: Entrada corresponde captao dos recursos (energia) pelo sistema (matria-prima, mo de obra, informaes, etc.) que so obtidos atravs do ambiente e representam os insumos necessrios para o processamento do mesmo. Processamento o processo de transformao dos insumos (entrada) em produtos, servios ou resultados (sada). Sada o resultado do processo de transformao das entradas, que ser colocado no ambiente em que o sistema se insere.
23
Retro-alimentao so dados a respeito do desempenho do sistema que permite corrigir seus desvios e reduzir as discrepncias, propiciando uma situao em que o mesmo torne-se auto-regulador. Objetivo a prpria razo da existncia do sistema, ou seja, a finalidade para qual o sistema fora criado. Essa caracterstica do objetivo fica clara quando se analisa o conceito de sistema enfatizado por Oliveira (2004), sistema uma rede de componentes interdependentes que trabalham em conjunto para tentar realizar o objetivo do sistema. A Figura 2 ilustra os componentes genricos referentes a muitos tipos de sistema.
ENTRADAS
PROCESSO DE TRANSFORMAO
SADAS
CONTROLE E AVALIAO RETROALIMENTAO
Figura 2 Componente de um Sistema. Fonte: REBOUAS, 2001.
2.4.3 Tipos de Sistema de Informao
De acordo com Stair (1998) a seguir so apresentados os tipos de sistemas de informao mais relevantes:
a) Sistema de Processamento de Transaes (SPT): um conjunto organizado de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para registrar transaes de negcios completadas. Ex. pagamento de empregados, vendas a clientes e pagamentos a fornecedores. b) Sistema de Informao Gerencial (SIG): um agrupamento organizado de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para oferecer informaes de rotina aos administradores e tomadores de decises. Ex. relatrios pr-programados gerados com dados e informaes do sistema de processamento de transaes. c) Sistemas Especialistas (SE): um agrupamento organizado de pessoas, procedimentos, banco de dados e dispositivos usados para gerar um
24
parecer especializado ou sugerir uma deciso em uma rea ou disciplina. Estes sistemas de computador so como um profissional especializado com muitos anos de experincia em determinado campo. Na verdade, eles so desenvolvidos em parte atravs de exaustivas entrevistas e observaes de tais profissionais. Ex. sistemas especialistas desenvolvidos para pesquisar petrleo e gs, fazer diagnsticos mdicos e dar assistncia para encontrar problemas em aparelhos eltricos e mecnicos. importante notar que os sistemas especialistas no substituem as pessoas. d) Sistema de Apoio Deciso (SAD): um grupo organizado de pessoas, procedimentos, bancos de dados e dispositivos usados para dar apoio tomada de decises referentes a problemas especficos. Os sistemas de apoio deciso so usados quando o problema complexo e a informao necessria melhor deciso difcil de ser obtida e usada. Ex. dois gerentes de produo na mesma posio, tentando resolver o mesmo problema, poderiam necessitar de informaes e suporte diferentes. (STAIR, 1998, pp. 38-39)
2.4.4 Sistemas de Informao Gerencial
Segundo OBRIEN (2004) os sistemas de informao gerencial fornecem para os gerentes informao na forma de relatrios e exibies em vdeo. Rebouas (2001) descreve sistema de informao gerencial como o processo de transformao de dados em informaes, quando esse processo est voltado para a gerao de informaes que so necessrias e utilizadas no processo decisrio da empresa. OBrien (2002) descreve alguns dos benefcios que um sistema de informao gerencial pode trazer para a organizao, so eles:
a) Reduo dos custos das operaes; b) Melhoria no acesso as informaes, propiciando relatrios mais precisos e rpidos, com menor esforo; c) Melhoria na produtividade, tanto setorial quanto global; d) Melhoria nos servios realizados e oferecidos; e) Melhoria na tomada de decises, atravs do fornecimento de informaes mais rpidas e precisas; f) Estmulo de maior interao entre os tomadores de deciso; g) Fornecimento de melhores projees dos efeitos das decises; h) Melhoria na estrutura organizacional, por facilitar o fluxo de informaes; i) Reduo de mo-de-obra burocrtica e;
25
j) Reduo do grau de centralizao de decises na empresa. O sistema de informaes gerenciais (SIG) considera tanto as informaes que foram processadas no computador, quanto s processadas manualmente.
A Figura 3 mostra um modelo de sistema de informaes gerenciais, segundo Rebouas (2001).
RESULTADOS
AES DECISES INFORMAES CONTROLE E AVALIAO
TRATAMENTO DADOS
Figura 3 Modelo Proposto do Sistema de Informao Gerencial. Fonte: REBOUAS, 2001. Este modelo refere-se aos processos dentro da empresa, os dados sao submetidos a um tratamento, gerando assim as informaes que so utilizadas para a tomada de deciso, possibilitando ao usurio definir estratgias e aes pertinentes aos processos. Com o acompanhamento deste modelo so obtidos os resultados, os quais so controlados e reavaliados, fornecendo novos dados para a realimentao do processo.
2.4.5 Anlise dos Requisitos Funcionais
Esta etapa da anlise de sistemas pode se tornar uma das mais difceis, por envolver a identificao dos requisitos que envolvem o SIG:
26
Dentre as principais ferramentas para a anlise de sistemas podemos destacar segundo Pompilho (1999) as seguintes:
Lista de Eventos: pode ser entendida como uma caixa preta que a partir de certos estmulos externos pr-determinados produz respostas esperadas, desta maneira, podemos dizer que para toda a funo desenvolvida pelo sistema existe um estmulo correspondente, ou seja, para cada funo existe o estmulo, a ao e a resposta. a) Algumas consideraes sobre os campos da Lista de Eventos, so: b) Numerao dos Eventos, pois sero utilizados posteriormente nos DFDs (Diagrama de Fluxo de Dados) relacionando os Eventos na Lista com o DFD; c) Padro do nome do Evento; d) Tipo do Evento, FD - Fluxo de Dados, C - Controle e T- Tempo; e) Estmulo - Pode ser um ou mais (Estmulos Complementares) e sempre corresponde aos fluxos de dados de entrada do DFD; A informao que chega ao sistema quando da execuo do evento; f) Ao - Ao ou grupo de aes iniciadas por este evento, corresponde aos processos iniciados pelo evento; g) Resposta - Resposta fornecida pelo sistema ao evento. Pode ser Interna, ou seja, a resposta no gerada para o sujeito que causou o evento, ela corresponde simplesmente a correta execuo da ao iniciada pelo mesmo, nestes casos, a resposta colocada entre parnteses, normalmente corresponde a uma ao de gravao e/ou atualizao de informaes, neste sentido, a informao que est contida na resposta tem como destino unidade de armazenamento e no o sujeito do evento. Externa quando a resposta enviada diretamente ao sujeito que causou o evento, caso tpico de relatrios. Diagrama de Fluxo de Dados (DFD): uma representao grfica (diagrama) do fluxo de dados entre funes ou processos do sistema tem a finalidade de permitir uma viso exata do fluxo das informaes, permite visualizar a origem e o destino do fluxo de dados (informao), e montado a partir da lista de eventos.
So quatro os smbolos utilizados na construo de Diagramas de fluxos de dados DFDs, segundo Yourdon (1998) so eles: SMBOLO SIGNIFICADO
Depsito de dados Depsito de Dados tem a finalidade de identificar todos os arquivos de armazenamento de dados do sistema, ou seja, todos os locais de onde so retirados ou enviados dados. Entidades externas Entidade Externa tem a finalidade de identificar todas as entidades externas (empresas, pessoas, rgos) ao sistema que fornecem ou recebem informao do sistema.
27
Processos Processo tem a finalidade de identificar um procedimento ou conjunto de procedimentos executados pelo sistema. Entenda-se por procedimento a manipulao de informaes visando atingir um determinado objetivo ou realizar uma tarefa. Fluxos de dados Fluxo de Dados Identifica os fluxos de dados do sistema, ou seja, mostra as informaes tratadas pelo sistema e a direo que a mesma se desloca. O entendimento destas ferramentas e tcnicas de grande valia para o desenvolvimento e anlise do sistema de informaes gerenciais, permitindo a identificao dos processos e sua ilustrao.
2.4.6 Recursos dos sistemas de informao
OLIVEIRA (2002) define o propsito bsico da informao habilitar a empresa a alcanar seus objetivos pelo uso eficiente dos recursos disponveis, nos quais se inserem pessoas, materiais, equipamentos, tecnologia, dinheiro, alm da prpria informao. Para OBRIEN (2004) o sistema de informao a interao do conjunto organizado entre pessoas, hardware, redes de comunicao, recursos de dados que coleta, transforma e distribui informao organizada. Para ele importante saber identificar os cincos recursos dentro de um sistema de informao, os recursos existentes so: Recursos humanos: analistas de sistemas, programadores, operadores de computador (especialistas) e usurios finais que iro fazer a operao de todos os sistemas de informao. Recursos de hardware: inclui todos os dispositivos fsicos e equipamentos utilizados no processamento de informaes, no somente mquinas, como computadores e outros equipamentos. Recursos de software: sistemas operacionais, planilhas eletrnicas, processadores de texto que iro fazer parte do conjunto de processamento da informao com a responsabilidade de dirigir e controlar os elementos de hardware. Recursos de dados: os dados so considerados a matria-prima dos sistemas de informaes. Os recursos de dados so normalmente organizados pelo banco de dados que guardam dados processados e com um conhecimento em
28
multiplicidade de formas como fatos, regras e exemplos sobre prticas de negcios bem sucedidos. Recursos Produtos de de rede: Meios de comunicao, processadores e de comunicaes, acesso a redes e software de controle. informao: relatrios administrativos documentos empresariais utilizando texto e demonstrativos grficos, respostas em formulrios impressos ou em telas de vdeo.
2.4.7 Implantao de um SIG
Laundon e Laudon (2003) afirmam que o processo de implantao de um sistema de informao envolve atividades de aquisies, testes, documentaes, instalaes e converso. Envolve o treinamento de usurios finais na operao e uso do novo sistema de informao. Dessa forma, a implantao uma etapa vital para garantir o sucesso de novos sistemas. Dentre as atividades relacionadas, a de converso merece um destaque em virtude da necessidade do planejamento, exige uma preparao especfica para que no ocorram problemas deixando a empresa em pior situao da que anteriormente encontrava-se.
A implantao de um sistema envolve a aquisio de hardware e software, desenvolvimento de software, teste de programas e procedimentos, desenvolvimento de documentao e uma srie de alternativas de converso. Esta etapa envolve tambm a educao e treinamento dos usurios finais e especialistas que iro operar o novo sistema. (OBRIEN, 2004, p.337).
2.5 Critrios para Avaliao de Estoques
Segundo Ribeiro (2002) o custo do material de estoque determinado com base no valor da nota de compra, acrescida das despesas e imposta e taxas que no forem recuperados pela empresa no momento de venda do produto. Sabe-se que a empresa pode adquirir um mesmo produto em diferentes datas e pagando preos variados, para determinar o custo desse produto
29
precisamos adotar alguns critrios. Para Bruni e Fam, a definio do preo de venda baseia-se em trs critrios. Os critrios mais conhecidos para avaliao dos estoques so: Preo Especfico, PEPS, UEPS e Preo Mdio. Preo especfico: Ribeiro (2002) classifica que cada unidade que consta no estoque tem seu preo efetivamente pago por ele. PEPS: Ribeiro explica que cada o primeiro entra o primeiro que sai, tambm conhecido como FIFO, First in, first out. UEPS: Ribeiro (2002) ltimo que entra primeiro que sai, tambm conhecido como LIFO, last in, first out. Preo mdio: para Ribeiro (2002) nesse modelo de avaliao de estoque os materiais sero avaliados pela media dos custos de aquisio, sendo os custos atualizados aps cada compra efetivada.
2.6 Administrao Financeira
A funo financeira corresponde os esforos despendidos objetivando a formulao de um esquema que seja adequado maximizao dos retornos dos proprietrios das aes ordinrias da empresa, ao mesmo em que possa propiciar a manuteno de certo grau de liquidez. Na verdade a funo financeira dentro de uma empresa est diretamente relacionada com a deciso de se fazer um investimento e deciso de se fazer um financiamento, sem esquecer que estas duas funes principais esto interligadas. Para Gitmam (1997) administrar um negcio, seja um modesto empreendimento ou uma grande sociedade annima, envolve muitas funes diferentes. Segundo Gropelli e Nickbakht (2002) finanas so aplicaes de uma serie de princpios econmicos e financeiros para maximizar a riqueza ou o valor de um negcio. Tradicionalmente a funo da rea Financeira na empresa tem sido administrar de modo centralizado todos os seus recursos financeiros essa funo tem variado conforme o tipo de empresa e as circunstancias em que ela se encontra havendo fases de maior ou menor predomnio e controle da rea sobre as demais reas da empresa.
30
Para Gitmam (1997) o objetivo da administrao financeira analisar as aes com maior lucratividade e tomar decises que iro dar maior contribuio para o lucro. Para Groppelli e Nickbaht (2002) o planejamento financeiro o processo pelo qual a empresa calcula sua necessidade financeira de recursos para continuar operando e determina sob qual forma de obteno destes recursos sero financiados. Para Sanvicente (1987) O objetivo da administrao financeira esta ligado ao objetivo da empresa em maximizao de seu lucro e de seus acionistas. Sua funo criar mecanismos de analise e controle para orientar e influir nas tomadas de deciso que resultem em maior retorno financeiro para a empresa. Lucro a melhor medida do sucesso da administrao de uma entidade de negcios em uma economia competitiva Guerreiro (1989). No entanto alm do retorno financeiro a administrao financeira deve cuidar tambm da manuteno de certo nvel de liquidez da empresa a fim de permitir disponibilidade de recursos para sustentar suas atividades do dia a dia como produo marketing compras e desenvolvimento de produtos. Assim na empresa segundo Sanvicente (1987) a rea financeira tem como atribuio controlar os recursos e fornecer informaes requeridas pelas diversas reas de responsabilidade.
2.7 Demonstraes Financeiras
Para Gitman (1997) a demonstrao do resultado do exerccio precisa conter os seguintes elementos: receita bruta de vendas e servios, receita liquida das vendas e servios, lucro bruto, lucro ou prejuzo operacional, resultado do exerccio antes do imposto de renda, lucro ou prejuzo liquido do exerccio e lucro ou prejuzo por ao. As demonstraes financeiras so acompanhadas por notas explicativas uma importante fonte de informao acerca das polticas contbeis, procedimentos, clculos e transaes inerentes aos lanamentos efetuados nas demonstraes financeiras. Resumos histricos das principais estatsticas das operaes e ndices financeiros dos ltimos cinco a dez anos so tambm geralmente includos.
31
As contas contbeis so classificadas em duas demonstraes: Balano Patrimonial (BP) e Demonstrao do Resultado do Exerccio (DRE).
2.7.1 Balano Patrimonial
Segundo Gitmam (1997) o balano patrimonial representa a demonstrao resumida da posio financeira da empresa em determinada data. A demonstrao confronta os ativos da empresa com suas fontes de financiamento, que podem ser dvida ou patrimnio. J a definio de Oliveira (2002) diz que patrimnio liquido pode ser definido como o conjunto de bens, direitos e obrigaes de uma pessoa fsica ou jurdica, levando em considerao, porm, que os bens e direitos so valores positivos e as obrigaes so valores negativos. Uma das formas mais utilizadas para a leitura financeira de Balanos Contbeis a construo de ndices Financeiros. E importante frisar que o Balano Contbil reflete uma posio esttica da empresa, construdo sobre valores coletados ao final de perodos, fato que exige cautela e leitura de outros dados financeiros para balizar uma anlise correta e sem distores da estrutura financeira da empresa. Ou seja, apenas a anlise vertical e horizontal dos dados do Balano Contbil no suficiente para uma analise completa da situao financeira da empresa. Devemos considerar duas ticas: a contbil e a gerencial. Contbil: Evidencia o Capital Circulante Lquido, que reflete o resultado obtido entre o Ativo e o Passivo Circulantes. Como o Balano Patrimonial reflete um determinado momento, importante distinguir o curto e o longo prazo. Segundo normas emanadas do Banco Central do Brasil, o curto prazo estipulado em operaes com perodo de at 180 dias. Gerencial: Evidencia o ciclo de operaes financeiras da empresa, e refletem a capacidade de assumir endividamentos em perodos pr-determinados. Como instrumento de analise e acompanhamento, costuma-se utilizar na prtica um demonstrativo conhecido como Fluxo de Caixa (Capacidade de Pagamento) para ressaltar a liquidez da empresa.
32
2.7.2 Demonstrao do Resultado do Exerccio
Segundo Marion & Reis (2003, p. 32) Demonstrao do Resultado do Exerccio uma pea contbil que mostra o resultado das operaes sociais lucro ou prejuzo. O DRE uma informao importantssima para o investidor poder avaliar o rendimento obtido e o tempo de retorno de seu investimento. Para NETO (2001, p. 75) A demonstrao de resultados do exerccio visa fornecer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro ou prejuzo) auferidos pela empresa em determinado exerccio social, os quais so transferidos para contas do patrimnio lquido. O lucro (ou prejuzo) resultante de receitas, custos e despesas incorridos pela empresa no perodo e apropriados segundo o regime de competncia, ou seja, independentemente de que tenham sido esses valores pagos ou recebidos. J Matarazzo (2003, p. 45) diz que uma demonstrao dos aumentos e redues causados no Patrimnio Lquido pelas operaes da empresa. As receitas representam normalmente aumento do Ativo, atravs de ingresso de novos elementos, como duplicatas a receber ou dinheiro proveniente das transaes. Aumentando o Ativo, aumenta o Patrimnio Lquido. As despesas representam reduo do Patrimnio Lquido, atravs de um entre dois caminhos possveis: reduo do Ativo ou aumento do Passivo Exigvel. O DRE o resumo do movimento de certas entradas e sadas no balano, entre duas datas. Todas as receitas e despesas se acham compreendidas na Demonstrao do Resultado, segundo uma forma de apresentao que as ordena de acordo com sua natureza, fornecendo informaes significativas sobre a empresa e retratando somente o fluxo econmico e no o monetrio. Para o DRE no importa se uma receita ou despesa tem reflexos em dinheiro, basta apenas que afete o Patrimnio Lquido. Segundo Gitmam (1997) o demonstrativo de resultados elaborados fornece um resumo financeiro dos resultados das operaes da empresa durante um perodo especfico. Este perodo geralmente o ano encerrado, 12 meses. Segundo Gitmam (1997) o demonstrativo de resultados inicia-se com receita de vendas (vendas durante o ano). Desse montante deduzido o montante relativo
33
ao custo das mercadorias vendidas durante o ano. Como resultado, obtem-se o lucro bruto, aps deduzir as despesas operacionais.
2.8 INDICADORES FINANCEIROS Segundo Marion (2002, p. 213) os ndices so relaes que se estabelecem entre duas grandezas, facilitam sensivelmente o trabalho do analista, uma vez que a apreciao de certas relaes ou percentuais mais significante. A principal finalidade conforme Ludcibus (1998, p.73) permitir ao analista extrair tendncia e comparar os quocientes com padres preestabelecidos. A finalidade da anlise mais do que retratar o que aconteceu no passado, fornecer algumas bases para inferir o que poder acontecer no futuro. A anlise das demonstraes contbeis permite ter uma viso das tendncias dos negcios, assegurando que os recursos sejam obtidos. E aplicados, efetiva e eficientemente, na realizao das metas da empresa.
2.8.1 ndices de Liquidez
Refletem a capacidade que a empresa tem em efetuar seus pagamentos (solvncia), demonstrando se h folga ou no no ativo circulante para a empresa pagar seus compromissos, em relao a outros elementos contbeis.
Liquidez Corrente (ILC)
Segundo Gitmam (1997) o ILC um dos ndices financeiros mais comumentes citados, mede a capacidade da empresa para satisfazer suas obrigaes de curto prazo. Um ndice de liquidez corrente de 1,0 pode ser considerado bom para uma empresa pblica, mas inaceitvel para uma privada. O ILC calculado pela expresso: ILC = Ativo Circulante Passivo Circulante
34
O ndice de Liquidez Corrente avalia quantos R$ a empresa tem no capital de giro para cada R$ 1,00 de dvida que ela tem para pagar no curto prazo, o que exceder a 1 aplica na sobra, ou seja, quantos Reais h disponvel imediatamente e conversveis em dinheiro a curto prazo em relao s dvidas de curto prazo. ndice de Liquidez Seca Gitmam (1997) descreve este ndice como semelhante ao ILC, com a diferena de excluir os estoques do ativo circulante, por ser um ativo de baixa liquidez. Pode ser definido pela equao: Liquidez Seca = Ativo Circulante - Estoques Passivo Circulante
Continua Gitmam (1997) que um valor recomendado do ILS deve ser superior a 1,0 e depende exclusivamente da capacidade de liquidao do estoque.
2.8.2 ndices de endividamento Por meio destes indicadores pode-se apreciar o nvel de endividamento da empresa e quanto se utiliza recursos de terceiros ou dos proprietrios. Para Ludcibus (1998) esses ndices relacionam as fontes de fundos entre si, procurando retratar a posio relativa do capital prprio com relao ao capital de terceiros. So quocientes de muita importncia, pois indicam a relao de dependncia da empresa com relao a capital de terceiros.
2.8.3 Endividamento geral (EG)
O Indicador de Endividamento Geral da empresa indica a proporo de capital de terceiros que financia o Ativo, mostrando a poltica de obteno de recursos da empresa. Esse ndice tambm conhecido como Participao de capitais de terceiros sobre recursos totais (PCT).
35
EG =
Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo Ativo
x 100
Conforme Ludcibus (1994) esse ndice expressa a porcentagem que o endividamento representa sobre os fundos totais. Tambm significa qual a percentagem do ativo total financiada com os recursos de terceiros. Para Martins (1993) este valor mede a percentagem dos recursos totais da empresa que se encontra financiadas por capital de terceiros. Ou seja, para cada Real de recursos captados pela empresa, mede quanto provm de fontes de financiamento no prprias. De acordo com Gitman (1997) esse quociente mede a proporo dos ativos totais da empresa financiada pelos credores. Quanto maior for esse ndice, maior ser o montante do capital de terceiros que vem sendo utilizado para gerar lucros. Determina qual o percentual do ativo financiado com recursos de terceiros, sendo assim quanto maior for o resultado, mais endividada a empresa estar.
2.9 ndices de lucratividade ou rentabilidade Lucratividade ou rentabilidade um ndice obtido pela organizao em determinado perodo, medindo a eficincia com que a empresa utilizou seus ativos e administra suas operaes. Conforme Martins (1993) estes visam avaliar os resultados auferidos por uma empresa em relao a determinados parmetros que melhor revelem suas dimenses.
2.9.1 Retorno sobre o Patrimnio Lquido (ROE) O indicado RPL corresponde remunerao do capital dos proprietrios (Patrimnio Lquido) aplicados na organizao, ou seja, mede quanto o lucro contribui para o aumento dos recursos prprios.
36
ROE =
Lucro Lquido Patrimnio Lquido
x 100
Para Gitman (1997) a ROA mede o retorno obtido sobre o investimento dos proprietrios da empresa. Geralmente, quanto mais alta for essa taxa de retorno, melhor para os proprietrios. De acordo com Martins (1993) esse ndice mensura o retorno dos recursos aplicados na empresa pelos seus proprietrios, (...) para cada Real de recursos prprios (patrimnio lquido) investido na empresa, mede-se quanto os proprietrios auferem de lucro.
2.9.2 Retorno sobre o ativo total (ROA)
Os ndices de Rentabilidade do Ativo correspondem ao retorno do lucro lquido sobre o valor do ativo total, isto , identifica o quanto empresa est obtendo de resultado em relao aos seus investimentos totais. ROA = Lucro Lquido Total do Ativo Segundo Gitman (1997) este ndice mede a eficincia global da administrao na gerao de lucros com seus ativos disponveis. Quanto mais alta for essa taxa, melhor. tambm chamado de retorno sobre o investimento da empresa. Conforme Braga (1998) a RA avalia a capacidade de recuperao dos investimentos totais, e em sua rentabilidade taxa de remunerao do montante de recursos aplicados pela empresa. x 100
2. 10 Determinao de Solvncia
Atualmente h vrios mtodos de determinao de solvncia e o que apresenta grande facilidade de aplicao e conhecido como modelo de Kanitz.
37
O modelo de Kanitz, se incio na dcada de 70, um dos primeiros, seno o primeiro estudo de previso de falncia no Brasil, utilizando modelo estatstico. A partir de 5 ndices extrados das demonstraes contbeis, ele elaborou uma equao matemtica, utilizando tcnica de regresso mltipla e anlise discriminante Kanitz. O objetivo desse trabalho de Kanitz foi avaliar o risco de insolvncia, atravs do que denominou fator de insolvncia: um indicador daquilo que poderia acontecer em futuro prximo, caso a empresa no corrigisse os rumos que estava seguindo. O estudo foi baseado em uma amostra composta por 30 empresas, sendo 15 empresas classificadas como falidas e 15 empresas classificadas como saudveis. A equao desenvolvida foi a seguinte (Kanitz, 1978): Fator de Insolvncia = X1 + X2 + X3 X4 X5 X1 = (Lucro lquido/Patrimnio liquido) (LL/PL)x 0,05 X2 = Liquidez geral (LG) x 1,65 X3 = Liquidez seca (LS) x 3,55 X4 = Liquidez corrente (LC) x 1,06 X5 = (exigvel total/Patrimnio lquido)(ET/PL) x 0,33 Fator de Insolvncia = X1 + X2 + X3 X4 X5 Para a continuao da interpretao do modelo, o fator de insolvncia assume valores entre -7 e 7, em seguida faz-se uma averiguao sobre o intervalo no qual o valor ser encontrado: a) De 0 a 7 considerado rea de solvncia, apresentando reduzidas possibilidades de falncia; b) De 0 a -3 considerado regio de penumbra, situao j indefinida e podendo ter problemas;
38
c) De -3 a -7 considerado rea de insolvncia, representando grandes possibilidades de falncia. Exemplo: A empresa apresenta os seguintes ndices, em qual situao falimentar se encontra? LL/PL LG LS LC ET/PL Logo: FI = X1 + X2 + X3 + X4 + X5 FI = (0,10) + 0,825 + 0,355 -2,756 0,858 FI = (2,444) O valor encontrado para o Fator de Insolvncia (2,44) indica que a empresa estudada encontra-se na faixa de penumbra, portanto precisando comear a buscar ndices financeiros melhores, melhorando a gesto da empresa fazendo com que a situao saia da regio de penumbra passando a regio de solvncia. Obs.: Assim como os ndices, o modelo no pode ser usado isoladamente, mas em conjunto com as outras anlises. -0,2 0,5 0,1 2,6 2,6
2. 11 Organograma
Segundo LACOMBE & HEILBORN (2003, p.103) Organograma uma representao grfica simplificada da estrutura organizacional de uma instituio, especificando os seus rgos, seus nveis hierrquicos e as principais relaes formais entre eles.
39
Quando uma empresa possui um organograma no quer dizer que ela bem organizada, pois um meio de se visualizar o posicionamento e as relaes entre os subsistemas de uma organizao. Tem a finalidade de visualizar de maneira rpida, simplificada, a forma que a empresa est organizada, refletem a realidade da empresa. Precisam ser atualizados sempre que as circunstncias exigirem, no esquecendo que devem refletir a realidade da instituio. Para Lacombe e Heilborn (2003) uma representao grfica dos rgos e das principais relaes formais da empresa, abrange as descries de funes, as delegaes de poderes, as relaes de prestao de servios e as comunicaes formais (assessoria) da estrutura organizacional. Para Lacombe & Heilborn (2003, p. 115) as principais vantagens dos organogramas so conseqncias da explicitao que ele proporciona da estrutura organizacional. Facilita a identificao de deficincias da estrutura, como: superposies e duplicaes de atividades, lacunas de atividades (isto , atividades que no so executadas), subordinaes mltiplas e nveis hierrquicos em demasia. A desvantagem do organograma a formalizao de situaes, podendo tornar-se inadequadas, pois favorece a inflexibilidade, dificultando a alterao da estrutura organizacional. Se o plano organizacional mal feito, a administrao se tornar difcil e ineficaz. Se ele lgico, simples e claro para atender s necessidades presentes da empresa, o primeiro requisito para uma boa administrao foi conseguido.
2.12 Fluxograma
Para Oliveira (1998) fluxograma a representao lgica, clara e sntese das rotinas ou procedimentos que envolvem documentos, informaes recebidas, processadas e emitidas, os responsveis ou unidade organizacional. Alvarez (2000) define fluxograma como ferramenta para descrever o fluxo especificando os documentos usados para os dados e informaes. Para sua
40
criao so utilizados smbolos convencionais com poucas variaes e sua principal caracterstica ser claro e objetivo.
2.12.1 Tipos de Fluxograma
Alvarez (2000) cita dois principais tipos de fluxograma: um mais simples para descrever pequenas atividades, com poucos passos e apresentam poucos eventos conhecido como fluxograma vertical. Por outro lado existem os mais complexos que envolvem do incio at o fim de grandes quantidades de aes, decises, funes e reas, para esta representao utiliza os fluxogramas horizontais. Para Oliveira (1998) o fluxograma vertical destinado representao de rotina simples dentro de uma unidade organizacional, no que concorda. Segundo Oliveira (1998) este fluxograma possui quatro vantagens. A primeira que pode ser impresso como formulrio. Segunda de fcil preenchimento. Terceira fornece maior clareza na apresentao. E a quarta facilidade de leitura dos usurios. Atravs da anlise deste fluxo de informaes a empresa pode obter melhoramentos que eliminam, combinam redistribuem e classificam os detalhes, a cada um deles fazemse as seguintes perguntas: por que, o que, onde, quando, quem e como. Segundo Alvarez (2000) o fluxograma horizontal descreve todos os eventos e detalhes possveis que ocorrem na empresa de forma geral. Representa cargos, reas, funes, atividades, decises, fluxo de informaes, enfim, tudo o que pode acontecer num determinado momento. um mtodo de fcil visualizao, lgico, claro e conciso.
2.12.2 Vantagens e desvantagens do Fluxograma
Alvarez (2000) alm das vantagens apresentadas, ainda cita a padronizao dos smbolos restringindo interpretaes diversas; auxilia na localizao de falhas e permite comparao entre vrios fluxos. Alm das vantagens o autor cita algumas desvantagens.
41
a) Vcio no uso apenas do fluxograma; b) Trata-se de um diagrama, portanto nunca ir detalhar a realidade no envolvimento de pessoas; c) Por ser simples muitas vezes omite pequenas informaes; d) Os sistemas permitem variaes que no so do conhecimento geral.
2.13 Treinamento
Segundo Chiavenato (2004) o capital humano vital para o sucesso das organizaes e um diferencial competitivo para o negcio da empresa. Por isso a necessidade de preparar as pessoas continuamente para serem criadoras da inovao antes da concorrncia. As organizaes para serem bem sucedidas precisam de colaboradores inteligentes, geis, empreendedores e dispostos a assumir riscos. Estas pessoas podem conduzir os negcios de forma mais assertiva e prestar um servio mais qualificado. Estas qualidades necessitam e precisam ser trabalhadas, sendo nesse momento que surge a importncia do treinamento e desenvolvimento. Dando continuidade, Chiavenato (2004) o treinamento enriquece o capital humano das empresas, pois a maneira mais eficaz de agregar valor s pessoas, organizao e aos clientes. O treinamento uma forma de desenvolver competncias nas pessoas e torna-las produtivas, criadoras, inovadoras e assim contribuir para o alcance dos objetivos da empresa.
O treinamento a experincia aprendida que produz uma mudana relativamente permanente em um indivduo e que melhora sua capacidade de desempenhar um cargo. O treinamento pode envolver uma mudana de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento. (CHIAVENATO, 2004. p. 339)
Lacombe (2005) define treinamento como algo contnuo, no apenas realizado uma vez para os empregados, mas cada vez que se d uma orientao, ou discute um procedimento, pode-se dizer que est havendo um treinamento. Alguns outros fatores tambm so importantes como: as particularidades e especialidades de cada empresa, o surgimento de novas funes, sem falar que as
42
pessoas gostam de aprender e evoluir assim, o treinamento pode ajudar a reter bons profissionais, se ele sentir que est sendo valorizado pelo trabalho que desenvolve. Chiavenato (2004) diferencia treinamento de desenvolvimento, embora sejam similares as aplicaes de tempo so diferentes. O treinamento para o presente, foca o cargo atual e busca melhorar as habilidades e capacidades para a realizao das funes. J o desenvolvimento focaliza os cargos a serem ocupados futuramente e as habilidades que sero requeridas. Atravs do treinamento e desenvolvimento as pessoas assimilam informaes, aprendem habilidades, desenvolvem atitudes e comportamentos diferentes. No processo de treinamento quatro etapas so identificadas: a) Diagnstico levantamento das necessidades de treinamento a serem satisfeitas. Existem vrios mtodos de levantamento dessas necessidades, um deles avaliar o processo produtivo na organizao, localizando pontos fracos em relao ao desempenho das pessoas, custos laborais elevados, entre outros. H tambm alguns indicadores da necessidade de treinamentos, assim como: expanso da empresa, admisso de novos empregados, mudana de mtodos e processos, modernizao de equipamentos, baixa produtividade, elevados nmeros de acidentes de trabalho, desperdcio, mau atendimento ao cliente, pouco interesse pelo trabalho, falta de cooperao, etc. b) Desenho elaborao do programa de treinamento, planejamento das aes. Definio de quem e como deve ser o treinado, em que rea, por quem, onde e quando. Tudo isso para atingir satisfatoriamente os objetivos do treinamento e da empresa. c) Implementao a aplicao e conduo do programa de treinamento que pode ser feita atravs de leitura ou instruo programada. d) Avaliao etapa final do programa que verifica sua eficcia, se o treinamento realmente atendeu s necessidades.
2.13.1 Treinamento no Trabalho Lacombe (2005) comenta sobre os tipos de treinamentos. importante a empresa escolher o treinamento adequado para avaliar o custo beneficio.
43
Aquele que ocorre no dia-a-dia e pode ser: a) Orientao da chefia: a principal forma de treinamento no trabalho. Toda vez que o chefe orienta o subordinado, ele est treinando e seu exemplo pode ser a melhor forma de educar o grupo. b) Administrao por metas: estabelecer metas peridicas, acompanhar e fazer reunies programadas. Estas metas devem ser desafiadoras, porm alcanveis para que no desmotive a equipe. c) Rotao de funes: uma das tcnicas mais utilizadas nas grandes empresas para treinar e preparar o pessoal para novas funes de acordo com um planejamento de recursos humanos. d) Substituies temporrias: tambm usada como forma de treinamento e avaliao. Um colaborador pode substituir o supervisor, em suas frias, e assim ser avaliado e treinado. e) Incumbncias especiais: as pessoas so treinadas por incumbncias especiais como: acompanhar executivos experientes em viagens de negociao, estudos e trabalhos de planejamento, acompanhar novos projetos entre outras. f) Orientao por meio de mentores mentores so administradores de alto nvel com muito tempo na empresa. Estes orientam e ajudam jovens com grande potencial nas prticas administrativas, assegurando que tenham condies de alcanar posies melhores a mdio e longo prazo.
2.13.2 Treinamento Formal Interno
o treinamento programado e executado pela empresa exclusivamente para seus executivos e colaboradores, porm realizado fora do ambiente de trabalho, assim como: cursos, palestras, seminrios de capacitao, aperfeioamento e desenvolvimento pessoal. Podem ser ministrados por pessoas da prpria empresa ou contratados externos para esta finalidade. A vantagem deste treinamento que pode ser projetado para atender as necessidades especficas de um setor da empresa, seu custo baixo e geralmente utilizado para grande quantidade de pessoas.
44
2.13.3 Treinamento Formal Externo
Este treinamento aberto ao pblico, geralmente executado por universidades e outras instituies de educao, de treinamento empresarial e de formao de mo-de-obra especializada. Utilizado para aperfeioar e desenvolver pessoas proporcionando conhecimentos gerais para as empresas.
2.13.4 Treinamento Distncia
O uso do computador e da internet tornou possvel a videoconferncia, apoiada por textos previamente distribudos aos participantes. So instantneos e interativos, custos baixos e eficincia elevada A possibilidade de treinar sem a presena fsica ampliou as oportunidades de treinar pessoas que, de outra forma no poderiam participar do programa. A flexibilidade de horrio muito grande, cada um escolhe e horrio.
2.14 Ferramenta 5W2H
Segundo Oliveira (2001) a ferramenta de gesto 5W2H permite o desenvolvimento de um nvel de anlise que viabiliza a identificao das diferentes formas dos fenmenos, sua ordenao e classificao, bem como a explicao das relaes de causa e efeito dos fenmenos, permitindo analisar o papel das variveis que influenciam ou causam o aparecimento dos mesmos. Segundo Junior (2003) o 5W2H uma ferramenta gerencial de fcil utilizao que ajuda a definir responsabilidades, mtodos, prazos, objetivos e recursos disponveis. Auxilia no mapeamento e padronizao dos processos, na elaborao de planos de ao e no estabelecimento de procedimentos. Aplicao do 5W2H So perguntas utilizadas com o objetivo de sanar as causas/problemas com profissionalismo e visando capacitar os colabores internos.
45
Perguntas estimuladas: What? (O Que?). O que isso? O que aconteceu? O que pode ser feito? Who? (Quem?). Quem fez? Quem responsvel? Quem observou? A quem interessa? When? (Quando?). Quando aconteceu? Quando deve ser feito? Quanto tempo leva para fazer? Why? (Por qu?). Por que acontece? Por que isso deve ser feito? Where? (Onde?). Onde fica isso? Onde o fato aconteceu? Onde a ao deve ser tomada? How? (Como?). Como ser feito? How much? (Quanto custa?). Quanto custar para a empresa?
2.15 Anlise SWOT
A anlise SWOT de acordo com Hindle e Laurence (1994) consiste no processo de monitorao do ambiente organizacional para identificar riscos e oportunidades presentes ou futuros que possam influenciar a organizao a atingir suas metas. o conjunto de fatores, tanto internos como externos. Neste caso as informaes foram extradas de entrevistas com a gerncia, pesquisa de campo e percepo das acadmicas. O administrador deve se basear na teoria geral dos sistemas que consiste na premissa de que as organizaes modernas so sistemas abertos, ou seja, so influenciadas pelo ambiente e esto interagindo constantemente com eles. O propsito principal da anlise do ambiente reagir e aumentar o sucesso organizacional.
46
A matriz Swot composta por quatro variveis que formam os ambientes internos (Strengths - foras, Weaknesses fraquezas), e externos (Opportunities Threats ameaas).
MATRIZ SWOT O que . Bom Operaes Presentes Pontos Fortes (Strengths) Ruim Pontos Fracos (Weaknesses) Figura 6 Representao da Matriz Swot. Fonte: Ghemawat (2000) Operaes Futuras Oportunidades (Opportunities) Ameaas (Threats)
47
3 PROCEDIMENTOS METODOLGICOS
De forma a desenvolver uma pesquisa cientfica, foi adquirido primeiro a escolha do tema e a forma clara objetiva e direta de transparecer esse objetivo e de relatar sobre os vrios pensamentos e publicaes de autores sobre o tema. Segundo Mattar (2001) pesquisa visa prover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou problema de pesquisa em perspectiva. Por isso, apropriada para os primeiros estgios da investigao quando a familiaridade, o conhecimento e a compreenso do fenmeno por parte do pesquisador so geralmente poucos ou inexistentes. Para Gil (1999) a pesquisa bibliogrfica desenvolvida a partir de material j elaborado, constitudo principalmente de livros e artigos cientficos. Sendo esse material utilizado como um norte a ser seguido pelo pesquisador exploratrio do tema. Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho desta natureza. A metodologia de pesquisa utilizada foi: Entrevistas formais com a Direo da empresa Gil (1999) conta que as pesquisas exploratrias so desenvolvidas com o objetivo de proporcionar uma viso geral acerca de determinado fato. Como mtodo de coleta de dados foi utilizado a pesquisa pessoal, que segundo Mattar (1998) bastante utilizado em pesquisa de marketing, uma vez que possibilita obter grande nmero de informaes do entrevistado. Os dados secundrios foram colhidos na prpria empresa, e atravs de livros, revistas, fotos e Internet e outros meios que possibilitem fundamentar o estudo.
48
4 DIAGNSTICO
Esta fase do trabalho consiste em apresentar os dados da empresa e o mercado onde ela est inserida, seu histrico, situao atual, analise financeira e analise de SWOT.
4.1 Histrico da Empresa A empresa em estudo Supermercado Martins, classificado como familiar, situada na Avenida Ado Arcngelo Dal Bem, 1.245, Centro, na cidade de Brasilndia do Sul, Estado do Paran. Foi fundada 08 de abril em 1975, pelo Sr. Miguel Martins. Atuando como mercearia e bar tendo apenas com dois funcionrios. Em 1980, adquiriu sede prpria e foi transformada em um mini-mercado e passou a contar com a mo de obra de um colaborador. J em 1994 comprou um novo ponto comercial de alvenaria com 180m, e incorporou a padaria. Em 2007 a empresa passou pela ultima ampliao e reforma onde melhorou seu ambiente com uma nova estrutura adequando suas atividades. A padaria e o aougue foram adequados s normas da vigilncia sanitria. Com a ampliao, foi necessria uma mudana no posicionamento dos colaboradores e seus departamentos na linha hierrquica adotada pela empresa conforme ilustrado na Figura 7, do organograma do Supermercado Martins.
Figura 7: Organograma do Supermercado Martins. Fonte: autores
49
4.2 Descrio da Empresa
Na anlise no h uma definio da poltica de vendas e nem objetivos a serem atingidos pelo setor. Existe um acompanhamento das vendas, mas sem uma quantificao do que necessrio vender durante a semana, ms e ano. Os potencias clientes da empresa so as moradores da cidade e reas que fazem parte da regio que desejam fazer suas compras. A organizao tem quatro funcionrios e, segundo o gerente, h uma mdia rotatividade dos colaboradores, trs trocas em dois anos. A empresa atende a todas as classes de consumidores, mantm convnios com a prefeitura fornecendo produtos para hospital, escolas e creches. Atende consumidores exigentes com maior poder aquisitivo. Tem como objetivo expandir as vendas e aumentar o lucro evitando perdas com credirio. Nos ltimos dois anos a empresa passou reformas estruturais para melhorar a fachada da empresa e adequando padaria e aougue nas normas vigentes. Com isso a empresa teve uma melhora significativa nos espaos de circulao de pessoas dentro da loja e melhor exposio dos produtos. A empresa possui seu quadro de funcionrios descritos nos cargos a seguir: Gerente: desenvolve atividades de elaborao do planejamento da empresa, contratao de pessoal, compras, formao do preo de vendas, controle das contas da bancarias. Caixa: responsvel pelo atendimento dos clientes no caixa, tirar dvidas de clientes, faz os controles bsicos da contas a pagar e a receber da empresa. Ajuda avaliar os funcionrios e explicar como atender os clientes, orienta os demais funcionrios sobre o trabalho que eles devem desempenhar e orienta nas entregas e no recebimento de mercadorias. Padeiro e Confeiteiro: responsvel pela fabricao de pes, bolos, doces e salgados para as vendas na empresa e encomendas para festa, aniversrios, confraternizaes, eventos, etc. Atendente: responsvel pelo atendimento dos clientes e auxilio para escolha de pes, cortes de frios e recebimentos de encomendas. Aougue: conta com um profissional com mais de 5 anos de experincias em cortes de carnes na preferncia do cliente, recebimento das carnes, armazenamento, exposio dos produtos.
50
Repositor e Entregador: responsvel pelas reas de reposio de mercadorias nas prateleiras, entregas, auxilio aos clientes dentro e fora da loja. A poltica da empresa visa atender com qualidade seus clientes, buscando suprir todas as necessidades e desejos dos clientes. Oferece formas de pagamento com duas bandeiras de carto de credito, aceita vale refeio e alimentao e credirio prprio da empresa. Esta ultima apresenta um grande problema, pois no h um controle de contas a receber e o gerente no pode tomar decises precisas. No tem cadastro dos clientes e limite de crdito para os clientes. Os fornecedores em sua maioria trabalham com fornecimento semanal e alguns mensais. As compras podem ser feitas vista, e com prazos de 14, 21 e 28 dias. A forma de pagamento geralmente por boletos bancrios. Os critrios para escolha dos fornecedores em geral a forma de pagamento, prazos de entrega, qualidade dos produtos, pontualidade das entregas.
4.3 Polticas Gerenciais
A tomada de deciso da organizao centralizada. Para decises como abertura de credito, compras, descontos e pedidos especiais necessita de aval do proprietrio. No h uma poltica definida de metas a alcanar, e nem de planejamento estratgias para o futuro. O gerente no definiu as tarefas que ele pode delegar com isso os subordinados no conseguem render sem a presena do gerente.
4.4 Faturamento e Cobrana
A empresa no classificou os clientes quanto capacidade aquisitiva e credirio. Ela no tem definido o sistema de controle para verificar quais so as contas atrasadas e nem formas definidas para cobrana dos clientes devedores. Segundo informaes levantadas com o gerente da empresa, os custos fixos da empresa giram em torno de R$5.500,00, sendo necessrio vender no mnimo R$
51
25.000,00 (trinta mil reais) ao ms para cobrir custos operacionais, no existe um planejamento de volume de vendas e no so realizadas pesquisas de mercado. Para analisar as informaes repassadas pelo gerente segue o DRE e Balano Patrimonial de 2006 nas Tabelas 8 e 9.
Tabela 8: DRE do Supermercado Martins Ms Julho/2007
= = = =
DRE - Supermercado Martins Receitas Custo dos produtos vendidos Lucro Bruto Despesas Operacionais Lucro Operacional Despesas Financeiras Lucro Antes do Imposto Renda Imposto de Renda Lucro Lquido
43.000,00 (34.393,20) 8.606,80 (5.982,95) 2.623,85 (435,00) 2.188,85 0 2.188,85
Fonte: Escritrio Contbil Obs. Foi utilizado um fator de diviso para no expor os dados da empresa Tabela 9: Balano Patrimonial Supermercado Martins 2006.
BALANO PATRIMONIAL 2006 Ativos Passivo Caixa R$ 2.061,12 Despesas a pagar Contas a receber R$ 90.000,00 Estoques R$ 229.908,00 Outros Passivos Circulantes Total do Ativo Total do Passivo Circulante R$ 321.969,12 Circulante Ativos Permanentes
R$ 41.940,36 R$ 7.005,00 R$ 48.945,36
TOTAL DO ATIVO
Exigvel de Longo R$ 7.200,00 Prazo R$ 46.623,84 Total do Passivo R$ 95.569,20 Patrimnio Liquido Capital Social R$ 90.000,00 Lucros Retidos R$ 143.599,92 R$ 329.169,12 TOTAL DO PASSIVO R$ 329.169,12
Fonte: Escritrio Contbil. Obs. Foi utilizado um fator de diviso para no expor os dados da empresa
52
4.5 Desenvolvimento dos Clculos Financeiros
Liquidez Corrente
LC =
Ativo Circulante Passivo Circulante
LC =
321.969,12 48.945,36
= 6,5781
Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoques Passivo Circulante 321.969,12 229.908,00
48.945,36
Liquidez Seca =
Liquidez Seca =
= 1,88
Endividamento Geral da empresa
EG =
Passivo Circulante + Exigvel a Longo Prazo x 100 Ativo
EG =
48.945,36 + 46.623,84 321.969,12
x 100 = 29,68%
Retorno sobre o Patrimnio Lquido (ROE)
ROE =
Lucro Lquido Patrimnio Lquido
x 100
53
ROE =
143.599,92 233.599,92
= 61,473%
Retorno sobre o ativo total (ROA)
Lucro Lquido Total do Ativo x 100
ROA =
ROA =
143.599,92 321.969,12
= 44,60 %
Em seguida, passa-se a aplicar o modelo Kanitz para determinao do Fator de Insolvncia da empresa Supermercado Martins. X1 = lucro lquido/patrimnio lquido X2= (ativo circulante + realizvel a longo prazo)/exigvel total X3= (ativo circulante estoques)/ passivo circulante X4= ativo circulante/passivo circulante X5= exigvel total/patrimnio lquido X1 = (2.188,85 / 233.599,92) (LL/PL) = 0, 6147 x 0, 05 = 0, 00937 X2 = 329169,12./95.569,20= (LG) x 1, 65 = 5,6831 X3 = 92.061,12/48.945,36= 1,8809 (LS) x 3,55 = 6,6772 X4 = 321.969,12/48.945,36 (LC) = 6,5781 x 1, 06= 6,9728 X5 = 95.569,20/233.599,02 (ET/PL) = 0,4091 x 0, 33= 0,1350 Fator de Insolvncia = 0,00937 + 5,6831 + 6,6772 6,9728 0,1350 = 5,26187
54
O fator de insolvncia est na rea de solvncia e, portanto, a empresa no precisa melhorar os ndices, mas sim os controles da empresa e se verifica a necessidade de um maior controle sobre a rea financeira objetivando a ter a reposta certa quanto a solvncia da empresa. Com esses dados conclu que a empresa esta em uma rea confortvel, mas se observa que os ndices de rentabilidades esto altos o que no mostra a realidade da empresa. De 0 a 7 considerado rea de solvncia, apresentando reduzidas possibilidades de falncia. Supermercado Martins 5,26187 -7 INSOLVNCIA -3 PENUMBRA 0 SOLVNCIA 7
4.6 Pesquisa/Questionrio
Seguem os Grficos de 1 a 8 sobre a pesquisa realizada com os clientes da empresa para detectar possveis problemas onde poderia ser realizada melhoria ou estudo para resolver o problema.
55
1 Voc tem interesse nas ofertas oferecidas pelo mercado?
Interesse nas Ofertas
2,78%
0,00%
47,22% 50,00%
Muito interesse
Interesse
pouco interesse
sem interesse
Grfico 1: Interesse nas Ofertas do mercado. Fonte: Os acadmicos.
Analisando o Grfico 1 percebe-se que o pblico volta sua ateno para os preos e principalmente os que despertam maior interesse visual e aqueles que tm maior necessidade e fazem parte do dia-a-dia. Nesse aspecto a pesquisa demonstrou o grande interesse nas ofertas e sua procura tendo uma crescente evoluo. Grfico 2, sobre os aspectos dos produtos oferecidos na loja. Como o cliente se sente vendo os produtos da empresa.
56
Aspectos dos produtos oferecidos
11,11% 0,00%
27,78%
61,11%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 2: Quanto percepo dos aspectos dos produtos oferecidos. Fonte: Os acadmicos.
No Grfico 2 do questionrio buscou-se saber como os clientes vem os produtos da loja. Procurou-se identificar se os clientes esto satisfeitos com os produtos e tenta descobrir necessidades e oportunidades. O Grfico 2 confirma a boa aceitao dos produtos da empresa e demonstra uma pequena margem para melhorar. A estrutura da loja para suas compras confortvel em seu ponto vista, como esta atualmente nossa estrutura? O que deveria mudar?
57
Estrutura e conforto da loja
5,56%
0,00%
33,33%
61,11%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 3 Estrutura e conforto da loja Fonte: Autores
A pesquisa do Grfico 3 foi realizada aps a ultima melhoria da estrutura da loja. Os clientes demonstram que a reforma veio de encontro com a necessidade dos clientes.
O Grfico 4 procurou avaliar o atendimento da empresa e detectar falhas e problemas que poderiam estar acontecendo no atendimento.
58
Nvel de atendimento
2,78%
0,00%
44,44%
52,78%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 4 Nvel de Atendimento Fonte: Autores
Constatou-se no Grfico 4 a boa qualidade do atendimento da empresa e um bom grau de aceitao da qualidade do atendimento.
Grfico 5 procura avaliar a qualidade dos produtos perecveis e identificar possveis melhorias para este setor.
59
Setor de pereciveis
11,11%
0,00%
30,56%
58,33%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 5 Setor de Perecveis Fonte: Autores
O setor de perecvel est atendendo as necessidades dos clientes com boa satisfao e observa-se que a loja possui espao para melhorar a qualidade dos produtos e tentar diminuir este ndice e satisfazer o bom gosto dos clientes. Grfico 6 mede a satisfao do cliente com respeito satisfao da limpeza da loja, conservao dos produtos no ambiente.
60
Conservao e Limpeza
2,78%
0,00%
41,67% 55,56%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 6 Conservao e Limpeza Fonte: Autores
A pesquisa apresentou um bom resultado na conservao da loja e limpeza. A empresa deve manter a limpeza e tentar encontrar forma para de melhorar o trabalho dos funcionrios nesta hora.
Grfico 7 procura avaliar o atendimento oferecido pelos funcionrios da empresa e detectar possveis falhas no atendimento.
61
Atendimento dos funcionrios
2,78%
0,00%
44,44%
52,78%
timo
Bom
Regular
Ruim
Grfico 7 Atendimento dos Funcionrios Fonte: Autores
A empresa deve manter neste nvel de atendimento e procurar dar treinamentos e cursos para que este nvel de atendimento permanea igual, ou melhor. Grfico 8 procurou determinar a facilidade de encontrar os produtos na loja e detectar quem so os clientes da empresa.
62
Facilidade de encontrar os produtos na loja
8,33%
91,67%
Sim
No
Grfico 8 Facilidade de encontrar os produtos na loja Fonte: Autores
Na interpretao desta pesquisa identificou que a dos clientes entrevistados so clientes da empresa e conhecem a loja j esto adaptados ao layout da empresa. A necessidade de conhecer os fluxos da empresa foi elaborada em um fluxograma demonstrando as aes no processo financeiro, iniciando desde a chegada do cliente at a finalizao do processo financeiro.
4.7 Fluxograma Atual do Processo Financeiro Na figura 8 abordado o fluxograma do processo de compras na empresa, desde quando o cliente entra na loja at o depsito do dinheiro no banco.
63
Figura 8: Fluxograma Financeiro do Supermercado Martins. Fonte: Os acadmicos.
64
4.8 Anlise do Ambiente Organizacional / SWOT A anlise do SWOT tem como funo determinar as oportunidades e as ameaas externas organizao com seus pontos fortes e fracos. Esse cruzamento forma uma matriz dizendo o rumo a ser tomado. Como mostra a figura 9.
Ambiente Interno Pontos fortes Instalaes Localizao Ambiente Pontos Fracos Controle Financeiro Sinalizao Falta de Informatizao Ambiente Externo Oportunidades Novos Produtos Novos Servios Crescimento da Cidade Ameaas Concorrncia e novos entrantes Poltica da Cidade Mudana da Poltica Tributria Agricultura
Figura 9: Representao da Matriz SWOT. Fonte: Os autores.
Desta forma pode se visualizar o seguinte: a) Pontos Fortes: 1. Localizado no centro da cidade com grande fluxo de pessoas, local para estacionamento; 2. Instalaes: instalaes novas que do um conforto para o cliente. Ex. iluminao, piso, mveis todos com um padro para ramo de atividade; 3. Ambiente amplo e agradvel para a circulao dos clientes. b) Pontos Fracos: 1. Falta de controle financeiro: a empresa no controla de forma eficaz as contas
65
como: estoques, vendas, caixa, contas receber; 2. Falta de sinalizao dentro da loja para que os clientes possam achar com maior facilidade os produtos. 3. Sistema informatizado: todos os processos de controles so manuais. Isso gera muito trabalho para realizar as tarefas, informaes desatualizadas e de difcil obteno para a tomada de deciso, perca de tempo para marcao de preos nos produtos. c) Oportunidades: 1. Inovao dos produtos da padaria e confeitaria: isso significa uma atrao para os clientes, onde a empresa pode oferecer produtos para degustar e junto colocar produtos em destaque para reforar as vendas. 2. Recebimento de contas para agregar valor a empresa: como a empresa conta com um caixa do banco do Brasil tambm agregar valor para os clientes o pagamento de contas como: gua, luz, telefone; 3. Crescimento da cidade: o desenvolvimento da cidade trs benefcios como o aumento da demanda de produtos e aumento da renda da populao que passa a consumir produtos das classes superiores a sua; d) Ameaas: 1. Abertura de novos concorrentes e inovao: empresa que se instalem na cidade pode dificultar as vendas com isso diminuir os lucros; 2. Mudana da poltica da cidade: pode significar a perda de convnios com a prefeitura tendo uma reduo nas vendas; 3. Aumento de impostos: maiores custos para a empresa, diminuio dos lucros; 4. Agricultura; como a cidade tem sua maior fonte de renda vinda da agricultura qualquer movimento ou mudana que prejudique a mesma, trar conseqncias ruis para as vendas da empresa. Concorrentes Procura descrever quais so os concorrentes diretos e indiretos da empresa e no que cada concorrente pode apresentar dificuldades para a empresa.
66
Mercado Brasil: esta empresa j conta com sistema de informao para gerenciar estoque e vendas, preos competitivos, bom estoque esta localizada no centro da cidade perto de grande fluxo de pessoas naquela regio. Um ponto fraco o espao fsico da loja. Aougue e frutaria Brasilndia: uma empresa nova na cidade seu foco maior em vendas de carnes e produtos de primeira necessidade. Mercado Monte Sinai: esta empresa conta produtos desatualizados, baixa variedade de produtos, mal gesto de recursos humanos e financeiros dificuldades para negociar com os fornecedores. Mercados da cidade de Assis Chateaubriand: devido a proximidade das cidades e facilidade de deslocamento. Concorrentes Indiretos Vendedores ambulantes: so os vendedores que visitam a casa das pessoas oferecendo produtos
67
5 PROPOSIES DE MELHORIA
Visando melhorar a gesto financeira da empresa e atingir um bom grau de eficincia e eficcia no departamento financeiro, se prope o seguinte planejamento: a) Implantar sistema financeiro informatizado; b) Treinar a equipe para o trabalho informatizado; c) Melhorar os mtodos de marcao de preos; d) Analisar mensalmente todas as contas da empresa;
5.1 Implantar Novo Sistema Financeiro Informatizado
O novo sistema proporcionar o controle das contas caixa, estoque, contas a pagar e contas a receber do departamento financeiro. O controle de vendas ser realizado por produto, quantidade e marca. Pelo prprio sistema que tambm fornecer os relatrios e demonstrativos de vendas. O estoque ser controlado pelo sistema e toda compra efetivada ser lanado com quantidade, preo mdio de compra, preo de venda e porcentagem de lucro. Dessa forma alm de facilitar o controle em praticamente todas as reas da empresa, o sistema fornecer relatrios com informaes que ajudaro no gerenciamento e na tomada de decises pelo proprietrio da empresa. Observou-se tambm que o investimento para a aquisio do novo sistema, conforme apresentado na Tabela 3, o valor elevado, pois proporcionar muitos benefcios para a empresa.
68
Tabela 3 - Custos para a Implantao do Sistema Informatizado
Janeiro Software Treinamento Manuteno R$ 2.800,00 Fonte: Autores R$ 2.800,00
Fevereiro R$ 1.000,00 R$ 150,00 R$ 1.150,00
Maro
Total Geral
R$ 150,00 R$ 150,00 R$ 4.100,00
5.2 Treinamento para a Equipe
Sero realizadas reunies com todos os colaboradores onde ser apresentado o novo sistema. O fornecedor do software alm de realizar o treinamento, ir disponibilizar atualizaes on-line, com todos os passos para uma eficiente operacionalizao do sistema, tambm ser realizado backup dirio garantindo a segurana das informaes. A cada nova verso do programa, o fornecedor encaminhar um relatrio descrevendo as mudanas que sero realizadas passo a passo via sistema on-line.
5.3 Plano de Ao
Atravs
de
um
plano
de
ao
realizar-se-
planejamento
acompanhamento da implantao do novo sistema. A utilizao da ferramenta de qualidade 5W2H facilita o controle de cada etapa da implantao do sistema. Foi excludo o ultimo H (How much), devido o custo treinamento estar includo na aquisio do software de gerenciamento financeiro.
69
O que Receber treinamento
Quem Miguel Joceley
Quando Antes da implantao do sistema
Onde Na empresa
Por que Para compreender o sistema
Como Recebendo treinamento da empresa software
Marcar reunies com os colaborado Miguel
Na terceira quarta-feira de cada ms
Na empresa
Para treinar a equipe
Passar as informaes
Para verificar Acompanhar as atividades Atualizao do sistema Joceley Sempre que ocorrer Local de trabalho Joceley Dirio Local de Trabalho o funcionamento do processo Para facilitar a operao do sistema Figura 12 Plano de Ao para o Supermercado Martins. Fonte: Acadmicos
Com observao e planilhas de controle Atravs de internet
5.4 Otimizao na Forma de Marcao de Preo de Venda
Como a informatizao do sistema financeiro da empresa ser possvel a mudana do atual sistema de marcao de preo (produto a produto), para simplesmente utilizar pequenas tabelas que ficam fixam nas gndolas perto do produto. Com isso pretende-se diminuir o tempo para reposio, e minimizar os possveis erros de preo nos produtos. Esta proposta poder ser facilmente realizada pela responsvel de lanamentos dos produtos no estoque.
70
6 CONSIDERAES FINAIS
Concludo o trabalho e analisado as necessidades do gerente para as tomadas de deciso fica concreta a necessidade deste trabalho executado na rea financeira da empresa. Analisando a grande competio do mercado em busca dos clientes, a empresa sente que os detalhes esto fazendo o diferencial. O controle dos dados da empresa o suporte para as tomadas de deciso. A instalao de um software para gerenciar as contas da empresa uma ferramenta que pode contribuir para uma grande mudana na cultura da empresa fazendo que ela entre numa nova fase. A expectativa que a instalao do software possa criar uma necessidade de treinamento de todos os colaboradores da empresa que deve participar ativamente para obter o sucesso de implantao e execuo das tarefas. Com isso o gerente poder analisar os dados e tomar decises olhando o que esta acontecendo com a sua empresa e focar as melhores decises para a empresa. O controle das contas a pagar e receber, estoque e os ndices de rentabilidade da empresa so o bsico necessrio para a empresa avaliar seu andamento e determinar o foco da empresa. Com todos esses controles funcionando acredita-se que o processo de administrao se torna uma cincia exata e de auxilio a tomada de deciso. Termina-se este trabalho indicando o aprendizado obtido na comparao entre os conceitos apresentados na academia e as experincias obtidas no campo prtico, tornando profissional o estudante de Administrao. Sugere-se tambm que outros estudos possam ser desenvolvidos utilizando o mesmo objeto empresarial, tais como gesto de pessoas, gesto de processos, ferramentas da qualidade e outros tantos temas correlatos ao gerenciamento.
71
REFERNCIAS BIO, S. R. Sistemas de informao: um enfoque gerencial. So Paulo: Atlas, 1985. CHIAVENATO, Idalberto. Administrao, teoria, processo e prtica. 3 ed. So Paulo: Makrom Books, 2000. GIL Carlos Antnio. Pesquisa Social. 5. ed. So Paulo: Atlas, 1999. GITMAN, Lawrence J. Principio de Administrao Financeira. 7. ed. So Paulo: Harbra, 1997. KOTLER, Philip. Administrao de Marketing: anlise, planejamento,
implementao e controle. So Paulo: Atlas, 1998. LACOMBE, Francisco. HEILBORN, Gilberto. Administrao, princpios e
tendncias. So Paulo: Saraiva 2003. LAUNDON, K. C; LAUDON, J. P. Sistemas de Informao com Internet. Traduo de Dalton Conde de Alencar. Rio de Janeiro: LTC - Livros Tcnicos e Cientficos SA., 2003. MARION & REIS, Jos Carlos Marion e Arnaldo Reis. Mudana nas
Demonstraes Contbeis. So Paulo: Saraiva, 2003. MATARAZZO, Dante C. Anlise Financeira de Balanos, abordagem bsica e gerencial. 6a. ed. So Paulo: Atlas S.A., 2003. MATTAR, Fauze Nagib. Pesquisa de Marketing. 2. ed. So Paulo: Atlas, 1998. NETO, Alexandre Assaf. Estrutura e Anlise de Balanos. So Paulo: Atlas S.A., 2001. OBRIEN, James A. Sistemas de Informao e as decises gerenciais na era da internet. 2. ed. So Paulo: Saraiva, 2004. OLIVEIRA, Slvio Luiz de. Tratado de metodologia cientfica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, dissertaes e teses. So Paulo: Pioneira, 2001.
72
OLIVEIRA, D. P. R. Sistema de Informao Gerencial e Apoio a Tomada de Deciso. So Paulo: Atlas, 2004. OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouas, Planejamento Estratgico, conceitos, metodologia prticas. 22 ed. So Paulo: Atlas, 2005. POMPILHO, S. Anlise Essencial: Guia Prtico de Anlise de Sistemas. Rio de Janeiro: IBIP Press, 1999. PORTER, Michael E. Estratgias competitivas: Tcnicas para anlise de indstrias e da concorrncia. Rio de Janeiro: Campus, 1986. REBOUAS, D. P. Sistemas, organizao & mtodos: Uma abordagem gerencial. So Paulo: Atlas, 2001. ROBBINS, Stephen Paul. Administrao, mudanas e perspectivas. So Paulo: Saraiva, 2003. SANVICENTE, Antonio Zaratto. Administrao Financeira. So Paulo: Atlas, 1987. STAIR, Ralph M. Princpios de Sistemas de Informao, uma abordagem gerencial. 2. ed. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e Cientficos Editora S.A., 1998.
73
ANEXOS ANEXO A
74
ANEXO B
75
ANEXO C PROPOSTA COMERCIAL
Mercado Martins A/C: Sr. Miguel Martins Prezado Senhor: A CPAD INFORMTICA LTDA. uma empresa especializada em prestao de servios na rea de informtica, no que se refere ao desenvolvimento e fornecimento de Software, bem como consultoria. Atualmente nossa empresa conta com um grupo de parceiros que contribuem com informaes que nos possibilita implementar constantemente nossos sistemas, buscando incansavelmente a satisfao dos nossos clientes. Assim sendo temos a satisfao de apresentar uma PROPOSTA COMERCIAL, para fornecimento de servios de Software, com objetivo de tornar o processo de operacionalizao e controle do seu empreendimento, mais simples, eficiente e eficaz, bem como minimizar seus custos. Seguem abaixo as condies da proposta: I Descrio da proposta:
Valores unitrios por loja:
Item 01 02 Descrio Implantao / Treinamento do Sistema CPADI de Automao Comercial Contrato de locao e assistncia tcnica do sistema. Valor R$ 2.500,00 300,00
II Condies de fornecimento: Implantao do Sistema: O valor a que se refere Implantao do Sistema dar ao cliente: 1- Direito de uso sobre o sistema conforme descrito no contrato de locao e suporte tcnico que dever obrigatoriamente ser firmado entre as partes; 2- Treinamento sobre como utilizar corretamente o Sistema e como efetuar as cpias de segurana; 3- Alteraes que se faam necessrias durante a implantao; 4- A CPADI Informtica a nica proprietria dos direitos autorais e alteraes no sistema por ela desenvolvido, no concedendo ao cliente, no ato da contratao qualquer direito sobre o sistema que no seja a utilizao durante a vigncia do contrato. Contrato de Locao e Suporte Tcnico: O Contrato de Locao ser mediante pagamento mensal, com vencimento nos dias primeiro de cada ms, iniciando-se em trinta dias da assinatura da proposta, e garantir ao cliente, durante sua vigncia, o direito de uso sobre o sistema desenvolvido pela CPADI Informtica, sem, no entanto obter permisso para venda, locao, doao ou qualquer tipo de direito ou propriedade sobre o sistema, trate-se apenas de permisso para uso e direito a atendimento e suporte tcnico, e ainda sobre as atualizaes que sejam feitas no sistema durante a vigncia deste contrato. Prazo de entrega: At 05 dias teis.
76
APNDICES Apndices A Modelo de Pesquisa 1
1. Voc tem interesse nas ofertas oferecidas pelo mercado? ( ) Muito Interesse ( ) Interesse ( ) Pouco Interesse ( ) Sem Interesse 2. Sobre os aspectos dos produtos oferecidos na loja? ( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 3. A estrutura da loja para suas compras confortvel em seu ponto vista, como esta atualmente nossa estrutura? O que deveria mudar? ( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 4. Como est o nvel de nosso atendimento? ( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 5. Os Setores de perecveis esto agradveis? Se houver algum que no concorda indique qual? ( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim Setor_______________ 6 A conservao e a limpeza do mercado?
77
( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 7 O atendimento dos funcionrios? ( ) timo ( ) Bom ( ) Regular ( ) Ruim 8 Voc encontrou com facilidade os produtos que estava procurando? ( ) sim ( ) No
Você também pode gostar
- TCC - A Importancia Da Controladoria para Micro e Pequenas Empresas CertoDocumento16 páginasTCC - A Importancia Da Controladoria para Micro e Pequenas Empresas CertoRUTH CLAUDINAAinda não há avaliações
- Relatório de Estágio AdmDocumento14 páginasRelatório de Estágio AdmPaulino NettoAinda não há avaliações
- Adm Financeira - Pequenas e Médias EmpresasDocumento4 páginasAdm Financeira - Pequenas e Médias EmpresasDaniel TavaresAinda não há avaliações
- AP Sistemas de Informao Gerencial Nota 100Documento8 páginasAP Sistemas de Informao Gerencial Nota 100SilvanoAinda não há avaliações
- Prova P-1 2019-2 COM RESPOSTASDocumento8 páginasProva P-1 2019-2 COM RESPOSTASRenata Dos SantosAinda não há avaliações
- Válvula Redutora Auto Operada Spirax Sarco PDFDocumento20 páginasVálvula Redutora Auto Operada Spirax Sarco PDFDouglas Tondello100% (1)
- Sistema de Ensino Presencial Conectado Curso de Graduação em Ciências ContábeisDocumento17 páginasSistema de Ensino Presencial Conectado Curso de Graduação em Ciências ContábeisWillames Santos100% (1)
- TCC Thaina33Documento16 páginasTCC Thaina33UP Cont. - AtendimentoAinda não há avaliações
- Trabalho em Grupo - NampulaDocumento19 páginasTrabalho em Grupo - NampulaVirginia Varyny Naprimo Luante LuanteAinda não há avaliações
- Controle InternoDocumento36 páginasControle InternoPaulo Henrique100% (2)
- Apostila Módulo Controladoria FinanceiraDocumento32 páginasApostila Módulo Controladoria FinanceiraDORIVAL RODRIGUES DA SILVAAinda não há avaliações
- Tecnologia Da Informação Ao MarketingDocumento6 páginasTecnologia Da Informação Ao MarketingReneffer Ap. Costa AssuncaoAinda não há avaliações
- Tecnologia Da Informação Ao MarketingDocumento6 páginasTecnologia Da Informação Ao MarketingReneffer Ap. Costa AssuncaoAinda não há avaliações
- Matheus Pimenta Atividade de DefesaDocumento33 páginasMatheus Pimenta Atividade de DefesaLeticia ReisAinda não há avaliações
- Relatório de Controlo InternoDocumento15 páginasRelatório de Controlo InternoSuzy SantosAinda não há avaliações
- Consumo Lean Na Cadeia de Suprimentos de Uma EmpresaDocumento50 páginasConsumo Lean Na Cadeia de Suprimentos de Uma EmpresaVicente LanaAinda não há avaliações
- Controle Interno Nas Pequenas e Medias EmpresasDocumento24 páginasControle Interno Nas Pequenas e Medias EmpresasCarlos TomasAinda não há avaliações
- Artigo - MBA FinalDocumento24 páginasArtigo - MBA FinalAna Paula SouzaAinda não há avaliações
- A Contabilidade Como Ferramenta de Gestão Empresarial Nas Pequenas e Médias EmpresasDocumento29 páginasA Contabilidade Como Ferramenta de Gestão Empresarial Nas Pequenas e Médias EmpresasFenias Justino100% (2)
- Apostila1 - Administração Financeira e OrçamentáriaDocumento25 páginasApostila1 - Administração Financeira e OrçamentáriaArnoldo Schmidt NetoAinda não há avaliações
- Anteprojecto Sony Faltando Índice ProvisorioDocumento11 páginasAnteprojecto Sony Faltando Índice ProvisorioAndrea Setossi SetossiAinda não há avaliações
- ATPS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Pronta e RevisadaDocumento25 páginasATPS - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - Pronta e RevisadaSueli BarbosaAinda não há avaliações
- Seminario ImpactodecustosfinalDocumento7 páginasSeminario ImpactodecustosfinalWelton SantosAinda não há avaliações
- R - e - Simone DamascenoDocumento38 páginasR - e - Simone DamascenoAlbino Fanuel AfkidAinda não há avaliações
- Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza Etec Prof. Mário Antônio Verza Curso Técnico em ContabilidadeDocumento39 páginasCentro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza Etec Prof. Mário Antônio Verza Curso Técnico em Contabilidadeeusebio macuacuaAinda não há avaliações
- CT Gesfin Vii 2018 12Documento58 páginasCT Gesfin Vii 2018 12truegensouhAinda não há avaliações
- Impacto Da Auditoria Externa No Desempenho Organizacional de Pequenas e Médias EmpresasDocumento28 páginasImpacto Da Auditoria Externa No Desempenho Organizacional de Pequenas e Médias EmpresasFenias Justino100% (1)
- Análise Da Rentabilidade TCC Bruna GoinDocumento21 páginasAnálise Da Rentabilidade TCC Bruna GoinLiliana TumAinda não há avaliações
- Gestão de Crédito e Cobrança Análise Dos Resultados Da TercDocumento12 páginasGestão de Crédito e Cobrança Análise Dos Resultados Da TercRonilson PeixotoAinda não há avaliações
- Importância Do Controlo Interno Na Gestão de EmpresaDocumento25 páginasImportância Do Controlo Interno Na Gestão de EmpresaCarlos BulaundeAinda não há avaliações
- Cont Controladoria 2008.2Documento89 páginasCont Controladoria 2008.2zeramentocontabilAinda não há avaliações
- Limitacoes FinanceirasDocumento24 páginasLimitacoes FinanceirasFenias JustinoAinda não há avaliações
- "A Utilização Da Contabilidade Na Gestão Empresarial E Sua Importância Como Ferramenta de DecisãoDocumento38 páginas"A Utilização Da Contabilidade Na Gestão Empresarial E Sua Importância Como Ferramenta de DecisãoSimone Manhães Paulo VieiraAinda não há avaliações
- Produção Textual - BonittaDocumento8 páginasProdução Textual - BonittaConsultoria Acadêmica33% (3)
- Gestão Financeira, Gestão de Custo e DesempenhoDocumento8 páginasGestão Financeira, Gestão de Custo e DesempenhoPatricia SilvaAinda não há avaliações
- TCC AuditoriaDocumento46 páginasTCC AuditoriaJuliana Santana SoaresAinda não há avaliações
- Adminccsa, Gerente Da Revista, 7 Análise Dos Sistemas de Controle Interno em Empresas de Pequeno PorteDocumento21 páginasAdminccsa, Gerente Da Revista, 7 Análise Dos Sistemas de Controle Interno em Empresas de Pequeno PorteRafaela GoncalvesAinda não há avaliações
- AULA 01 - Controladoria - Conceitos BásicosDocumento122 páginasAULA 01 - Controladoria - Conceitos BásicoscontadorakarlaalencarAinda não há avaliações
- 2 - AUDITORIA FINANCEIRA - OkDocumento54 páginas2 - AUDITORIA FINANCEIRA - OktccvitorAinda não há avaliações
- Manual 4317Documento24 páginasManual 4317Pedro Azevedo (Stor Litos)Ainda não há avaliações
- A Gestão Por Tras Dos Resultados - Pre-ProjetoDocumento16 páginasA Gestão Por Tras Dos Resultados - Pre-ProjetojulionaotoAinda não há avaliações
- Normas e Procedimentos Do Depart Amen To TesourariaDocumento36 páginasNormas e Procedimentos Do Depart Amen To TesourarialnirjoAinda não há avaliações
- Importancia Do Controle Interno para o Projecto TCE Gaza - Rastreio de Caso de HIVDocumento17 páginasImportancia Do Controle Interno para o Projecto TCE Gaza - Rastreio de Caso de HIVwarg8264Ainda não há avaliações
- ADocumento18 páginasAcontabilidadeunitivaAinda não há avaliações
- TCC ThainaDocumento20 páginasTCC ThainaUP Cont. - AtendimentoAinda não há avaliações
- Dissertação - Maria Oliveira MartinsDocumento39 páginasDissertação - Maria Oliveira MartinsFelipe LimaAinda não há avaliações
- Pré-Projeto TCC Ciências Contábeis1Documento11 páginasPré-Projeto TCC Ciências Contábeis1Ivanildo Novais LopesAinda não há avaliações
- Artigo Controbalodria e Gestão de CustosDocumento19 páginasArtigo Controbalodria e Gestão de CustosAna Angélica NogueiraAinda não há avaliações
- Jelson Leonel FernandesDocumento106 páginasJelson Leonel FernandesSORAIA BARBOSAAinda não há avaliações
- Trabalho IndividualDocumento17 páginasTrabalho IndividualEXATA CONTABAinda não há avaliações
- Dissertação 20180195 - Versão FinalDocumento91 páginasDissertação 20180195 - Versão FinalDavid CuiombaAinda não há avaliações
- Vanessa Da Concei o LopesDocumento47 páginasVanessa Da Concei o Lopespetilsonmuika8Ainda não há avaliações
- aa3bdf3119d60bc88a8d8720ad50350fDocumento8 páginasaa3bdf3119d60bc88a8d8720ad50350fValdemir NetoAinda não há avaliações
- AnteprojectoDocumento7 páginasAnteprojectoAdriano AntónioAinda não há avaliações
- Geovani Da Silva FritzenDocumento45 páginasGeovani Da Silva Fritzenmarcelo tassAinda não há avaliações
- 7 ARTIGO Contabilidade Por Responsabilidade: Apurando Resultados Financeiros Na Agroindústria Rita de Cássia Fonseca Rodrigues 2005Documento16 páginas7 ARTIGO Contabilidade Por Responsabilidade: Apurando Resultados Financeiros Na Agroindústria Rita de Cássia Fonseca Rodrigues 2005Iaísa MagalhaesAinda não há avaliações
- Ceeteps - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" Etec Orlando QuagliatoDocumento34 páginasCeeteps - Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" Etec Orlando QuagliatoJoão Kiala TokoAinda não há avaliações
- Analise Das Demonstracoes Financeiras. FinalDocumento20 páginasAnalise Das Demonstracoes Financeiras. FinalFenias Justino100% (1)
- Escrituração Contabilística para As Micro e Pequenas Empresas Como Instrumento Determinante Na Tomada de DecisãoDocumento25 páginasEscrituração Contabilística para As Micro e Pequenas Empresas Como Instrumento Determinante Na Tomada de DecisãoFenias Justino100% (3)
- Estratégias Financeiras E Empreendedorismo Com PropósitoNo EverandEstratégias Financeiras E Empreendedorismo Com PropósitoAinda não há avaliações
- Governança Corporativa e Sustentabilidade como Estratégia Competitiva para Pequenas e Médias Empresas no BrasilNo EverandGovernança Corporativa e Sustentabilidade como Estratégia Competitiva para Pequenas e Médias Empresas no BrasilAinda não há avaliações
- Conteudo Da Unidade I: Sistemas de Informação de GestãoDocumento104 páginasConteudo Da Unidade I: Sistemas de Informação de GestãoDakarAinda não há avaliações
- Processo Monitorar - Gestão de Pessoas IDocumento9 páginasProcesso Monitorar - Gestão de Pessoas Icintialopes73Ainda não há avaliações
- Tic PerisquiDocumento19 páginasTic PerisquiChristiano DomingosAinda não há avaliações
- Auditoria Do Plano de Contingência e Recuperação de Desastres PDFDocumento17 páginasAuditoria Do Plano de Contingência e Recuperação de Desastres PDFWelder PauloAinda não há avaliações
- Desenvolvimento de Um Sistema Informático para Gestão de Processamento Salarial Do Posto de Abastecimento Da Pumangol em NdalatandoDocumento51 páginasDesenvolvimento de Um Sistema Informático para Gestão de Processamento Salarial Do Posto de Abastecimento Da Pumangol em NdalatandoPaulo CasteloAinda não há avaliações
- Apresentação Gestão ContábilDocumento23 páginasApresentação Gestão Contábilsilviamar70Ainda não há avaliações
- ABNTDocumento7 páginasABNTMichel AlvesAinda não há avaliações
- Sistemas de Informações GerenciaisDocumento192 páginasSistemas de Informações GerenciaisGiselle ImaiAinda não há avaliações
- AULA 01 - Sistemas de Informação GerencialDocumento41 páginasAULA 01 - Sistemas de Informação GerencialJORNAL RE Notícias100% (1)
- Processo de Controlo de GestãoDocumento13 páginasProcesso de Controlo de GestãoSergio Alfredo MacoreAinda não há avaliações
- Diagnóstico Pizzaria Pizza RedondaDocumento2 páginasDiagnóstico Pizzaria Pizza RedondasimonempbAinda não há avaliações
- Mapa - Adm - Sistemas de Informações Gerenciais - 5220232Documento2 páginasMapa - Adm - Sistemas de Informações Gerenciais - 5220232AssessoriaAinda não há avaliações
- EAP-Cubo Da IncertezaDocumento34 páginasEAP-Cubo Da Incertezavalmiralmenara100% (1)
- Atividade Pratica Sistema de InformaçãoDocumento13 páginasAtividade Pratica Sistema de InformaçãoDiego FeitosaAinda não há avaliações
- Projecto Cientico Nick Naimo 2022Documento30 páginasProjecto Cientico Nick Naimo 2022Nick NaimoAinda não há avaliações
- PTD Sistemas de Informações GerenciaisDocumento5 páginasPTD Sistemas de Informações GerenciaisClaudio LeiteAinda não há avaliações
- SEC - Sistemas de Informações Gerenciais (2022)Documento109 páginasSEC - Sistemas de Informações Gerenciais (2022)Madson Marques SantanaAinda não há avaliações
- Colaborar - Av2 - Sistemas de Informação Gerencial - BDocumento4 páginasColaborar - Av2 - Sistemas de Informação Gerencial - BYandra SouzaAinda não há avaliações
- Colaborar - Av1 - Sistemas de Informação GerencialDocumento3 páginasColaborar - Av1 - Sistemas de Informação GerencialPablo Silvmor67% (3)
- 1521 3054 1 SMDocumento15 páginas1521 3054 1 SMricpoliveira7451Ainda não há avaliações
- Administração SenacDocumento101 páginasAdministração Senacbombeiro_snu100% (1)
- Versão Final Livro Perspectiva de Contabilidade e Sustentabilidade 1Documento132 páginasVersão Final Livro Perspectiva de Contabilidade e Sustentabilidade 1jose francisco belfort britoAinda não há avaliações
- N2 - Pos0445 - Análise e Resolução de Problemas ProfissionaisDocumento9 páginasN2 - Pos0445 - Análise e Resolução de Problemas ProfissionaisRogério MeloAinda não há avaliações
- A Importância Do Sistema de Informação Gerencial para As EmpresasDocumento19 páginasA Importância Do Sistema de Informação Gerencial para As Empresasadenilton1966Ainda não há avaliações
- Gestão de Salão de Beleza - Apostila 3Documento15 páginasGestão de Salão de Beleza - Apostila 3Pamella SuellenAinda não há avaliações
- Ebook Sistemas de Informações Gerenciais - Unidade 01Documento44 páginasEbook Sistemas de Informações Gerenciais - Unidade 01Paulo Henrique RosaAinda não há avaliações
- Apostila Do e SocialDocumento77 páginasApostila Do e Socialbruna fernandesAinda não há avaliações