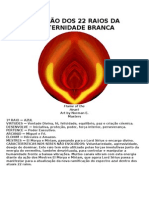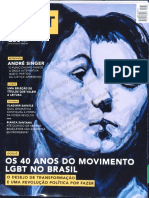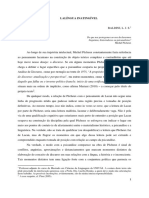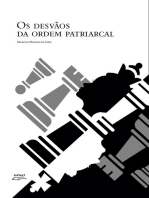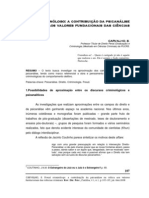Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cult 44, Heidegger, Mar de 2001
Cult 44, Heidegger, Mar de 2001
Enviado por
Edilson PantojaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cult 44, Heidegger, Mar de 2001
Cult 44, Heidegger, Mar de 2001
Enviado por
Edilson PantojaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
44
REVISTA BRASILEIRA DE LITERATURA
e
"
Semana da Francofonia
rene vozes de trs continentes
' ' ' e s
Relquia macabra transposio para
as telas do clssico noir O falco malts
A poeta norte-americana Laura Riding
e suas investidas antipoticas
' '
Um poema do norte-americano
Michael Palmer sobre So Paulo
' '
#
Villa Kyrial: tradio e renovao
na belle poque de So Paulo
' s
"
"
Carta indita de Oswaldo Aranha
ao General Ges Monteiro
' e e e s
&
O filsofo
^artin
Heidegger
A poeta norte-
americana
Laura Riding
A partcula se no poema
Catar feijo, de Joo Cabral de Melo Neto
` ' ' J
""
s s e
"#
Heidegger, o filsofo que resumiu
os dilaceramentos do sculo XX
A
r
q
u
i
v
o
d
a
U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d
e
d
e
C
o
r
n
e
l
l
' e
$"
Cartas, fax e e-mails dos leitores de CULT
e s
O filsofo italiano Gianni Vattimo
fala de seu pensamento fraco
R
e
p
r
o
d
u
o
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
A
o
l
e
i
t
o
R
Manuel da Costa Pinto
M A R O D E 2 0 0 1
A o l e i t o R A o l e i t o R A o l e i t o R A o l e i t o R A o l e i t o R
Editor e jornalista responsvel
^anuel da Costa Pinto - ^TB 2||
Redatora
^aria Cristina Antiqueira Flias
Arte
Tatiana Paula P. Barboza (editora)
Carlo De Francesco
Diagramao
Rorio Richard
Digitalizao de imagens
Adriano ^ontanholi
Reviso
Claudia Padovani
Colunistas
Cludio Giordano
]oo Alexandre Barbosa
Pasquale Cipro Neto
Colaboradores
Aldo \illani, Andr Duarte, Carlos Adriano, ]air Alves Corozinho Filho, ]oo da
Penha, ]uliano Garcia Pessanha, ^anoel Ricardo de Lima, ^arcelo ^irisola, ^arcello
Rollember, ^aria Andrea ^uncini, ^ichael Palmer, Ris Bonvicino, Renzo ^ora,
Rodrio Garcia Lopes, Zeljko Loparic
Capa
Ieideer em 1| (foto de Felix I.^an), nos destaques, a cabana do pensador alemo
em Todtnauber, o filsofo italiano Gianni \attimo (Ancia />) e o senador
Freitas \alle na \illa Kyrial em 1o (Divulao).
Produo grfica
Altamir Frana
Fotolitos
Lniraph
Departamento comercial
^illa de $ouza - Triunvirato Comunicao
Rua ^xico, !1-D, Gr. 1.|u| A - Rio de ]aneiro - R]
CFP 2uu!1-1|| - tel. 21/!!-!121/!!-1ou1
e-mail: triunvirato_openlink.com.br
Distribuio e assinaturas
Leonardo Lopes e ]os Cardeal do Carmo
Rua Treze de ^aio, |! - $o Paulo - $P
CFP u1!2-u2u - tel. 11-!2o2-1!22, fax 11/2-|21
e-mail: assinaturas_lemos.com.br
Distribuio em bancas
FFRNANDO CINAGLA Distrib. $/A
Rua Teodoro da $ilva, u
Rio de ]aneiro - R] - CFP 2uo!-uu
Tel./fax 21/-oo/o!o!
e-mail: contfc_chinalia.com.br
Distribuidor exclusivo para todo o Brasil.
Assinaturas e nmeros atrasados: 0800-177899
Representantes
Alaoas, Paraba, Pernambuco e Rio Grande do Norte: 1/!2!1-ouu
Amap, Par e Tocantins: Cidade Nova \ WF, !1, n. !o2, Ananindeua, PA
Amazonas e Rondnia: bookstore_hotmail.com
Fsprito $anto e Rio de ]aneiro: 21/u1-1!o
Paran: |2/222-u2
Rio Grande do $ul: 1/!-!|!o
$o Paulo: 11/!12u-u|2
Departamento jurdico
Dr. \aldir de Freitas
Departamento financeiro
Reiane ^andarino
ISSN 1414-7076
Diretor-presidente
Paulo Lemos
Diretora executiva
$ilvana De Anelo
Diretor superintendente
]os \icente De Anelo
Vice-presidente de negcios
delcio Donizete Patricio
CLLT - Revista Brasileira de Literatura
uma publicao mensal da Lemos Fditorial & Grficos Ltda.
Rua Rui Barbosa, u, Bela \ista - $o Paulo, $P
CFP u1!2o-u1u - Tel./fax: 11/21-|!uu
e-mail: cult_lemos.com.br
REVISTA BRASILEIRA DELITERATURA
Tiragem desta Edio: 25.000 exemplares Auditada por
Essa edio da CULT se abre com a entrevista de um
filsofo heideggeriano e se encerra com um dossi sobre
Heidegger. Alm do acaso editorial que possibilitou termos
acesso a Gi anni Vat t i mo no mesmo per odo em que
preparvamos esse nmero sobre o autor de Ser e Tempo,
tal coincidncia aponta para a equao de um problema
que vem naturalmente tona quando se discute a obra de
Heidegger: como ler hoje essa filosofia to poderosa que
repousa sobre a diferena ontolgica entre ser e ente e
que desvela uma existncia para alm das apropriaes do
ser pela cincia, pela tcnica ou pela metafsica evitando
o risco, a ela inerente, de se deixar levar por uma ruptura
com o tempo que, libertando-nos das determinaes e dos
clculos que nos transformam em objetos, em coisas entre
coisas, nos lance numa noite do ser cuja contrapartida seja
o pesadelo da histria? No foi isso que aconteceu com
Heidegger durante o nazismo, ao qual ele aderiu nos
primeiros anos da dcada de 30, quando era reitor da
Uni versi dade de Frei burg? A i rrupo para fora da
modernidade, que o filsofo viu no jbilo coletivo do povo
alemo, no era afinal um desdobramento, no corao
ensandecido das massas, da fria disciplinadora que ele
identificava tanto na burocracia comunista quanto na
indstria capitalista? Bem entendido, o prprio Heidegger
fez a crtica de suas iluses filosficas e buscou outras
formas de materializao do enigma ntico para o qual seu
pensar aponta como se pode ver, por exemplo, no ensaio
de Zeljko Loparic publicado no Dossi, em que os hinos
de Hlderlin aparecem como modelos de superao do
esquecimento metafsico do ser. Entretanto, inegvel que,
assim como ocorre com Nietzsche, o pensamento de
Heidegger se presta a leituras que o vinculam ao pathos
nazista. Como ento formular o contra-veneno para essa
ultrametafsica inoculada na antimetafsica mais radical?
nesse sentido que nos importa ler a entrevista de Gianni
Vattimo, cujo pensiero debole sugere, justamente, a idia
de se el aborar, a part i r da di f erena ont ol gi ca de
Heidegger, uma espcie de ontologia da diferena que
enfrente o desafio de pensar filosoficamente (e no apenas
em t er mos de conv vi o t i co) a di ver s i dade de
presentificaes de cada ser e a ausncia de um fundamento
nico da realidade.
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N o t a S N o t a S N o t a S N o t a S N o t a S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
N
o
t
a
S
AeetmAOAe
cteOe cOL OeOO.1VVeee
mmm.|enoe.con.br/cu|c
on line
Friedrich Nietzsche
Reproduo
B a t e - p a p o s o b r e N i e t z s c h e
A Fnac e a CULT promovem no dia 15 de maro, s 19h, um encontro com o filsofo
Oswaldo Giacoia Junior, professor da Unicamp e autor de Folha explica Nietzsche (Publifolha)
e Labirintos da alma: Nietzsche e a auto-supresso da moral (Edunicamp). O evento faz
parte da srie Bate-papo com o autor, que promove encontros do pblico com escritores
brasileiros, como o que ocorreu com o escritor Milton Hatoum em setembro de 2000. O
Bate-papo com o autor acontece na Fnac (av. Pedroso de Morais, 858, So Paulo, tel. 11/
3097-0022).
V i a A t l n t i c a I
Acaba de ser lanado o quarto nmero da revista Via Atlntica, do Departamento de Letras
Clssicas e Vernculas da USP, cujo tema a produo literria dos pases de lngua
portuguesa. A publicao traz um Dossi com textos dedicados especificamente crtica
literria, como Moniz Barreto crtico de Ea, de Carlos Reis, Crticos e historiadores da
literatura: Pesquisando a identidade nacional, de Regina Zilberman e Sntese gentica, de
E.M. de Melo e Castro, que trata da crtica gentica e do processo fluido e dinmico de
produo de textos caracterstico da era da informtica.
V i a A t l n t i c a I I
A seo Outros ensaios de Via Atlntica contm textos como Pessoa e doena do ocidente,
de Leyla-Perrone Moiss, Sobre os enigmas de Soror Juana Ins de la Cruz, de Horcio
Costa, e Para uma aproximao lngua-literatura em portugus de Angola e Moambique,
de Perptua Gonalves. A revista traz ainda resenhas de Nas tuas mos, novo romance da
jovem escritora portuguesa Ins Pedrosa, e de A gerao da utopia, novo ttulo do romancista
angolano Pepetela, alm de dois textos inditos: O judeu errante, pea inacabada de Jos
Rgio, e Cartas, roteiros e viagens de Vitorino Nemsio, que rene a correspondncia entre
o poeta portugus e Hlio Simes entre 1952 e 1977. Via Atlntica tem 318 pginas, custa
R$ 12,00, e pode ser comprada no Centro de Estudos Portugueses da USP (av. Professor
Gualberto, 403, sala 100, Cidade Universitria, tel. 11/ 3819-9400).
B o r i s V i a n
O livro Boris Vian: Poemas & Canes (Nankin Editorial, com traduo de Ruy Proena) e o
CD Letcia Coura canta Boris Vian (Dabli Discos) sero lanados no dia 14 de maro, a
partir da 19h, no SESC Pompia (R. Cllia, 93, So Paulo, tel. 11/ 3871-7700). Na ocasio,
os msicos Beba Zanettini e Vitor da Trindade e a cantora Letcia Coura apresentaro msicas
do CD e o poeta Ruy Proena e o ator Ivan Cabral (da companhia Os Satyros) recitaro
poemas do livro. Aps o lanamento, o espetculo Boris Vian: Poemas & Canes
permanecer em cartaz, de 15 de maro a 26 de abril, s 4
as
e 5
as
feiras, s 21h30, no Caf
Teatro dos Satyros (Praa Roosevelt, 214, So Paulo, tel. 11/258-6345).
A r t e s P l s t i c a s
O catlogo da exposio Brasil1920-1950: da Antropofagia a Braslia, realizada em Valncia
e encerrada em janeiro passado, est venda em So Paulo. Tema do texto de Ana Mae
Barbosa publicado na CULT 43, o catlogo contm, em suas 630 pginas, ensaios e obras
fundamentais para a compreenso da modernidade brasileira e pode ser comprado pelo
preo de R$ 220,00 na Livraria Memorial (Rua Jos Maria Lisboa, 463, apto. 84, 8
o
andar,
tel. 11/3889-7388).
E d u a r d o S u b i r a t s
O filsofo espanhol Eduardo Subirats, professor da Universidade de Nova York, estar no
Brasil para trs noites de autgrafos de seu novo livro, A penltima viso do paraso
Ensaios sobre memria e globalizao (168 pgs. preo no definido). Os eventos, du-
rante os quais ser proferida a palestra A penltima viso do paraso: Da utopia ao desastre,
acontecem no dia 9 de maro, s 19h, em Recife (salo de recepo do Museu de Arte
Moderna Alosio Magalhes, r. da Aurora, 265, tel. 81/3423-3007), no dia 13, s 18h, no
Rio de Janeiro (Universidade do Estado do Rio de Janeiro, r. So Francisco Xavier, 524, 11
o
andar, tel. 21/587-7701) e no dia 15, s 19h em So Paulo (Livraria Cultura do Shopping
Villa-Lobos, av. das Naes Unidas, 4.777, tel. 11/3024-3599).
4 Cul t - maro/2001 4
e t c e . | e t e
A
g
n
c
i
a
O
G
l
o
b
o
/1 )1
8)661
maro/2001 - Cul t 5
G|e| xett|c i||cecic |te||ec eec|cc e
1Oc| e 1-L e O eetOc|cec cc eeeetc
ce ||etzecme, |e|ce__ec e Geceec e e|eccccO
O eeeetc i||ceci|cc etOe|.ee|c Oe cmecO
ce eeeetc icecc jeieierc cecce|, e
cce|c ec eeeetc iccte ce etei.e|ce
c|eee|ce, cc ee eOee ecetcc|ee cectezee e
ceee|tc cc iOceetc O|cc ce cee||cece. |ce,
c|z e|e, ec eceeeec|ee e|ccee ecectOcee, ec-
_ee e|e |ec_ee ce |teccetec ce. ce eetOcce
eccce e meceOt|ce ce Geceec|, ece Oe
e|cc ||ceccece ce cei|exc eccce e cee||cece e c
eec, ecececc c ccc|ee e tcce eOe cccce-
tOce, cee|tecc ce ecteeee ce iecec|c_|e
mOeeec||ee. Otcc ce C :ii ce icceriicece
|ect|e |ctee| e cc_e|zeccc, cc |ecc|ce, ce
cc|etee rei_iec Letec ||ceccece|, xett|c
cetcccO e ||etzecme ece ceeiezec ce eO..ccce
eec|cce ce tecc|e cc eOec-mce e ece cc
e e.|cc|e cei|excee e tccc ce |ceecc|e
etce e i||ceci|e e e c|c|e; e |e|ce__ec, cccOccO
ee cei|excee ex|etec|e||etee .c|tecee ece c
ccmec|etc e ccec|c|e| ce ||ceccece cc
mce e ccec iezec eecc|mee ece ee Oe|e c
|||te eece e ccte .|.|ce e cece c|e ccc
ceeeet|etc e_Oet|e| ccicce ei|ce c
i||cecic e etce.|ete cccec|ce cc te|eice ce
cOxe|ee, cce e ceOtecc c |ec|eetc LOcceO.
|cc x|||e|
|ec|e ccee |Oc||
6 Cul t - maro/2001 6
Cult Os seus escritos afirmam que no debate filosfico atual no
mais aceitvel a idia de que o papel do pensamento sea o da procura
de uma fundao nica", ltima, normativa da realidade. Poderia
nos falar um pouco dessa tese, situando sua reflexo no conunto da
filosofia europia elaborada dos anos ou em diante:
Gianni Vattimo A negao de um fundamento nico est ligada a
descoberta do carter ideolgico do pensamento. Porm, ^arx pen-
sava que fosse possvel desmascarar a ideologia e, portanto, ele tambm
permanecia com as idia de um fundamento nico sob os muitos
vus ideolgicos. A dvida formulada por ^arx contra a ideologia
pode ser completada com a posies de Nietzsche, segundo as quais
todo conhecimento est condicionado pelo uso de uma certa linguagem,
que uma faculdade natural do homem. As lnguas que de fato so
faladas so culturalmente diferentes e permitem, condicionam e de
alguma maneira determinam uma viso especfica da realidade, a tal
ponto que as culturas so modos de dar-se de uma realidade que
difcil considerar como nica. $e ns dizemos que interpretamos a
realidade, essa frase uma interpretao, ou a descrio da realidade
como , por isso torna-se dificlimo pensar, ou melhor, no se pode
mais pensar, depois da suspeita levantada por Nietzsche, que haa
um fundamento ltimo da realidade que possamos conhecer. Fato
esse que nos expe a diversas contradies e graves dificuldades. ]
em Kant estava claro que toda experincia se d no espao-tempo, na
estrutura categorial das relaes entre causa e efeito etc.: possvel
que o fundamento ltimo da realidade nos sea dado desse modo:
sto : quando dizemos que Deus existe, isso quer realmente dizer
que o encontramos em algum lugar: sso hoe no tem mais muito
sentido, mesmo se tal concepo remonta a Aristteles. No afirmamos
que no haa um fundamento ltimo, porque essa afirmao seria ela
mesma um fundamento ltimo: nas filosofias contemporneas, o que
realmente importante a relao entre o ser e a linguagem, como
dizia Heidegger quando afirmava que a linguagem a casa do ser,
porquanto o ser se d como evento acima de tudo lingstico. Tal
.. visto como um conunto de critrios para a verificao ou a
falsificao de proposies postas dentro de um horizonte histrico e
cultural no de todo arbitrrio, na medida em que est ligado a herana
cultural e as tradies, a mistura de culturas diversas. $e o ser no
um obeto real diante de ns, o pensamento deve considerar essa
transformao que no s do pensamento. Ns no pensamos que
haa o ser, imaginado de formas diversas: se o fato de imaginarmos o
ser em formas diversas faz parte da histria do ser, ento se trata de
compreender, propondo interpretaes dessa histria de nossos
modos de interpretar atravs das linguagens etc. Propor essas inter-
pretaes quer dizer dialogar com os outros indivduos, com as outras
culturas enfim, chegar a um acordo. ^uito importante para toda a
filosofia do sculo XX a tese de Heidegger segundo a qual o ser
no , mas .., d-se, ... F o .. exatamente o definir-
se dos quadros de experincia que vm de uma tradio, postos em
discusso e interpretados por cada um de ns, pelos grupos sociais e
pela sociedade, pelas culturas. O ser o que se consolida nesses
relacionamentos entre sociedade, linguagens e cultura, e no qualquer
coisa em torno da qual ns nos movimentamos como formigas sobre
a pele de um elefante.
Cult Quais as implicaes poltica, esttica e cultural do pensamento
fraco": Como o define em relao ao pensamento forte":
G.V. F uma filosofia da histria fundada sobre a idia do enfraque-
cimento das estruturas do ser como sentido de emancipao da histria
humana, emancipao que vai exatamente na direo de um enfraque-
cimento das estruturas obetivas, ou sea, daquilo que a metafsica
chamava o ser. Fxplico-me melhor: se ns entendemos que no pos-
svel imaginar um fundamento ltimo da realidade como dado obetivo
existente, estamos na posio de quem recebe mensagens e as interpreta
enviando outras mensagens, concordando em chamar o ser .//./,
no arbitrariamente, mas com base em outras mensagens de seres
providos de cultura, de civilidade etc. $e assim, ento devemos achar
os fios condutores para as nossas interpretaes, que no pretendem
fundar-se na exibio do obeto ltimo: se devo demonstrar que tudo
interpretao, no posso considerar um obeto que dado fora da
interpretao, mas devo interpretar e argumentar com razes veros-
smeis, persuasivas, no mostrando o obeto assim como , porque isso
seria contraditrio em relao a minha tese. As razes que posso adiantar
para ustificar o bom senso das minhas teses filosficas so, como dizia,
do tipo histrico-cultural: perguntarei ao meu interlocutor se leu ^arx,
Freud, Nietzsche, ou sea, aquilo que pertence a tradio da qual
descendo, a nica coisa da qual disponho para argumentar, uma vez
que, no possuindo o fundamento ltimo da realidade, sei que no
posso falar dele. O que proponho como argumento uma interpretao
da histria, do ser, da linguagem das culturas as quais me refiro, dados
maro/2001 - Cul t 7
esses fatos, esses eventos, esses livros que li, essas transformaes sociais,
parece-me mais razovel falar de uma coisa do que de outra. A histria
da cultura no apenas minha, mas a histria do Ocidente tornada
relativamente universal. Nela encontro a Bblia, o pensamento grego,
a herana crist, a histria da poltica dos estados modernos e mais
ainda, mas tudo reagrupvel sob a categoria do /.,/o.. Por
exemplo: com relao as religies assim chamadas primitivas", as reli-
gies naturais que pensam em um Deus como em um ente misterioso,
supremo, do qual no se entende bem o que quer e o que no quer, a
revelao bblica do Antigo Testamento e a do cristianismo so um
/.,/o., isso , Deus no mais to misterioso porque nos
falou, nos disse etc. Com o cristianismo Deus no nem mesmo to-
talmente transcendente, porque se fez homem, se abaixou deixando-se
por fim crucificar-se. Na tradio crist, muitas leituras dos preceitos
do Antigo e do Novo Testamento tornaram-se leituras alegricas espi-
rituais porque aprendemos a ler o Fvangelho sob orientao da grea.
$e o teu olho te escandaliza, arranca-o e oga-o longe de ti", diz o
Fvangelho, mas nenhum de ns faz isso. ^ax Weber dizia que a
modernidade capitalista o produto de uma interpretao secularizada,
mas nem por isso menos sacra, da tica crist: aprende-se a economizar,
a mortificar os deseos imediatos, a utilizar os bens da terra para pro-
duzir outros bens porque isso parece um sinal da predileo divina,
mas tudo isso cristianismo enfraquecido, secularizado. $e olhamos a
histria dos Fstados modernos, aquilo que se pode chamar progresso
a passagem dos regimes autoritrios aos regimes democrticos, tudo
isso um enfraquecimento na medida em que antigamente havia um
que decidia por todos e praticava a pena de morte. Hoe, os pases civis
no tm mais a pena de morte e tm a democracia, que um regime
mais fraco sendo menos decisionista", menos definitivo, podendo-se
recorrer sea contra uma deciso do Parlamento, sea contra a deciso
dos uzes: isto , trata-se de um regime ideolgico. At na fsica, eu
acredito que as entidades das quais os fsicos falam so sempre menos
comparveis e comunicantes com os obetos que conhecemos, os ltimos
componentes da matria parecem alguma coisa de extremamente voltil
e com os quais sobretudo nunca fazemos uma experincia sensvel
imediata, como quando damos um soco em um muro. Fssa tambm
uma forma de leveza e enfraquecimento. Perdido o fundamento nico
no posso seno refletir em termos de argumentao histrico-cultural
e me parece que a interpretao mais razovel da histria da qual
descendo sea essa do /.,/o., que naturalmente se refere a idia
do niilismo em Nietzsche e da diferena ontolgica em Heidegger, que
so temas mais tecnicamente ligados a isso porque me parecem ustificar
uma filosofia fraca da histria.
Cult O homem moderno est s diante da morte mesmo com toda
a sua liberdade. Quais podem ser as conseqncias dessa solido:
G.V. Precisaramos verificar at que ponto o homem antigo tambm
no se sentia s diante da morte. No s o homem moderno que
morre pessoalmente, todos os homens sempre morrem individual-
mente. A pergunta provavelmente significa que hoe temos laos
comunitrios menos fortes, enraizamentos menos profundos na fam-
lia e com a comunidade do territrio, no acreditamos mais na raa.
Felizmente no dispomos mais de uma comunidade natural, temos
necessidade de recompor continuamente as formas de comunidade,
possivelmente no as fundando sobre algum fundamento ltimo
natural do tipo ns somos brancos" ou ns somos melhores porque
somos heterossexuais", mas cada vez mais fundando essas comuni-
dades com base no reconhecimento explcito de afinidades, de partilha
de proetos. Nesse caso, se eu reconheo que h a necessidade de
dependncia, de construir grupos, de ter amigos, isso no pode ser
feito sobre a base de dependncias naturais que me obrigam e me
determinam, mas sobre a base de proetos, de eventos. $ou amigo de
todos aqueles que, como eu, tendem para a direo de um certo
obetivo poltico e religioso, afinal, se - como dizia Frnest Bloch -
contra a morte ainda no foi inventada a erva que a cure, eu tambm
estou s diante dela, mas estarei menos se pensar na minha f crist.
Lma f no muito pessoal, no muito ortodoxa, cristianismo como a
religio do enfraquecimento, um sentir-me cristo de tal forma que
mesmo a minha morte sea de alguma maneira um evento emancipativo,
que me liberta, isso , d alguns limites. ^esmo se no sei em que
estado me colocar, estou convencido de que no ser a anulao total.
Cult O conceito de /. (piedade, caridade, compaixo), segundo
a sua definio, seria um filtro terico" das mensagens a ns
enviadas do passado. A viso sinttica totalizante do pensamento
forte", ou sea, a metafsica ocidental, parece querer excluir algumas
dessas mensagens, sobretudo as vozes dos vencidos. Fssa degus-
tao do passado", implcita na idia de /., inclui tambm men-
sagens extra-ocidentais, como por exemplo os mitos dos indgenas
americanos:
8 Cul t - maro/2001 8
G.V. Quando falo de uma fundao no metafsica, mas histrico-
cultural dos meus argumentos, incluo todas as vozes, seam aquelas
que vm do meu passado, a tradio ocidental-europia, seam aquelas
que na modernidade vm de outros mundos. Hoe escutamos com
mais ateno, mesmo em nome do desenvolvimento da antropologia
cultural nos sculos XX e XX, e escutamos tambm as culturas de
mundos diferentes daquele europeu-ocidental. Por isso a /. est
ligada exatamente a isso que pode ser considerado o sentido cristo
da histria, porque, paradoxalmente, existem cristos que interpretam
o cristianismo como a religio que desmente as outras religies. Por
exemplo, estou convencido de que o fato de Deus se ter feito homem
no exclui, mas abre a possibilidade de que se tenha tornado ./., os
egpcios cultuavam o boi Api, os indianos, as vacas sagradas, e portanto
no blasfmia pensar que se Deus se fez homem poderia tambm se
ter feito gato ou vaca. De modo mais profundo, h o conceito de
caridade que faz do cristianismo uma religio no-excludente unto
do fato de que primeiro se funda sobre a encarnao de Deus e,
portanto, sobre a perda da sua transcendncia absoluta e, segundo,
sobre o amor pelo outro. No obstante isso, o cristianismo no a
religio do pluralismo religioso no sentido de que eu, por exemplo,
sinto-me cristo e portanto no creio ou creio menos em Buda do
que os budistas, mas tambm verdade que enquanto cristo devo
estar disposto a pensar que Deus falou tambm atravs de Buda e
das outras religies ou das tradies culturais dos ndios da Amrica.
Trata-se de um paradoxo que constitui a religio crist, uma religio
revelada que se sente verdadeira, mas cua verdade compreende a
idia de que os outros tambm podem ser verdadeiros, porque Deus
misericordioso, caridoso, se fez homem etc. Fsse um comporta-
mento tpico da cultura ocidental, como se pode ver na ateno com a
qual estuda as outras culturas ou na insistncia com a qual fala de
tolerncia, de pluralismo, de multiculturalismo, todas coisas herdadas
do cristianismo e que so a base do principal carter do Ocidente.
Dizia bem Heidegger: o Ocidente a terra em que o pr-do-sol do
ser deixa aparecer muitos outros horizontes culturais, o que equivale
a dizer que a vocao do Ocidente deixar as outras culturas falarem.
Cult Qual seria, na sua opinio, a funo do mito na sociedade
moderna:
G.V. F necessrio distinguir. Alguns acham que que desmi-
tologizamos tambm a idia da desmitologizao, isto , que per-
cebemos que falar em acabar com o mito , por sua vez, uma mito-
logia da nossa parte, ento todos os mitos entram na ogada outra
vez. Acredito que isso sea um perigo porque seria como se o ps-
moderno fosse apenas pr-moderno, ou sea, a liqidao da moder-
nidade, pela qual voltamos para trs, para os nossos mitos. Fu, ao
contrrio, acredito que a relao com o mito pode ser acolhida de
novo. Assim como os mitos na sociedade mtica, dita primitiva ou
anterior a modernidade, pretendem atingir a verdade, ns temos
uma reao mais esttica diante do mito, na medida em que sabemos
que no temos uma verdade ltima, que temos muitas interpretaes
da verdade e que devemos continuamente repensar nessa multipli-
cidade tentando encontrar um caminho no meio de tal multiplicidade,
fazendo interpretaes. Tomemos a imagem de um freqentador de
museus. Para sermos ps-modernos, preciso comear a pensar as
culturas como obetos" que possam conviver entre si como em uma
grande galeria de fotografias (ainda que se possa contestar essa idia
de que as verdades dos mitos seam como os diversos estilos artsticos).
F possvel pensar uma relao com a verdade que sea semelhante a
relao entre estilos artsticos diferentes: Fsse o desafio da ps-
modernidade: a nica via para evitar que se identifique com a pr-
modernidade e com o primitivo puro e simples considerar no s os
mitos dos povos antigos, mas todas as verdades, como estilos artsticos,
para que possamos operar escolhas em relao a eles, sem nos sentirmos
autorizados a ogar fora os outros como se fossem ervas daninhas.
Cult $eria possvel pensar na possibilidade da construo de uma
tica diferente, no mais sob o signo da realizao dos valores, mas
sob o signo da /. pelo homem e a sua histria:
G.V. $im. Fsse o desafio no qual acredito. F o desafio que hoe se pe
a nossa frente: o renascer dos fundamentalismos de diversos tipos
sempre a pretenso, por parte de qualquer autoridade moral do pensa-
mento religioso, de emanar mandamentos baseados na natureza das
coisas, na essncia do homem, da famlia. Ora, isso tudo outra vez
uma forma de metafsica dos princpios ltimos que, em resumo, no
tm outra razo de ser seno o fato de existirem autoridades que se
sentem suas portadoras. Quando a metafsica diz que h um princpio
ltimo que devemos reverenciar e alm do qual no podemos ir, faz um
discurso autoritrio. No diria que a metafsica tenha sempre produzido
as guerras religiosas, mas certo que as violncias histricas so us-
tificadas com razes subetivas, naturais. Hitler afirmava que os udeus
maro/2001 - Cul t 9
eram uma raa inferior que preudicava a humanidade e, portanto, era
necessrio extermin-los. F isso, mesmo que sea menos violento,
igual a dizer que a famlia apenas monogmica e heterossexual e que
todas as outras formas no servem. A idia de que tudo o que tra-
dicional bom por natureza a idia de uma certa cultura, e quem quer
defender essa cultura desea imp-la tambm como natural. Por isso
necessrio uma nova tica que no estea mais baseada nos princpios
naturalistas metafsicos e nos valores ltimos, mas que assuma a idia
de valor, de /., ou sea, de /o que pessoas, sociedades e grupos se
proponham razoavelmente e compartilhem. Nietzsche dizia que a
desvalorizao diz respeito aos valores supremos, mas no a todos os
valores, porque ele queria que se criassem sempre novos valores ou
nascessem sempre novos deuses. Fsse o ponto: ns devemos construir
uma tica do /./. e no uma tica do reflexo da natureza, da ordem,
do necessrio etc.
Cult Qual a sua avaliao do livro 4 /. (editado no Brasil pela
Fstao Liberdade), resultado do encontro, realizado em Capri,
entre o senhor e filsofos como ]acques Derrida e Hans-Georg
Gadamer:
G.V. Parece-me um livro muito bem-sucedido no qual cada um exps
suas idias, ainda que no tenha uma concluso nica. O que achei
importante que um grupo de pessoas que eu considero mestres,
como Gadamer, ou, de qualquer outra forma, irmos mais velhos,
muito mais autorizados do que eu, como Derrida, tenha concordado
neste primeiro de uma srie de encontros filosficos no-pblicos e,
por isso, mais verdadeiros, em escolher o tema da religio. Lm tema
que eu mesmo propus, porque naquele momento estava escrevendo
um livro intitulado c/ / / (Crer em crer") que tinha ne-
cessidade de entender se estava errando ou no. $e a filosofia no dia-
loga com as grandes fs religiosas, ela se esgota, se perde, se esteriliza.
A filosofia, isolando-se dessas grandes mitologias coletivas expressas
pela arte e pela religio, torna-se pura metodologia cientfica e desperta
sempre menos interesse. Para ocupar-se dos grandes temas que lhe
foram tradicionais na histria do passado, a filosofia, repito, deve retomar
ativamente um dilogo com as concretas religies histricas e, no que
me diz respeito, com a tradio ocidental hebraico-crist.
Cult O enunciado de Nietzsche - Deus est morto" - no significa,
para o senhor, que Deus no existe. Ainda possvel ou necessrio
discutir a existncia de Deus:
G.V. Diria que no tem sentido discutir a existncia de Deus se
chamamos existncia esse dar-se como obeto em qualquer lugar...
Ora, quando Nietzsche ustamente diz que Deus est morto, mas
no que Deus no existe, nos vacina exatamente contra a possi-
bilidade de pensarmos se Deus existe ou no expressando-nos em
termos obetivos. O sentido da linguagem religiosa da Bblia ou
das nossas oraes no pode seno ser denotativo, pois se limita a
indicar obetos ou fatos precisos. Finalmente, a ressurreio de
Cristo est declarada no Credo" porque foi dita no Fvangelho, e
no vice-versa, porque sabemos que o Fvangelho conta um fato
efetivamente acontecido. ^as essa uma outra histria, porque
nem o Fvangelho nem a Bblia so livros estritamente de histrias
e acontecimentos - estou dando uma opinio pessoal, que a grea
oficialmente amais compartilharia, mesmo que parea muito
convincente para a minha existncia aquilo que est escrito nas
$agradas Fscrituras e mais ainda no Novo Testamento. Devo mesmo
acreditar que em termos espao-temporais aconteceram de verdade
coisas daquele gnero: $obre tudo isso ainda posso nutrir dvidas,
posso apenas pensar que o sentido de um acontecimento para mim
um sentido real para a minha existncia e nada mais. Logo, no
que Deus no exista, mas que est morto. O que quer dizer: Tem
o mesmo significado da histria da crucificao, ou sea, que Deus
se abaixou a tal ponto ao nosso nvel que de fato se tornou obeto de
suplcio na cruz. Nesse sentido Deus morreu, mas o Deus das
religies naturais, o Deus arquipotente, transcendente, misterioso,
que ressuscitou como histria da grea, como histria de uma
humanidade transformada por essa mensagem. Naturalmente
Nietzsche no entendia exatamente isso, mas o que me interessa
mostrar o significado fundamental do seu pensamento sobre esse
tema, isto , que desapareceram os fundamentos ltimos, no h
mais sentido em falar de uma realidade ltima. Pelas razes que
expus anteriormente, o sentido o mesmo que o Fvangelho atribui
a crucificao: Deus morre enquanto liqida definitivamente uma
certa forma de divindade, uma certa forma de relao do homem
com Deus e se d de uma outra forma que no mais assim
transcendente e misteriosa, mas que se realiza na caridade recproca
entre as pessoas.
T TT TTraduo de Maria do Rosario da Costa Aguiar T raduo de Maria do Rosario da Costa Aguiar T raduo de Maria do Rosario da Costa Aguiar T raduo de Maria do Rosario da Costa Aguiar T raduo de Maria do Rosario da Costa Aguiar Toschi oschi oschi oschi oschi
10 Cul t - maro/2001 10
/,s J ' ,e' e es,Jee ,e es's e
,s 'J J s es s es e ,'es
's ,es e,e e e'e| e seJ
ee ee e sJ | ,J|' e J
| e e 's es s ss 's e ''e e
'es e Jes e seJs ,es '' e s'
C U L T
peses
apes
rodrigo garcia lopes
Laura Ri di ng ( de chapu) e Robert Graves ( di rei ta,
tambm de chapu) com ami gos numa taberna da vi l a
Deya ( i l ha de Maj orca) , nos anos 30.
D i vulgao
maro/2001 - Cul t 11
`
as dcadas de !u e !u, Laura
Riding (1u1-11) foi saudada
por W.H. Auden como a nica
poeta filsofa viva" e esteve na linha de
frente da poesia contempornea. Foi
leitora pioneira do modernismo e
influenciou a Nova Crtica - embora de
forma no-reconhecida - com o estudo
que escreveu em parceria com Robert
Graves, 4 /., ./ o./ /., (1!).
Yeats elogiou a intrincada intensidade"
de sua poesia e William Carlos Williams
destacou seu poder de estranhamento.
^ais recentemente, Paul Auster a acla-
mou como a primeira poeta norte-ame-
ricana a ter concedido ao poema o valor e
a dignidade de uma luta".
Cem anos aps seu nascimento, Lau-
ra Riding continua sendo um dos nomes
mais enigmticos e polmicos da histria
da poesia contempornea. $ua obra
(poemas, ensaios, crtica, histrias) ainda
aguarda o reconhecimento que merece.
$ua influncia foi admitida por poetas
como Auden, $ylvia Plath, Robert
Duncan, Ted Hughes e Charles Tomlin-
son. mportante mencionar o impacto que
sua poesia e potica tiveram sobre poetas
como ]ohn Ashbery, Charles Bernstein,
bem como sobre a L./. P., norte-
americana.
O leitor poder perguntar por que
uma poeta to importante ficou tanto
tempo esquecida. Pode-se mencionar
vrios motivos: pouco depois da pu-
blicao de c./// /.o (1!) - em
que escreveu um prefcio defendendo a
poesia como a atividade mais ambiciosa
da mente" -, Riding renunciou a escrita
potica por razes ticas e estticas.
$eguiu-se um silncio de quase trinta anos
e uma retirada total da cena literria.
Nesse perodo, Riding se casou e mudou
para uma pequena propriedade rural na
Flrida, dedicando-se, com seu marido,
$chuyler ]ackson, a redao do volumoso
R.../ o. 4 v /.//.. /. /
//. ./ v./, publicado postu-
mamente 1 (destaco tambm a prosa
de 1/ //, 1!). Lma guerra mun-
dial, a hegemonia de Fliot e, ironi-
camente, da Nova Crtica e seu cnone,
a dificuldade de acesso a seus livros (que
se esgotaram e deixaram de ser editados),
sua atitude de proibir que seus poemas
fossem publicados em antologias, tudo
isso fez com que Laura Riding fosse pou-
co a pouco esquecida. Nos anos ou, quan-
do voltou a cena literria - agora assi-
nando como Laura (Riding) ]ackson -,
chegou armada com uma crtica
../.. de razes fortemente
platnicas: a de que o discurso da poesia,
por ser essencialmente //.o o
./. / .//., no seria capaz de
transmitir a verdade da linguagem
humana. $ um problema artstico
resolvido na poesia", escreveu.
Fm !uu1, vrios livros de e sobre
Riding estaro sendo publicados na
nglaterra e nos Fstados Lnidos. Lma
biografia autorizada, !/ /.. /.o
v./ (escrita por Flizabeth Friedmann),
e uma coletnea de ensaios, 4 L./.
/R/, I./. ./, alm de dois
livros inditos, esto programados. As
importantes revistas literrias P^
R.v e c//. publicaram nmeros
especiais sobre a escritora. As cele-
braes incluem ainda a publicao da
correspondncia de Riding (1/ /./
./ /) e da reedio de livros seminais
h muito esgotados, como 4 /., ./
o./ /., (1!), 4 /.o/// ..
././. (1!) e, sobretudo, c.///
/.o. Na tlia, a tradutora ^aria Giusti
anuncia para o primeiro semestre uma
coleo de poemas de Riding para a
revista milanesa L. M...
A poesia de Riding sempre recebeu
os rtulos de difcil", excntrica" e
abstrata". De fato, ela evita proce-
dimentos que acostumamos a aceitar
como sinnimos de potico. Fmbora
reconhecesse que a metfora est em-
bebida nas condies naturais da lin-
guagem", Riding recusa a centralidade da
imagem que a poesia moderna consagrou
em suas vrias verses (imagismo, sur-
realismo, obetivo correlativo" e mito-
logia eliotiana etc.). O mais comum
Riding desenvolver uma idia ou um
argumento ao longo do poema, ao modo
dos poetas metafsicos" ingleses. A
poesia de Riding vai gradualmente se
afastando da imagem e da metfora, da
idia do poema como um obeto bem
fechado, sendo substituda por uma
potica do processo, que questiona a
representao. Fm Riding, para usar a apta
formulao de Charles Bernstein, a
mente pensando se torna a fora ativa do
poema". $eus poemas se apresentam como
processos de pensamento que investigam
o mistrio da conscincia (o inexplicvel
fenmeno que Antonio Damasio chamou
de a sensao do que acontece"). Como
Whitman (que chamou seu L.. ./ .
de um experimento-de-linguagem"), a
poesia de Riding celebra o // - a
conscincia de si e da linguagem -, mas
de uma maneira radicalmente anti-ro-
mntica. Ao contrrio, numa atitude at
mesmo ps-moderna (por suspeitar da
linguagem e do discurso da poesia),
Riding parece estar sempre forando as
palavras a um limite. No a toa muitos de
seus poemas so ridos e as palavras
parecem reduzidas a seu osso, a seu
sentido literal. O leitor deve usar sua
inteligncia e pacincia para conseguir
saborear suas pensagens", cheias de
curto-circuitos de som e sentido. F como
se cada poema quisesse criar um espao
verbal capaz de unir linguagem, corpo, e
pensamento: No tema tanto pela Terra:/
$eu nome universal 'Lugarnenhum`./ $e
Terra para voc, segredo seu./ Os
registros externos param ali,/ F voc pode
descrev-la como parece,/ F como parece,
s-la,/ Pretensa pausa/ Fm meio a
pretensa pressa" (Terra").
A poesia de Riding traz uma crtica a
idia de linguagem como descrio visual,
12 Cul t - maro/2001 12
''. / '
. ..
'' ''\
es e J ' e ,e se
`,eses , Je
se ' e,s es
'
sJ J J ,' , ,'
J, sJ |e
/e ,Je |e se e'e
J|'
Je e'
seJ es e J '
es,e e ,
/ esJ J e ,Js
Jee ,Jee 's,ees
'es ee e e ,Js e'J
'J ,Js
\'es s ,s ''
,s , s es ,Je ,ss
ss ,,e e e'se
ee es e J ' e
seJ se s ss
.Js s es
e ''J J ''
.e e' e'J e,ee e ,
.e J,'e ese JJ'
/ , e J ' e ,ss
e se , e se ' e 'e
se es ,ess
es e J ' e e ,ee
/,es , ,e s
\es , ,
.e ee e e'
's se se ,es '
es, ,'s s s ''
s 'es eee e
/s ''s ,Je 'ee se es,
'es e 'e
' ''.
/ '
'e J|'e |' s s |e
` 'J's |,
'e 'e s ' Je
/s '' 'e Je
'e |J' J'
/ J,, 's 'e
'' 'e 'e e'es ,
'e J'' ,J|'
J e,,
'e J|'e |' s se',
'ee, 'e e,
/ 'se ''e 'ee,e
\s' s' Jes
|eee ',e es
/ ',e es
'e', 'e ,es e
/ |'' ,e ,ss es
\' '' s'e 'e 'se
'e J|'e |' s '',
s,e' s se 'e '' 'e 'e ,
/Jse 'e
\'ee Je ees 'e e,e
J ' e,eee ,
` ,', 'e J,
'e e' |' s e '
e' |e ' 'ess
'e J,' sese ,
'e J|' e |' s ' e' ,
|e ' |J |' J',
e | ''e |
J, se' |'e'
e ee' '' |J |'
|e'e 'e s ,e ' 'e |e'
'ees ess 'e'ess
' e e,es |e see '
'ees |'s'ess
'e seJ es
,es e Laura
Riding Js
,
',es
`'`
`'` .
'J' '' J 'J'
''es e e,e
e s 'e se'|'
'e 'e s 'J' e
|e see '
'Js s Jese e, s
'e ese sJse ss J
J
/ 'es se
' |ess
/ se
.,es J `Je
/ es e, e'es s
'e sJs sJs' s
'' 'e sese es 's
J's s, ' |J'es
/s |, '
/ 'Js 'se 's ' ,e
se 'e 'e
'e 'e ees Jse
.e'e Js' 'e e,es
eJs 'ess |, 'ess
'e '' see s
` s 'e '|'e
'e e 'es' s J'ess
J ' seeess
'J' e ''
/ s'e ''e see
' es ee s',
,' s' esee
\' sJe',
\''e J''ess ',s |e' ,e
'Je', ss'e e'ese
'e JJe|'e s,'e ese
`/'
`/'
`e', e,esse |sJ,
' ee s ,e |J ',s
\s |e e e 'e
'e ',se ,ese,
.'J' |e e,e 'es ''
/ 'es '' '' ,ese,
`e', e,Je 's
' J' s se e
's ,e ''e se
\' es / ''
J ' ee ee ,e
' ' ee J'
Laur a Ri di ng poca em que chegou na
Ingl aterra, em 1926
A
r
q
u
i
v
o
d
a
U
n
i
v
e
r
s
i
d
a
d
e
d
e
C
o
r
n
e
l
l
maro/2001 - Cul t 13
ou como algo transparente que nos con-
duz as imagens de coisas e experincias,
e no a experincia em si mesma. Fssa
situao exposta em poemas como
Abrir de olhos", traduzido aqui. O
poema argumenta que nos acostumamos
a pensar sobre tudo, e sobre tudo o que
est fora", mas nossa mente cega-de-
si": quando decide fazer sentido de si
mesma, enfrenta um desafio - o debate
da conscincia humana consigo mesma
sobre o que possvel e o que impos-
svel" (Riding). ^ais que abstrata",
talvez sea correto dizer que sua poesia
almea, num aparente paradoxo, provar
que um pensamento pode ser to concreto
quanto uma imagem. ^esmo porque,
para Riding, impossvel pensar na mente
(que pensa) separada do corpo (que
sente). Lm poema pode, de fato, e como
sugeriu seu desafeto Fliot, unir pensa-
mento e sensao. F o que ocorre em
poemas como Alm".
Como percebeu corretamente Paul
Auster, de incio difcil apreender toda
a dimenso desses poemas, entender os
tipos de problemas com que esto
tentando lidar. Laura Riding no nos d
quase nada para ver, e essa ausncia de
imagens e de detalhes sensrios, de
qualquer //// real, desconcertante
a princpio. $entimo-nos como se nos
tivessem cegado. ^as isso intencional
de sua parte e desempenha um papel
importante nos temas que ela desenvolve.
$eu deseo de ver menor do que o de
apreciar a noo de visvel". sso
demonstrado, por exemplo, no longo
poema em prosa Poeta: Palavra men-
tirosa". $e, por um lado, o poema tem
como tema a prpria linguagem, ele
articula uma crtica as expectativas
convencionais do leitor, bem como aos
discursos do Romantismo, do $imbolis-
mo e do magismo. Aqui o texto se
apresenta, /./o, como um muro de
palavras a encarar e desafiar o leitor. Fste
apresentado no a belas paisagens,
imagens, confisses transparentes do
Poeta, mscaras, e sim confrontado com
a prpria experincia da linguagem, a este
agora" da conscincia (tema retomado
na prosa de 1/ //). Alm de ser um
manifesto da impossibilidade da poesia"
e prenunciar sua atitude posterior em
relao a ela, Riding convida o leitor a
assumir o papel de co-produtor do poema
e a desautomatizar sua percepo, aler-
tando para o risco que corremos quando
assumimos o papel de consumidores
passivos de discursos, absorvendo ima-
gens e imagens de experincias":
^. /o o/. . /o /.. ^.
/o o/. / o. . /o. /./... /
o. /o /o . /. o/. ^.
//./. ./ o o/. /.. o/ .//.
.. .. //. c// /. .
.// /o ... / oo /./ ,/.. ..
. M. ./ /./. / ./. ../o
./.../. . //./. ... . o
o/. /.. o o/ .//. .. /. / .
. o. ..
Rodrigo Garcia Lopes Rodrigo Garcia Lopes Rodrigo Garcia Lopes Rodrigo Garcia Lopes Rodrigo Garcia Lopes
poeta, tradutor, jornalista e doutor em Letras pela Universidade
Federal de Santa Catarina, com a tese M indscapes: Laura
Ri di ng s poetry and poeti cs; atualmente, prepara o livro
M i ndscapes Poemas de Laura R i di ng.
'/.
|sJe ,Jse e,ess
Je J s se,e
, se , e ,
s ',s e '
sse e, ,e' es e ,
e' es e , e e
s ,Jse e,Js
.e ,Je ee ess e
e'sse J ,esse
,Je ' e J' e
\e ,Je J
J eJ ,Je J sJ e
Os poemas acima foram traduzidos a partir do livro
The Poems of Laura Riding: A New Edition of the
1938 Collection (New York: Persea, 1980), com
permisso do The Board of Literary Management of
the Late Laura (Riding) J ackson.
Iluminuras lana coletnea de Laura Riding Iluminuras lana coletnea de Laura Riding Iluminuras lana coletnea de Laura Riding Iluminuras lana coletnea de Laura Riding Iluminuras lana coletnea de Laura Riding
A editora Iluminuras ( tel. 11/3068-9433) lana ainda no primeiro semestre
deste ano o livro Mindscapes Poemas de Laura Riding, primeira coletnea
de sua poesia a ser publicada fora da Inglaterra e dos Estados Unidos.
O rganizado, apresentado e traduzido por Rodrigo G arcia Lopes, o volume
rene 45 poemas de Laura Riding, fotos da escritora e um apndice com
textos crticos sobre sua obra escritos por Jerome Rothenberg & Pierre Joris,
Charles Bernstein, Elizabeth Friedmann, Ben Friedlander & Carla Billitteri,
Lisa Samuels, Mark Jacobs, Alan Clark e John Nolan.
.
/' ''.
ese s ,ese
e 'Je J ''
/'Je e ee ees
J e ,ese
se s e 'e e s|
/ss e J Jes J e
/ sJ,s es e
|es es,es
e
J '
s, `Je
Js e, ,e s es
e,s ss sJe ,'s
J,s ses 'e , J'
\|J's , s |s
e
ss 'es 'ss se J''
s |e
Je |e e|e '
/ ' 'se s ''s
eess es,es
J es see
/ e 'e'e'
/ s e s' ee
's e see
ese ,es
' s,'es e e
Je ee e se,e se
e ,es e J s |e s,'es
e e,ee e es
,J '|s se | se |e
'Jee s , es
es s,'es e ,Je'
14 Cul t - maro/2001 14
MUNDANIDADE, ECLETISMO, TRADIO E
ESPRITO DE RENOVAO MISTURAVAM-SE NOS
SALES BELLE POQUE DA VILLA KYRIAL, UM
DOS MAIS IMPORTANTES CENTROS CULTURAIS
DE SO PAULO DO INCIO DO SCULO
PASSADO, CUJA HISTRIA ACABA DE SER
RESGATADA EM LIVRO DA PESQUISADORA
MARCIA CAMARGOS
a vida como arte
LIVRO SER LANADO NO DIA 26
VILLA KYRIAL CRNICA DA
BELLE POQUE PAULISTANA
M arci a Camargos
Edi t ora Senac
t el . 11/ 287-7615
256 pgs. preo no conf i rmado
LANAM ENTO NO DIA 26 DE M ARO
S 18H30, NA LI VRARI A CULTURA
(AV. PAULISTA, 2.073, TEL. 11/ 285 4033)
VILLA KYRIAL,
MARIA CRISTINA ANTIQUEIRA ELIAS
0 E I J H E )
maro/2001 - Cul t 15
chegada da /// /.,/ no
Brasil, nas primeiras dcadas
do sculo passado, marcou o
incio de uma nova era e,
fundamentalmente, de uma nova maneira
de encarar a vida em sociedade. Avanos
cientficos importados do continente
europeu, como o telgrafo, o telefone, a
energia eltrica e os modernos meios de
transporte, somados a uma postura
paradoxal das elites nacionais - que ao
mesmo tempo em que deseavam o
novo" tinham um sentimento de
continuidade e tradio, procurando
manter hbitos aristocrticos segundo um
padro de vida franco-britnico -
geraram uma atmosfera de euforia,
embora restrita a seletos grupos
aristocrticos, detentores do monoplio
da produo cultural e das decises
polticas da poca. Assim, nesse universo
propositadamente habitado pela /. /
.. da Furopa / / /, surgiram
sales nos quais os chamados grupos de
status se reuniam para discutir temas
como arte, msica, literatura e filosofia,
realizando em seus bailes, saraus lite-
rrios, audies musicais, conferncias e
antares o ideal decadentista de trans-
formao da vida em obra de arte.
Fm $o Paulo ( nessa poca, um
importante plo econmico e poltico),
um dos sales mais prestigiados era o da
\illa Kyrial, propriedade do senador ]os
de Freitas \alle, adquirida em 1u-, que
funcionou como um verdadeiro centro
cultural. Palco do ecletismo esttico
caracterstico da /// /.,/ brasileira, a
\illa Kyrial - localizada na Rua Domin-
gos de ^orais, nmero 1u, bairro de \ila
^ariana - reunia intelectuais, artistas,
msicos e figuras pblicas de renome,
propiciando o ambiente adequado para
ditar tendncias e, paradoxalmente, para
a formao de dissidncias dos cnones
acadmicos e tradicionais ento culti-
vados pela elite, como a que deu enseo a
$emana de Arte ^oderna de 1!!.
Contudo, a histria desse templo
civilizatrio, bem como a de seu dono -
que teve atuao relevante nas artes, na
literatura, no ensino e na administrao
pblica durante o perodo compreendido
entre 1uu e 1!u -, permaneceu perdida
sob os escombros de sua demolio em
1o1, at ser resgatada pela pesquisadora
^arcia Camargos em seu valioso
trabalho !//. K,./ - c. /. belle
poque /.//.., livro que a editora
$enac lana este ms, com proeto
grfico da Companhia da ^emria que
toma de emprstimo os padres visuais
da . ./../, caractersticos das publi-
caes da poca.
Logo na introduo, Antonio
Candido afirma que a estetizao da vida
cotidiana empreendida por Freitas \alle
pode ter razes nas aspiraes sinestsicas
de Baudelaire, declaradas no poema
Correspondances", e no romance 4
/./, de ].K. Huysmans. $egundo ele,
uma das conseqncias dessa transfor-
mao de ideais estticos em experincia
concreta o desdobramento de identi-
dades. Assim, o crtico afirma que Freitas
\alle adotou pseudnimos para carac-
terizar, nele prprio, o criador de receitas
culinrias (M./ ]ean-]ean), o ma-
nipulador de perfumes (Freval) e o poeta,
que s escrevia em francs (]acques
D`Avray)". F curioso", continua Antonio
Candido, que nenhum deles parece ter
interferido no Freitas \alle homem
pblico, dotado de slido bom senso e
grande discernimento prtico no terreno
da instruo e da cultura - patrocinador
de bolsas de estudo, autor de proetos a
favor da educao popular e outras
iniciativas".
Portanto, o ecletismo dos freqenta-
dores dos sales da Kyrial, dos assuntos
por eles abordados e da prpria decorao
do ambiente (composta por uma super-
posio de estilos e obetos como .//,
tapetes belgas, persas e arraiolos,
mrmores italianos, bronzes de Auguste
^oureau e Barbedienne, vasos e ardi-
neiras de $evres, porcelana Limoges e
$axnia, cristais Baccarat, Gall, Lalique,
$aint-Louis e Bomia, /., bibels
e esculturas . ./../ ou neo-rococ,
espelhos bisotados ou ateados e paredes
revestidas de seda ou papel de parede com
motivos florais) estava tambm presente
na prpria personalidade do poltico,
poeta, mecenas, professor, ./o,
manipulador de perfumes, apreciador de
vinhos finos, colecionador de obras de
arte...
Decifrando o nome do palacete,
escolhido pelo poeta simbolista Alphon-
sus Guimaraens - autor do livro K./,
que manteve relacionamento prximo e
intenso com Freitas \alle -, a autora de
A
Nesta pgi na, o Senhor da Vi l l a
Kyri al , Jos de Frei tas Val l e, e
al moo de domi ngo no terrao
do pal acete, em 1916. Na pgi na
oposta, a gal eri a, onde
aconteci am pal estras, seres
l i terri os e apresentaes de
arti stas e que abri gava cerca de
113 quadros, que no cabi am
mai s em outros reci ntos.
16 Cul t - maro/2001 16
!//. K,./ - c. /. belle poque
/.//.. explica que a palavra descende
do vocbulo grego K,., que significa
Deus, e que, em latim, /, ustaposto a
/., adquire o sentido de os eleitos
do $enhor", invocativo muito repetido na
missa catlica. Fsse significado do nome
Kyrial (os eleitos do $enhor") revela um
pouco do sistema hierrquico e patriar-
calista contido nos rituais adotados nos
eventos da \illa Kyrial pelo mestre-de-
cerimnias" Freitas \alle, que delimitava
os temas a serem discutidos e estabelecia
regras rgidas para as atividades desem-
penhadas em seu salo.
Fstabelecido esse paralelo, ^arcia
Camargos passa para a descrio das
formalidades que antecedem os eventos
e das atividades que nele so desem-
penhadas. $egundo ela, convites per-
sonalizados, impressos para a ocasio e
contendo um programa cultural e o trae
exigido, deveriam preceder os banquetes.
Como para cada antar eram convidados
apenas vinte e quatro comensais e o
nmero de pessoas que freqentava as
reunies da \illa Kyrial era elevado, havia
a segunda-feira dos pintores, a tera-feira
dos escultores, a quarta-feira dos msicos
(]antar da Lira), a quinta-feira dos poetas,
a sexta-feira dos escritores e o sbado dos
polticos (com deputados e senadores do
Partido Republicano Paulista - PRP).
Aos domingos, havia almoos a que
deveriam comparecer todos os que
houvessem participado de algum dos
antares da semana. Fssas refeies
dominicais eram servidas no terrao, por
criadas vestindo touca branca conforme
a tradio holandesa. Fm caso de mau
tempo, os convidados deslocavam-se para
a adega, que alm de vinhos finos
guardava duas mesas de pingue-pongue.
A adega era tambm o local de
congregao dos integrantes da Hordem
dos Gourmets, que l provavam receitas
exticas preparadas pelo M./ ]ean-
]ean, degustavam vinhos importados de
diversas localidades, como Borganha,
Bordeaux, Reno, Hungria, Fspanha,
Grcia, Blcs e Turquia, e disputavam
campeonatos de pingue-pongue, comu-
nicando-se em qualquer dessas atividades
sempre em espanhol. Da Hordem fi-
zeram parte, como comendadores",
Washington Lus, Carlos de Campos,
Oscar Rodrigues Alves e Flix de Otero.
Altino Arantes, presidente do Fstado
entre 11o e 1!u, foi rebaixado a oficial
por no ter se mostrado devidamente apto
para a degustao de vinhos, e ]lio
Prestes, presidente de $o Paulo pelo
PRP de 1! a 1!u, permaneceu sempre
como cavaleiro em razo de exageros no
consumo de lcool.
As experincias de ]ean-]ean, algumas
delas transcritas para um caderno de
anotaes de Freitas \alle em 1u, de-
monstram claramente o seu zelo na eliti-
zao das delcias". ^esmo que dos ingre-
dientes constassem elementos tipicamente
brasileiros como mexerica, melado, abacaxi
e aguardente, o quitute seria batizado com
um nome francs. O // preparado com
um litro de aguardente e vinte gotas de
essncia de gua do reino, por exemplo, foi
batizado como E/ c/,./.
A descontrao nesses encontros de
domingo durava at as 1h, quando todos
se dirigiam a galeria repleta de quadros
- desde telas de Lasar $egall, Anita
^alfatti e Di Cavalcanti at obras de arte
acadmica (gnero por sua vez predomi-
nante no conunto da coleo de Freitas
\alle) de artistas como Oscar Pereira da
$ilva, Fliseu D`Angelo \isconti, Antnio
Parreiras e Belmiro de Almeida - e
cantavam o H. /. c...//. /. !//.
K,./, redigido por \alle e musicado, em
trs verses, pelos maestros ]oo de $ousa
Lima, Francisco ^ignone e Flix de
Otero.
Posteriormente, escritores e poetas
apresentavam seus trabalhos a opinio
crtica dos demais cavalheiros. De acordo
com ^arcia Camargos, o poeta moder-
nista Guilherme de Almeida confessou a
Ren de Thiollier que o maior incentivo
de sua carreira potica lhe foi dado por
Freitas \alle, que o ensinou a ler com-
posies em pblico e a escut-las reci-
tadas por terceiros.
Diversos nomes do meio cultural, que
posteriormente adquiriram proeo
nacional, tambm foram beneficiados pelos
estmulos do senador-mecenas, que por
longo perodo encabeou o Pensionato
Artstico do Fstado de $o Paulo -
instituio criada em 11!, que fornecia
penso para que artistas talentosos
estudassem em Paris ou Roma durante cinco
anos. $egundo a pesquisadora, Freitas \alle
praticou um tipo de mecenato envolvendo
recursos particulares e pblicos, que
Frei tas Val l e,
Washi ngton Lus e
Jl i o Prestes ( em p) ,
membros da Hordem
dos Gourmets, e a
sal a de vi si tas e de
msi ca da Vi l l a Kyri al
maro/2001 - Cul t 17
permeou toda a /// /.,/".
Lasar $egall, por exemplo, deve sua
primeira exposio no Brasil ao
patrocnio de \alle, que assim provou que,
embora preferisse a arte nos moldes
acadmicos, sua fina percepo arts-
tica" estava aberta para o novo. \illa-
Lobos, certa vez, recorreu ao prestgio
de \alle para trazer ao Brasil o com-
positor francs Albert Roussel. Anita
^alfatti conseguiu em 1!!, por influn-
cia do senador, uma bolsa para ir estudar
na Acadmie ]ulian de Paris. A estadia
na Furopa para estudos dos maestros
Francisco ^ignone e ]oo de $ousa Lima
se deve tambm a bolsas concedidas pelo
Pensionato, presidido por Freitas \alle.
O escultor \ictor Brecheret somente via-
ou ao continente europeu em funo da
interferncia de \alle, que contrariou o
presidente do Fstado, Washington Lus,
que se opunha a concesso da bolsa ao
artista, considerado moderno demais".
Alm de vitrine para a exposio de no-
vos talentos a elite, a \illa Kyrial constitua
parada obrigatria de artistas estrangeiros em
visita a $o Paulo. Pelo palacete passaram o
tenor italiano Fnrico Caruso, a atriz francesa
$arah Bernhardt (que em sua segunda visita
a $o Paulo, em 1!, percebendo a rplica
do modo de vida francs aqui montada,
afirmou: $o Paulo a cabea do Brasil, e o
Brasil a Frana americana."), os msicos
Darius ^ilhaud e ^arcel ]ournet, os
maestros ^arinuzzi e Xavier Leroux e o
poeta e escritor Blaise Cendrars (que
participou do quinto ciclo de conferncias
da \illa Kyrial, em 1!-, proferindo uma
palestra sobre literatura negra).
No nmero 1u da Rua Domingos de
^orais no se promoviam apenas rituais
mundanos, pois o incentivo as artes e a
reflexo cultural sempre estiveram pre-
sentes. Alm de antares, almoos e reu-
nies gastronmicas para degustao de
vinhos, eram organizados ciclos de
conferncias - atividade cultural caracte-
rstica da /// /.,/, que na /. / ..
tupiniquim assumiu a funo de preen-
cher o tempo ocioso dos espectadores e
de tornar menos vazios os bolsos de
alguns escritores encarregados de minis-
trar palestras. O primeiro ciclo de confe-
rncias da \illa Kyrial ocorreu em 11-.
Fssa iniciativa s foi retomada sete anos
mais tarde (em 1!1), quando durante
quatro anos seguidos esses ciclos se repe-
tiram. Temas polticos estavam terminan-
temente proibidos. Os conferencistas
deviam seguir ideologias diferentes (mes-
mo que no pudessem falar sobre elas) e
o contedo das exposies se caracte-
rizava pelo distanciamento do palestrante
em relao ao contexto em que vivia.
Dessa forma, no Ciclo de Conferncias
da \illa Kyrial, em plena Primeira Guerra
^undial, o socialista Picarollo falou
sobre 4 //./ /. /.. . ./.. /.
./:.., enquanto o maestro Flix de
Otero dissertou sobre 4 . / .o /o.
No Ciclo de Conferncias, realizado
na exploso da $emana de Arte ^oderna
de 1!!, somente ^rio de Andrade, um
de seus expoentes, tocou de forma ainda
branda nesse movimento, abordando a
poesia modernista, enquanto os demais
palestrantes mantiveram a linha tradi-
cional (P..., 4 /.. /. /. o/-
. - H.o. !//. c.o, c
.o. . /.. /.., entre outros).
Freitas \alle, alm de papel funda-
mental no fomento a cultura, teve tam-
bm atuao significativa como poeta
simbolista. Fle escrevia ./.o, que
deveriam ser analisados num contexto
de interdependncia com a msica, o
papel, o grafismo e o ogo cnico. Na
introduo anteriormente citada, An-
tonio Candido argumenta que tomada
em si, a poesia de ]acques D`Avray se
situa num nvel modesto do modesto
$imbolismo brasileiro (do qual, como
sabido, emergem com real eminncia
Cruz e $ouza e Alphonsus de Guima-
raens). ^as o fato que talvez ela no
deva ser tomada em si, pois na verdade
pea de um sistema esteticista do qual
faziam parte a etiqueta, a decorao, o
vinho, o perfume, o requinte culinrio -
que constituem o complexo arte-vida da
\illa Kyrial".
Fste salo, considerado por ^rio
de Andrade o nico salo organizado,
nico osis a que a gente se recolhe
semanalmente, livrando-se das fal-
catruas da vida ch", agora resgatado pe-
lo esforo de pesquisa e pela criteriosa
exposio de ^arcia Camargos, atesta
que a /// /.,/ ultrapassou os limites
do mundano, a que geralmente
reduzida, apresentando um trao de
renovao e euforia cultural materiali-
zado na repblica das letras" da \illa
Kyrial e na personagem de seu ideali-
zador e estadista".
A bi bl i oteca da manso
e os protagoni stas da
Semana de Arte
Moderna de 1922
reuni dos na Vi l l a Kyri al
al guns di as aps
o event o
18 Cul t - maro/2001 18
A Oficina do Livro Rubens Borba de ^oraes recebeu em tutela dos netos de Francisco $olano Carneiro da Cunha parte do
seu aruivo de documentos e cartas. Francisco $olano foi figura de proeo poltico-administrativa at meados do sculo findo,
esteve a frente da Caixa Fconmica Federal e chegou a Deputado Federal por Pernambuco.
O acervo ainda no foi inventariado, mas sondagem preliminar permitiu-nos selecionar itens de certa relevncia, entre eles, por
razes a serem ui explicadas um dia, achava-se carta de Oswaldo Aranha, a seguir reproduzida e provavelmente escrita no primeiro
semestre de 1-, em ue o signatrio detalha ao General Ges ^onteiro as razes por ue abdicara do ministrio ue ocupava.
Publicamo-la em primeira mo, na expectativa de ue acrescente elementos esclarecedores ao perodo de nossa histria em ue se
insere. Agradecemos ao editor da CLLT a ampliao do espao ue nos concedeu para a realizao deste propsito.
Meu caro Ges:
I) - No me arrependo de te haver ocultado
osepisdiosda minha demisso.
Verberaste em tua carta esta minha conduta.
Ela foi, porm, proposital.
No te queria envolver, como no quero,
agora, em fatosto tristespara nse para
o pas.
Compreendo e agradeo astuasgenerosas
palavras, quer de teu telegrama, quer da
tua carta, recebida aqui na Vargem Grande.
A tua deciso de findar comigo a tua
atividade diplomtica, e, mesmo, uma vida
pblica, que nosirmanou no servio do Brasil,
no tem razo de ser.
Espero que tenhasatendido ao apelo do
Getlio ou ao emissrio do Dutra, ou a
ambos.
II) - No desejava, agora, fazer declaraes
sobre asrazesntimasde minha deciso.
Elasno so de natureza a poderem vir a
pblico luz artificial que o DIP projeta
sobre a opinio inteira do pas.
Preferi e prefiro calar, esperando por
melhorestempos, que acabaro por vir com,
sem e at contra a vontade dos nossos
senhores.
III) - A tua atitude, porm, fora-me a
esboar alguns aspectos desse quadro
desolador.
Estava eu despachando com os em-
baixadoresVeloso e Negro de Lima, logo
aps vir da recepo de Artur Costa,
quando fui chamado, no telefone oficial, pelo
Capito Dutra, que me perguntou se eu iria
tomar posse, no dia seguinte, da vice-
presidncia dos A migos da A mrica .
Respondi-lhe que iria, poisera essa a terceira
vez que havia fixado a data para esse ato,
ao que me retrucou ele que a sociedade
no existia mais. Tomei, ento, do fone comum
e inqueri do Carneiro de Mendona, que havia
fixado a nova data da posse, e este me
reafirmou no s a existncia da sociedade,
como estranhou a intrujice do DIP. Transmiti
a afirmao do Mendona ao Capito Dutra,
que continuava no fone oficial e resolvi,
mesmo assim, falar ao Coriolano de Ges,
no apenaspara maisme esclarecer, como
tambm porque, quando da sua visita a mim,
logo apsa sua posse, me afirmara fechada,
pois no vinha para o Governo com o
propsi to de prati car vi olnci as e
arbitrariedades. Atendeu-me o Coriolano
pelo telefone oficial e confirmou que a
sociedade no estava fechada, embora fosse
de convenincia adiar a minha posse,
noticiada pelo Correio da Manh, motivo
pelo qual havia encarregado o Major Mindello,
delegado da O rdem Social, de explicar-me
tudo, por intermdio do Carneiro de
Mendona. Disse-me maiso chefe de polcia
que o presidente do Automvel Clube
resolvera no ceder mais a sala para a
cerimnia, e que a direo dosAmigosda
Amrica j se havia conformado em no
realizar o ato.
Ciente destasinformaes, conformei-me em
aguardar a palavra do Mendona com quem,
acrescentou o Coriolano, j devia estar
naquele momento o Major Mindello.
Pelas6 horasda tarde, depoisde despedidos
osembaixadores, chamou-me o Mendona
ao telefone para narrar a conversa que
estava tendo com o seu colega e amigo da
polcia.
Tudo estaria encaminhado, resolvida a
transferncia da cerimnia sine die, coisa, alis,
que eu j havia feito duasvezes, por motivos
particulares. Enquanto o Mendona me falava
pelo telefone comum, o Major Mindello foi
chamado, no gabinete do Banco do Brasil
ao telefone oficial e, apsa comunicao,
voltou-se para o Mendona, declarando-lhe:
O sfatosesto sendo precipitados. O Chefe
de Polcia acaba de me comunicar que
mandou fechar a sede da sociedade sem
dilaes. Fica, pois, o dito por no dito.
IV} - Procurei essa noite o Getlio e fiz-lhe
ver a brutalidade cometida comigo, pois, tais
como se passaram os fatos, era fora de
dvida que, ciente da minha transigncia, o
chefe de polcia resolvera ou fora mandado
agravar a situao, a fim de torn-la irrepa-
rvel.
V) - Confesso-te, e com que amargura
ntima, haver notado, ento, que o Getlio
ou era o autor ou queria assumir a respon-
sabilidade pela autoria desse desacato ao
seu amigo e ao seu ministro! Sa do seu
gabinete essa noite convencido disso e, em
' e e e /
Cludio Giordano Cludio Giordano Cludio Giordano Cludio Giordano Cludio Giordano
biblifilo, editor e tradutor, concebeu e dirige
a Oficina do Livro Rubens Borba de Moraes
maro/2001 - Cul t 19
outras palestras ntimas que com ele
entretive, s recebi indicaes da sua
convenincia com essa desnecessria
estupidez, no tendo nunca sequer me
apercebido, coisa que desejei de todo
corao, do mais leve indcio de sua
condenao, ainda que pessoal, a atosto
abusivos e brutais. E a minha impresso
dessa noite foi to exata que, no dia seguinte
de tal palestra e do fechamento da sede
social, que funcionava numa sala do edifcio
do clube, enquanto eu almoava com o
Benjamim, que me havia ido procurar, o chefe
de polcia resolvia fechar asportasprincipais
do A utomvel C lube, onde estavam
centenasde pessoas, que foram evacuadas,
includos os rotarianos, em seu almoo
semanal!
O fato da vspera era assim tornado
pblico e minha demisso considerada como
lavrada em plena rua, por decreto policial e
publicada como se publicavam outrora os
editosda excomunho popular.
VI) - Asnicasalegaesdo Getlio foram
a de que a sociedade estava fechada e de
que eu decidira tomar posse sem lhe falar
previamente.
O ra, a sociedade estava aberta, tanto que
foi necessrio fechar a sede e, ao outro dia,
trancar asportasdo edifcio e do prprio
Automvel Clube. verdade que funcionava
sem publicidade e sem atividadesexteriores,
segundo vim a saber, mas, ainda mais, existia
no apenasno Rio, masem todo o Brasil,
fazendo eleies, realizando cerimnias,
conferncias, cobrando recibos, trocando
ampla correspondncia telegrfica e postal
com asautoridades, tudo na forma de uma
lei Marcondes, e recebendo e excluindo
scios com prvia consulta Polcia. A
exigncia de consulta ao Getlio, ele a
aventou na falta de outrosargumentos, pois
eu j era vice-presidente e, doisanosantes,
tomara posse, tendo feito um discurso
publicado em todo o pas. Tratava-se, pois,
de tomar posse por ter sido reeleito,
cerimnia imposta por disposio legal,
exigncia expressa da lei que autorizava a
sociedade a funcionar. A alegao do
Getlio era assim infundada e absurda,
mesmo porque, se para um ato desses, um
Ministro de Estado, que resolve assuntos
os mais transcendentais, necessitasse
consultar previamente o Presidente, o
Governo seria um ajuntamento de sub-
homens, de lacaiosou de imbecis.
A no publicidade e a no atividade exterior
da sociedade, por maisestranho que parea,
s provam a sua existncia, ainda que
reduzida, por concordata ou arbitrariedade
daqueles que a dirigem e dos que lhe
deviam assegurar uma vida plena, dentro
dasleis.
Mas, Ges, por esse critrio, o Brasil tambm
est fechado, porque no h publicidade,
no interior, para e do exterior, seno a do
DIP e, ainda porque funciona com asleis
do Marcondes e com o placet policial...
VII) - A verdade, meu caro, que eu estava
em tudo isso de boa f, bem como o
Mendona, e que, quando a essa boa f
procurei juntar a boa vontade de evitar um
incidente desagradvel, tudo foi precipitado,
porque a oportunidade era nica e no
convinha perd-la.
VIII) - No preciso juntar comentrios: as
conclusesso evidentes. A minha diminuio
foi considerada necessria, e, no a aceitando
eu, urgia a minha sada do Governo. Tratava-
se de uma ao deliberada e premeditada,
em todososseuslances. Eu fui vtima de um
Pearl Harbour Policial! Foi um golpe japons,
com todososagravantesda surpresa e da
traio dosmtodosnipnicos sempre por
ti lembrados. Foi, meu caro, um truque de
alto estilo no jiu-jitsu da poltica do ESTADO
NO VO .
IX ) - Mesmo assim, resolvi dar tempo ao
tempo. Repugnava-me ao esprito e at ao
corao admitir a persistncia na malvadez
e na falta de senso. O sdiassucederam-se,
unsem silncio e outrosentre demarches
ridculas. A reparao no poderia deixar
de ser imediata, sob pena de agravao ainda
maior da ofensa ao amigo e de desacato ao
ministro. Foi o que, alis, sucedeu, decorridos
maisde dez dias.
Escrevi ento ao Getlio o seguinte bilhete:
H dez dias aguardo a minha demisso.
N o mereci, nesses longos dias, qualquer
deciso tua ou do Governo. Essa demora
s a posso interpretar como maisuma falta
Oswal do Aranha, mi ni stro das rel aes exteri ores
de 1938 a 1944, em feverei ro de 1939
A
r
q
u
i
v
o
O
s
w
a
l
d
o
A
r
a
n
h
a
/
D
i
v
u
l
g
a
o
20 Cul t - maro/2001 20
de considerao ao amigo e ao Ministro.
N ada maisme resta, pois, do que deixar o
Ministrio por ato prprio, do que te dou
comunicao e darei snossasmisses. Do
O swaldo
S ento pediu-me ele, por intermdio do
Cordeirinho, que o fosse ver, antesde sua
resposta final. Conversamos longamente,
enquanto o Cordeirinho esperava na ante-
sala. A sua atitude foi a mesma da primeira
conversa e, quase direi, asmesmasassuas
palavras!
No foram asmesmasapenasasalegaes,
porque asduasse tinham desfeito com a
apurao dasocorrncias: a sociedade de
fato estava fechada e a minha posse no
era uma impertinncia, masuma exigncia
legal para osprpriosrespeitos!
X ) - Eisa, Ges, osfatos, numa fidelidade
que desafia contrastes, acrescidos apenas
de alguns desabafos ntimos, que a nossa
amizade no me permite sopitar.
Naqueleslongosdias, em que fui ru de mim
mesmo, procurei encontrar motivos para
explicar e at para justificar tudo que assistia,
a brutalidade e a conivncia, a pressa no
desacato e a dificuldade na reparao. A
minha culpa, pensava eu, era a minha prpria
pessoa, era a minha devoo ao pas, era o
acerto de minhasopinies, a clareza da minha
viso, a correo de minhasatitudes, era a
minha amizade ao Getlio, era, enfim, a
lealdade, a independncia de minha conduta
no Governo.
A imperiosa necessidade de dar mais
autoridade e prestgio aosministrostomara
aspectos de perdio prxima ou de
insegurana nas punies para cer tos
colaboradoresdo Governo. Eu tinha cincia
e conscincia dessa situao deplorvel. Ela
vinha de longe, mas o G etlio sempre
soubera manter aquilo que ele mesmo
chamava o equilbrio da sua balana. Eu
era perigoso para alguns, masnecessrio ao
Governo. A minha periculosidade aumentou
para aqueles com a prxima vitria das
armasaliadasao mesmo tempo que para o
Governo diminua a necessidade dosmeus
servios. Eistudo, meu caro.
A interferncia na ao diplomtica da minha
pasta foi-se tornando cada vez maisagres-
siva e menosaceitvel. O Itamarati era por
vezes excludo do Conselho em assuntos
da sua peculiar competncia. O exerccio da
minha funo tornava-se, assim, cada vez
mai s di f ci l, j ustamente quando toda
autoridade me devia ser dada e eu devia
merecer o crescente apoio de todos. Eu
pensei at ter feito jus confiana e ao apoio,
no apenas dos meus colegas, mas dos
brasileirosde um modo geral, poisa poltica
e a ao por mim desenvolvidas na pasta
do exterior me haviam recomendado j a
uma considerao especial e pessoal dos
demaisgovernose povos.
Nunca me fiz ilusescomigo mesmo e nem
acari ci o vai dade e glri a vs. Estou
fotografando fatose realidadessem o menor
propsito de reivindicaes pessoais.
Sempre procurei atribuir o que fiz ao
Governo, ao seu chefe e opinio do pas.
proporo que se consolidava no conceito
de nossosaliadosa minha autoridade e eram
conseqentemente aber tas mai ores
possibilidades ao nosso pas, graas sua
poltica exterior, cresciam os bices, as
reservase asdificuldadesinternas.
No querendo revolver misrias, bastar-me-
documentar tudo isso com a seguinte
carta:
17 de julho de 1944.
Pessoal e confidencial
Caro Sr.Ministro:
Estive pensando ultimamente no conceito
fundamental que o senhor estabeleceu to
clara e vigorosamente em sua carta recente
a mim, de que da maior necessidade que
o seu pas e o meu continuem no aps-
guerra a cooperao extraordinariamente
estreita e produtiva que caracterizou as
nossas relaes durante a guerra. Tal
proposta de convenincia evidente. O
Presidente e eu aceitamo-la sem reservas.
Com esta premissa bsica para guiar nossas
relaes, conjecturo se no chegou a ocasio
para nosunirmose examinarmosa fundo os
vriosfatoresque tenham probabilidade de
governar, durante osprximosanos, o curso
dasrelaesentre osnossosdoispases.
Antevejo numerosos problemas a tomar
forma. Se nosprepararmosagora para ir-
lhesao encontro, ser a soluo maisfcil
do que se esperarmos que surjam para
ento os resolvermos. Alm de assuntos
que dizem respeito particularmente ao Brasil
e aosEstadosUnidos, h outrosde finalidade
hemisfrica e ainda algunsde alcance mundial,
que s podem ser discutidosna intimidade
das palestras privadas.
Creio merecerem especial ateno assuas
sugestes relativamente situao e
participao de potnciascomo o Brasil na
organizao da segurana do novo mundo,
bem como a respeito do sistema inte-
ramericano em face da referida organizao.
No conheo outro meio de examinar essas
maro/2001 - Cul t 21
questes de que dependem nossa paz e
bem-estar no futuro, a no ser asconversas
diretase particulares.
Dar-me-ia especial satisfao se conseguisse
deixar osseusimportantesafazeresno Brasil
por tempo suficiente para vir visitar-nosaqui
em Washington.
O Presidente, que muito estimaria ter uma
longa palestra com o senhor, poder v-lo
em 17 de agosto. Se o senhor estiver em
Washington nessa data. Espero que aceite
esta minha sugesto e que tenhamos o
prazer de v-lo aqui dentro em breve.
M inha senhora e eu enviamos nossas
afetuosasrecomendaese melhoresvotos
senhora Aranha e ao senhor.
Seu amigo sincero ( a) Cordell Hull
No me foi possvel aceitar este convite do
Presidente Roosevelt e de seu secretrio, em
termososmaisauspiciosospara osinteresses
do Brasil ao mesmo tempo que o Ministro da
Guerra, de fardasfeitas, devia partir para os
camposda Europa, sem cincia do Itamarati!
E, coisa de notar, o golpe japonspolicial foi
desfechado justamente quando eu teria que
aceitar ou fixar uma nova data, poisconvites
dessa natureza no podem ser recusados
de todo, sem descortesia para o Chefe de
Estado que osfez.
Ante tal situao interna e a impossibilidade
de ao exterior, que me restava fazer,
quando era desacatado pela polcia a mando
ou apoiada pelo Chefe do Governo?
Transigir?Aceitar asexplicaespessoaisdo
chefe de polcia? Pedir demisso para
conformar-me com uma negativa?Pedir a
reabertura dosAmigosda Amrica?
Tua carta foi um conforto sem par. Nada
mais me restava que deixar por ato
prprio o ministrio. Foi o que fiz. Estou
satisfeito e feliz comigo mesmo.
Sou humano e, portanto, no sou indiferente
svaidadese aspirao da vida de todosos
homens. Entre essasa maior era a de chegar
ao termo de minha misso no Itamarati.
Nada aspirei maisdo que concorrer para o
remate de minha obra, que era parte maior
e melhor da minha vida de devoo ao Brasil.
A tarefa que me esperava era, na realidade,
o prmio do meu labor e o seu fim o melhor
dosmeusttulos, para mim e para o meu
pas. Fui forado a truncar minha obra e,
talvez, a minha vida!
N o guardo de todos esses episdios
amarguras pessoais. Conheo demasiada-
mente oshomenspara queixar-me de seus
clculos, de suasambies, de suasconve-
ninciase de suasmanobras. O coroamento
destas ltimas pela minha eliminao do
Governo talvez venha ser til ao Brasil. Esta
a minha convico e so osmeusvotos:
se estivesse vencendo a Alemanha, eu j teria
sido fusilado, mas pela frente; como est
sendo derrotada, eu fui apunhalado, mas
pelascostas!
X I) - Estou na Vargem Grande h alguns
dias. A beleza e mansido destasparagens
me tm dado o conforto da sade e da
paz. Refao-me com rapidez e, espero, em
breve, comear a trabalhar porque o preo
pelo qual vendi o Brasil no me d sequer
para viver.
No tenho ordenadosnem aposentadorias
e o pouco que possuo aquilo que j possua
quando vim para o Governo, aumentado
aparentemente pela inflao, masainda assim
insuficiente para manter-me e aosmeus.
O trabalho me ser fcil e agradvel. Espero
abrir o meu escritrio de advocacia.
Minha deciso esperar e saber esperar. S
tenho um desejo: poder com liberdade falar
ao meu pas. No sei quando isso ser pos-
svel, e nem sei sequer se meusdias, contados
pela precariedade da minha sade, sero
bastantespara aguardar tal oportunidade,
hoje ansiada por todososBrasileiros.
Seja como for, porei mos obra de legar
aosmeusamigosminha defesa escrita com
reflexo e verdade.
Estou profundamente convencido que
necessrio arrancar aosGovernoso arbtrio
que s regimescomo o nosso comportam
de conservar testa da administrao
do pas os conformados, os criados, os
corruptose incapazes, expulsando de seus
conselhostodososdemaiscidados.
No assiste a nenhum poder esse direito
de flagelar assim ospovos.
No penso por mim, que j encerrei a minha
vida poltica. Penso e sinto tudo isso
impessoalmente, pelo Brasil, que no pode
continuar a ser governado pela cegueira, pela
surdez e pela cupidez de poucos contra
todos.
Chegou, meu caro, at mesmo porque esta
vai demasiadamente longa e derramada
demaispara que a possasler.
No peo o teu julgamento, porque sei que
ele, agora, viria do teu afeto e da tua gene-
rosa amizade. Peo, sim, a ponderao da
tua inteligncia, a considerao do teu pa-
triotismo, a serenidade de tua experincia,
bem como a tua confiana na inteireza da
minha devoo ao Brasil.
Oswaldo Aranha
Oswal do Aranha e
Getl i o Vargas, em 1943
A
r
q
u
i
v
o
F
a
m
l
i
a
A
r
a
n
h
a
/
D
i
v
u
l
g
a
e /
e
e /
` '/
/ '/'/ ' .
.`'. ./ '.
/ , es,Je 'J,'e,
ee 'e ', /s e
.,e, eesee e e
'e , (1J~1)
e
e /
e /
, e ' 'Js e'J
e'' , , e e ,''
e e e 'J,'e, e e' e . .,e
eee s' e J ,e' es s'e'' 'e
C U L T e .
e
22 Cul t - maro/2001 22
e
e /
e /
/
ara os fanticos por datas redondas,
!uu1 oferece a oportunidade de uma
dupla comemorao .: quarenta
anos da morte de Dashiell Hammett e
sessenta anos do lanamento de R//,/.
o../., a verso cinematogrfica da
obra-prima de Hammett, c /./. o./.
Hammett morreu em 1u de ]aneiro de
1o1, aos o anos - uma marca nada
desprezvel para quem enfrentou o
alcoolismo, a tuberculose, a cadeia (para
onde foi mandado por desacatar o nefasto
Comit de Atividades Antiamericanas)
e, /. // . /., a runa financeira
trazida pelos anteriores.
R//,/. o../., lanado em 1-1 e
considerado por muitos o melhor ///
realizado, a terceira verso da novela
de Hammett para o cinema (as duas
anteriores - a de 1!1, dirigida por Roy
del Ruth, e a de 1!o, de William Die-
terle - foram esquecveis o suficiente para
ustificar esta refilmagem) e a estria de
]ohn Huston como diretor.
A personagem central do filme $am
$pade, interpretado por Humphrey
Bogart, um detetive solitrio e duro com
um cdigo moral paradoxal, capaz de
transar com a mulher do scio e, ao mes-
mo tempo, de ir at as ltimas conse-
qncias para desvendar seu assassinato.
Nas palavras de Pauline Kael, a aclamada
crtica de cinema da ^v 1./, $pade
...um homem que vive se testando, que
no quer ser tocado, anti-homossexual de
maneira obsessiva... a apenas alguns
passos do psicoptico...".
Huston foi uma espcie de Hemingway
do cinema (at fisicamente eles eram
parecidos), entusiasta de caadas, esportes
violentos e aventuras em geral (ele se
divertia contando que durante as filmagens
de Uo. ../. . 4/. ele e toda a sua
equipe foram alimentados - sem que
ningum soubesse - com carne humana),
que filmava como Hemingway escrevia:
com um estilo seco e direto ao ponto -
no se encontra um ./ suprfluo ou um
ngulo mais rebuscado em toda a sua obra.
Quando foi trabalhar no roteiro do filme,
Huston percebeu que o livro de Hammett
era to bom que o melhor que ele podia
fazer era ficar fora do caminho e ser o
mais fiel possvel ao que tinha sido
escrito. Dizem que ele se limitou a pedir
que sua secretria datilografasse os
dilogos de Hammett e a filmar.
/
/
e
e
e ,
es,Je es
s'e'' 'e e
es ' 'Js
e /
maro/2001 - Cul t 23
e /
24
e /
Huston convidou George Raft para ser a
estrela do filme. Quando esse recusou por
no querer trabalhar com um diretor
estreante, abriu caminho para a escalao
de Bogart.
Bogart, por sua vez, encontrou a
personagem de sua vida - a figura cnica,
ctica e individualista que iria repetir em
c..//.., 4 /. /. ./o. e c ./. /
. M./ (o princpio de $pade -
No vou bancar o idiota por voc" - se
repete no Fu no arrisco o pescoo por
ningum", de Rick Blaine em c..//..,
e no Ningum amais me passou para
trs", de Fred Dobbs em c ./.).
Pode-se argumentar que Bogart era um
ator de um tipo s, mas, convenhamos, ele
arrumou um tremendo tipo para repetir.
Hammett, ele prprio um ex-detetive,
no tentou dourar a plula. $pade no
flor que se cheire, ficando a quilmetros
de distncia da outra grande criao da
literatura ., o cavalheiro sentimental
Philip ^arlowe, de Raymond Chandler
(tambm vivido por Bogart em 4 /. /.
./o.).
A histria de c /./. o./ comea
quando $pade e seu scio so procurados
por uma bela mulher para tentar
encontrar sua irm. $pade assume o caso
depois do assassinato de seu parceiro e
percebe que por trs de tudo est a esttua
de um falco supostamente recheada de
ias. Tambm atrs da relquia maca-
bra", esto os fantsticos viles interpre-
tados por Peter Lorre e $ydney Greens-
treet. A esttua finalmente vai parar nas
mos de $pade, levando a ovem inter-
pretada por ^ary Astor a testar seu poder
de seduo contra os princpios do dete-
tive - e, previsivelmente, perdendo de
lavada.
O dilogo final de Bogart e ^ary Astor
(um dos grandes da histria do cinema)
inesquecvel - uma reflexo sobre a
efemeridade do amor e sobre as tcnicas
de o./ que mantm um escritrio
de detetives aberto.
O toque mais pessoal de Huston est na
frase que encerra o filme - e que se tornou
clssica. Fm uma das poucas linhas no
escritas originalmente por Hammett,
Bogart, mostrando um insuspeito lado
potico, tenta definir para um policial o
que era aquela falsificao em sua mesa
que tinha provocado assassinatos, traies
e pelo menos um corao partido: F a
matria de que os sonhos so feitos."
Renzo Mora Renzo Mora Renzo Mora Renzo Mora Renzo Mora
publicitrio, autor de C i nema falado: As melhores ( e as
pi ores) frases do ci nema de todos os tempos (Lemos
Editorial) e de Sinatra O homem e a msica (a ser lanado
neste semestre pela Lemos Editorial)
e /
e /
e
' e s n o i r
Por ocasio dos quarenta anos de morte de Dashiell Hammett,
um dos mais significativos representantes da fico de mistrio
desde Edgar Allan Poe, a editora Record acaba de lanar, o
volume Tiros na noite ( 546 pgs. R$ 50, 00) , que rene vinte
histrias escritas por Hammett durante os doze anos de sua
breve carreira como escritor. Dentre essas, trs ( Um homem
chamado Spade, Foram tantos a viver, S podem enforc-
lo uma vez ) tm como personagem central Sam Spade,
nascido como protagonista do romance O falco malts ( cuja
edio pela Brasiliense est esgotada e que ser relanado,
com nova traduo de Rubens Figueiredo, em abril deste ano
pela Companhia das Letras) e imortalizado por Humphrey
Bogart no filme Relquia macabra, de John Huston. Essa
publicao integra a Coleo Negra, que se prope a reeditar
clssicos da arte noir como Los Angeles Cidade proibida e
Tablide americano, de James Ellroy, Bandidos, de Elmore
Leonard, Perverso na cidade do jazz, de James Lee Burke, O
ladro de merendas, de Andrea Camilleri, e Marcas de nascena,
de Sarah Dunant, entre outros.
Alm disso, a editora Rocco acaba de lanar o livro O outro
lado da noite: Filme noir ( 256 pgs. R$ 26,00) , em que Antonio
Carlos G omes de M attos ( professor de histria do cinema e
cinesttica no curso de cinema em extenso universitria da
PUCRio) , alm de listar uma farta filmografia contendo
informaes tcnicas, sinopses e comentrios sobre cenas e
dilogos dos filmes, traa uma definio de filme noir, determina
suas fontes e os elementos que o compem e demonstra os
motivos de seu eclipse ps dcada de 50. Expondo a opinio
de diversos estudiosos do tema, A.C. Gomes de Mattos conclui
que o filme um desvio ou uma evoluo dentro do vasto
campo do gnero drama criminal, que teve seu apogeu durante
os anos 40 at meados dos anos 50 e foi uma resposta s
condies sociais, histricas e culturais reinantes na Amrica
durante a Segunda G uerra M undial e no imediato ps-guerra.
No que se refere s origens do filme noir, o autor entende que
esse evoluiu de duas fontes, uma literria ( Raymond Chandler,
Dashiell Hammett, James M . Cain, Cornell Woolrich) e outra
cinematogrfica ( cuja influncia mais importante o cinema
expressionista alemo dos anos 20) . Dentre seus componentes
esto personagens de moral ambgua cujas figuras bsicas
so investigador e vtima, a atmosfera de niilismo claustrofbico
realada por enredos propositadamente confusos e por uma
iluminao em chave baixa ( que se ope luminosidade dos
filmes da Hollywood dos anos 30) e uma estrutura narrativa
que enfatiza o ponto de vista subjetivo ( por meio, por exemplo,
da voz over, em que o protagonista narra cenas em flashback).
24 Cul t - maro/2001 24
maro/2001 - Cul t 25
Vera Jursys
' ` '
Fo l h e ti m/F( oei l ) leton
UM POEMA INDITO DE
MICHAEL PALMER (FOTO)
SOBRE SO PAULO
4 ) , ) 4
J '
$
&
!
!"
!&
"
Vera Jursys
R a d a r d a P r o s a
A NOVA NARRATIVA
EM IMAGENS DE
VALNCIO XAVIER
R a d a r d a P o e s i a
COROLA, O NOVO
LIVRO DE CLAUDIA
ROQUETTE-PINTO
N o v e l a C U L T
A LTIMA PARTE DA
NOVELA ACAJU, DE
MARCELO MIRISOLA
C r i a o C o n t o
ENTRE ESCOMBROS,
UMA NARRATIVA DE
JAIR CORGOZINHO
G a v e ta de Guardados
POEMAS INDITOS
DO JORNALISTA
MARCELLO ROLLEMBERG
26 Cul t - maro/2001 26
' '''' .'.'''. ' .'' '''' .'.''
'''/' /''
Fo l h e ti m/F( oe i l ) leton
SO PAULO SIGHS
(AUTOBIOGRAPHY 14)
Lembras-te?
Mrio deAndrade
Our sighs in So Paulo
sounded something like this:
a kiss is just a kiss
be it rain or simply mist
The animal alphabet
passed overhead
with itstwenty-three wings
rhythm-a-ning a samba for the dead
We walked and walked and we saw:
a rock star without his rock,
two pictures of a rose in the dark
We saw: the shorn locks of a nun
beside an abandoned well
and we peered into our porous hearts
where militiamen secretly dwell
We walked and walked, we three
the Professor of Everything,
the Professor of Nothing
and yours very truly
We witnessed:
the theoretical arrival
of the workers' paradise
by means of its statuary
We examined a woman's skeleton perfectly drawn
skeleton of everything,
skeleton of nothing
on a blue-lit barroom wall
and we noted the sun's
utter failure to explain
anything at all
regarding the mist and the rain
There's no cosmic close-out on raincoats
no discount on drizzles
so you must remember this
When So Paulo sighs
a kiss is just a kiss
Folhefim/F(oeil}lefon" umo seoo ioeolizooo
por Emmonuel !uQny - escrifor froncs resioenfe
em Soo Poulo - poro reQisfror ospecfos oo
cioooe percebioos pelo olhor oe visifonfes
esfronQeiros ou por hobifonfes oo mefrpole que
expressem seu esfronhomenfo oionfe oo
reolioooe cofioiono. O fermo /joe//}/elon um
frocooilho com os polovros /eu///elon, folhefim",
e oe//, olho"}. A cooo eoioo, o C0L! olferno o
publicooo oe fexfos oe !uQny e oe oufros
escrifores, oferecenoo ossim oos leifores o
oporfunioooe oe perceberem nosso ioenfioooe
urbono reflefioo no espelho oo olferioooe. A srie
ilusfrooo pelo orfisfo plosfico froncs Lourenf
Coroon, que fombm moro em Soo Poulo.
Michael Palmer
Poeta norte-americano, autor de
At passages (New Directions, 1995)
. ' ' ' ' ' ' ' ' '
. ' ' ' ' ' ' . ' ' '
. ' ' ' ' ' '
maro/2001 - Cul t 27
','' '''.'' ''''.''',''
'. ' .'' '''' .'.'''. ' .'' '''
SUSPIROSDE SO PAULO
(AUTOBIOGRAFIA 14)
Lembras-te?
Mrio deAndrade
Nossos supiros em So Paulo
soaram mais ou menos assim:
a kissisjust a kiss
seja chuva ou s neblina
O animal alfabeto
passou sobre a cabea
com suas vinte-e-trs asas
cadenciando-um-ning um samba para o morto
Andamos e andamos e vimos:
um rock star sem seu rock,
dois desenhos de uma rosa no escuro
Ns vimos: os cabelos cortados da monja
ao lado de um poo vazio
e indagamos de nossos coraes porosos
onde milicianos se alojam em sigilo
Andamos e andamos, ns trs
o Professor de Tudo
o Professor de Nada
e este que ora se subscreve
Nstestemunhamos
a chegada terica
do paraso dos trabalhadores
atravs de sua estaturia
examinamos um esqueleto de mulher perfeitamente esboado
esqueleto de tudo,
esqueleto de nada
numa parede de bar, azul
e notamos o fracasso completo
do sol ao explicar
qualquer coisa relativa luz
quanto chuva e neblina
no h liquidao csmica para impermeveis
nem descontos para a garoa
so you must remember this
Quando So Paulo suspira
a kissisjust a kiss
/'/ '. `\''`
28 Cul t - maro/2001 28
R a d a r d a Pr os a
/'. /'/`
ASCRIAESORIGINAISDE VALNCIO XAVIER
nos induzem a pensar nas origens da criao. Operando por
palavras e figuras, suas histrias (compsitos de raros refu-
gos de alfarrbio) redefinem o conceito de rbus e a tradio
dos livros de imagens. Seu novo livro enfeixa, como arte da
transfigurao e da perverso, uma trilogia do M: Menino(s)
Mentido(s) e Minha Me Morrendo.
Na epgrafe que abre Menino Mentido, Valncio inverte
Cames e constata: Vi que todo o bem passado/ No
mgoa, mas gosto. A leitura segue entre mentira e malo-
gro, fico da imaginao e infncia gorada. O texto inter-
cala histria (quadrinhos) de Lampio, sonho (desenhos) do
menino e desejos do cotidiano (anncios). As pginas so
autnomas mas i nterl i gadas (A filosofia na alcova
prenunciada pelo reclame do sabonete Arax, p.ex.).
O autor-narrador compara o
mundo dos signos ao mundo
vivido. Lembrando a visada in-
tersemitica de Dcio Pignatari
sobre o V de Virglia no Brs
Cubas de Machado de Assi s,
lemos o V de Valncio, V de
vulva, com um desenho que iguala rabisco e letra. Como
numa aritmtica da memria, a Conta de menos o calen-
drio que contextualiza o tempo da histria, a idade
subtrada aos anos.
Uma das invenes magistrais do autor o contraponto de
sentidos efetuado pela flicagem de um olho piscando
(adaptado de manual de ptica anatmica), nas pginas
pares. O texto inicia com o olho fechado e acaba com o
olho aberto. Ao olhar a folha do lado, a figura funciona
como cmera (num trip) e projetor. Obturador, detona
movimento e dispara imagens. Na justaposio de pginas
(montagem de planos), o livro de Valncio faz ccegas na
frico (flicagem) entre imagem e texto. Algumas seqncias
(pgina par/ pgina mpar):
1) olho fechado/ foto de filme e texto imaginando que, ao
invadir Capela (Sergipe), Lampio viu o Fausto de Murnau
em 1929, acompanhou a fita cantando letra de improviso
(pacto com o diabo) e tocando sanfona, aborreceu-se, man-
dou parar e partiu/ olho aberto/ texto e desenho sobre seu
olho cego.
2) olho fechado/ texto e desenho abstrato: sonho/ olho
aberto/ desenho do jato ocular saindo do crebro.
3) olho fechado/ tela preta e texto (tem uma coisa que eu
no entendo)/ olho aberto/ dois desenhos: olho cego de
Vinha me morrendo
Valncio Xavier
Companhia das Letras
tel. 11/3846-0801
224 pgs. preo
no definido
Desenho de
Flvio de Carvalho
pertencente srie
Minha me morrendo
D
i
v
u
l
g
a
o
maro/2001 - Cul t 29
''''.''','' ''
Lampio/ olho fechado/ figura: crebro-labirinto/ olho
aberto/ anncio: tnico poderoso/ olho fechado/ sala de
cinema e texto (jogo de palavras)/ olho aberto/ foto de
Lampio & Benjamin Abraho e texto (O cinema estava
cheio. O filme mostrava o Lampio danando com a Maria
Bonita, os cangaceiros apontando seus rifles para a cmera,
coisas assim. Quem tirou foi um mascate rabe; antes de
filmar teve que ser filmado apertando a mo do Lampio
para mostrar que sua cmera no era arma.).
4) olho fechado/ foto: cabeas cortadas de cangaceiros (olhos
fechados)/ olho aberto/ close: foto da cabea de Lampio e
texto (corpo agora sem cabea, medusa)/ olho fechado/
cordel A Chegada de Lampio no Inferno/ olho aberto/
desenho: jato do olhar do crebro/ olho fechado/ figura-
preceito (andar certo em criana andar certo a vida
inteira)/ olho aberto /tela preta e frases em desordem (e,
na verdade, tambm tive um grande prazer)/ olho fechado/
A filosofia na alcova (Sade: deixando errar essa imaginao,
no verdade que os desvarios da imaginao seriam
prodigiosos?).
5) olho aberto/ foto: cabeas cortadas (olhos fechados) de
Lampio & Maria Bonita e texto (ele olhando para ela de
olhos fechados, duas escuras mas assadas com longos
cabelos negros secos, nunca mais comi ma assada).
Outro dado so os termos que retornam infncia, mundo
pr-lgico e pr-linguagem. So apalpadelas guturais,
sondando origens narrativas. no impulso que l jogo de
palavras (achar nas palavras (...), palavras dos nomes de
outras coisas da vida), que o ldico v o lavor literrio (di-
verso, divertido e diverso). No p da pgina, o fecho:
Ganhei!!! Trata de me passar teu Gibi!!!
O eplogo traz garatujas e garranchos num bloco de notas.
como se o texto desaprendesse a escrever, voltando aos
rudimentos primordiais da escrita, at o trao despencar
num abismo de linhas. Antes desta pgina, o olho aberto, e
depois, o olho fechado, seguido do letreiro The End e,
por fim, o olho aberto.
Menino mentido: Topologia da cidadepor elehabitada faz censo
de afetos e itinerrios, durante relato do crime na escola sob
a espreita do sexo em boto e aos borbotes, o imaginrio
popular (o jornal, o teso teen, a matin aps a missa). Na
mixrdia iconogrfica que vai da pemba de macumba ao
fotograma do cinema, o texto interpola guias e mapas,
catecismos, manuais, almanaques, quadrinhos, cine-seriados,
anncios, reportagens, letras de msica popular.
A primeira pgina indaga no branco o caos inaugural da
narrativa: onde est a palavra?. Analogias ldicas da criana,
inconseqentese verossmeis, do dicasdo mtodo polimorfo
do autor (O padre movia uma manivela e (...) a terra e
todos os planetas giravam em torno do sol uma vela acesa.
Vendo essasminiaturasa girar feito umpio, a genteentendia
perfeitamentequal o nosso lugar no Universo.). A pgina ready-
J
o
e
l
R
o
c
h
a
/
D
i
v
u
l
g
a
o
30 Cul t - maro/2001 30
madeesclarece: aps a enumerao de anncios (linhas com
nome do estabelecimento e descrio sumria), o autor
pergunta: tivessem outros nomes/ teriam o mesmo encanto/
da infncia?
Cogulo de experincias, o cinema modo de apreender o
mundo: Sei l se uma Manolita [1 cruzeiro =mil ris] dava
pra pagar a meia-entrada no cinema (o valor do novo di-
nheiro). localizao da escola segue o mapa dos locais de
cinema, e o verbete 123 Que so mistrios?; depois, a
coda-guisado, o balo (dos quadrinhos): Shazam! modo
de identificar: sob o mapa da Praa da S, l-se: Napoleo
morreu na ilha deSanta Helena, aprendi isso na aula dehistria.
Eu estou no (cine) Santa Helena. L-se o programa completo
de uma sesso na poca: cinejornal, documentrio, comdia
curta, desenho, episdio de seriado. Ou ainda quando lemos
sob o mapa A cidade de So Paulo e seus subrbios: Eu
andava por toda So Paulo, conhecia tudo que era cinema.
A topografia de MM revela: Na rua
Timbiras (...) tinha uma livraria (...)
expuseram l os desenhos de Flvio
de Carvalho da srie Minha Me
Morrendo. Nunca uma coisa me
impressionou tanto. Minha memorreu
naqueleano.
Minha Me Morrendo encena, na
pulso do gerndio e na angstia da
indagao (nunca mais vi minha me
viva/ tive medo de ver ela morta), o
amor do filho rejeitado (minha me
viva/ de meu pai vivo; eu/ menino/
morava com minha me/ que no me
amava/ no me dava ateno/ calor
amor/ carinho/ beijos/ s lia livros e livros), enquanto
agoniza (minha me nua/ pela porta do banheiro/ tive
medo/ mas me fizeram entrar/ foi s por pouco tempo/
muito para mim).
Valncio cria outra modalidade de ponto de vista temporal,
diverso de flash-back e montagem paralela: instantneos
quase simultneos. Como recorrncia e metacomentrio, o
texto comea com a plpebra que se abre. Antes da anatomia
do olhar, ocorre o parto do olhar. Viso parida (o tempo de
uma foto), a busca no ba imaginrio do diapositivo. A
memria passa a auscultar cheiros (madeiras do Oriente).
Pela simples e eficaz alternncia de pgina com texto e pgina
com imagem (e entre: pginas em branco), o autor constri
a narrao em retbulos: pginas-lpides.
A memria turva a identificao de palavras e imagens no
relato fabular: nome da me e nome da cidade onde foi
sacada a foto (Samara Samarkanda Samara Maria). Na
estrutura no-estanque, as palavras (pelas portas abertas/
F
o
t
o
s
:
D
i
v
u
l
g
a
o
maro/2001 - Cul t 31
Carlos Adriano
mestre em cinema pela USP e cineasta, autor dos filmes A voz e
o vazio: A vez de Vassourinha, Remanescncias e A luz das
palavras
de par a par) abrem a imagem na pgina seguinte (foto de
duas moas). Na pgina anterior, isolar um retngulo na
foto flagrar um co-borro e reverter o anagrama do
obturador Crbero vira crebro.
A alternncia de texto e imagem quebrada uma vez: o
trptico feminino em trs pginas, com duas fotos de
anatomia transparente e a pintura de Vnus(sada das
vsceras). Valncio conjuga em sua escritura o verbo dissecar
como recortar (corpos e imagens, colagens e pginas).
Enigma, a evidncia das imagens engana (no sei dizer o
que senti/ mil e uma noites no deserto/ pensei e no sei o
que pensar ): a ambigidade (o tempo passou/ sem
respostas/ o tempo no passa). Na iluso, hesita o menino
(Aladim Sinbad Saladino/ Maktub ou Alephemet o Sbio/
que tudo sabe e tudo v/ que abre todas as portas/ que leu
mil livros/ livros de palavras/ e livros ilustrados).
No fazer da fico, escorado em palavras e imagens mas
desamparado pelo irreconcilivel e o irredutvel, desrealiza
o sonho (Eu O Profeta Velado/ o que sabe as respostas/ e
todas as perguntas/ o futuro e o passado/ de todos/ os sculos
e sculos/ no sei o que sinto/ quando abro a porta/ e vi
minha me/ fmea nua bela/ no sei nunca saberei).
Ao fim, abrir a porta equivale a virar a pgina (a ltima, de
fato, que encerra o texto, uma lpide lutuosa). E o cinema
reaparece como catal i zao subl i mi nar de emoes,
memrias, morte, amor. Recorre dialtica da durao,
experincia do tempo vivido, imaginado e lembrado. A
ltima pgina escrita remete ao filme sueco Minha vida de
cachorro (o mesmo caso do menino rejeitado pela me vida
ledora).
To deslumbrante quo desconcertante, o eplogo uma
epifania irnica (um verdadeiro e literal achado): a foto de
um cartaz de rua, tosco e manuscrito, que suplica a alforria:
Senhor liberta-me das imagens. O epitfio vale por uma
contundente revelao e um manifesto da maravilhosa arte
de Valncio, bricolagem brutalista de um genial cole-
cionador de estelas encantatrias e bricabraques esfngicos.
Do menino mentido que morreu viso irremedivel da
me e s meninas em ruas ou janelas mltiplos , podemos
perceber o paraso perdido de nossa iconografia ancestral e
i ndustri al nos cri pto-textos de Valnci o Xavi er, que
reinventou a narrativa por imagens no Brasil, um pas no
s de analfabetos funcionais mas tambm de iletrados
visuais.
Ao lado, reclame do sabonete
Arax e, na pgina oposta,
o trptico feminino finalizado
com a pintura de Vnus
sada das vsceras
32 Cul t - maro/2001 32
''''' '''' '' '' ''''' '''' '' '' '
'/`' '/ '''/
UMA PRIMEIRA OLHADA EM COROLA, NOVO
livro de poemas de Claudia Roquette-Pinto autora de Os
diasgagos(produo independente, 1991), Saxfraga
(editora Salamandra, 1993), e Zona desombra (editora Sette
Letras, 1997) pode causar, rapidamente, algumas
primeiras perguntas quase evasivas: o que pode significar
uma flor quando poema?Maisperto, o que pode significar
corola, parte que envolve a flor, quando est como ttulo
de um livro de poemas?Assim, creio, nesta rapidez do
nome, corola pode ser mesmo uma delicadeza de gesto,
apenas, botar beleza nele, o que j seria muito. Depois,
mais adiante, o que se v na poesia de Claudia posio
certeira para criar contraponto sereno a algum possvel e
estranho vazio no atual quadro da poesia feita no Brasil.
Destaco dois princpios que esto postos na poesia que
Claudia vem construindo e que, a meu ver, so muito
importantes para a leitura de Corola: um, pensar o poema
como um dado da amalgamada cultura potica brasileira
e sacolej-la; dois, pensar o poema como uma variante de
si mesmo, como linguagem e como projeto, e dar
reinveno a ele, com alguma fora. Algo como o que
Helosa Buarque de Hollanda, no prefcio, a partir da
idia da flor, denominou uma poesia em que uma viso
de uma flor desorientante.
Corola pode ser lido como um longo poema em 48
fragmentos anotados e retirados de um cotidiano desviado
em sabor e cheiros, sensaes quase de alegria e mergulho,
e mais precisamente ainda, ao mesmo tempo e para
confronto, um outro cotidiano, desta vez desolador, que
em nenhum momento simples, e de onde Claudia retira
Ra d a r d a Poesi a
i mpresses para denotar sua
poesia: palavras,/ cepas resis-
tentes droga da vida. Mas,
creio, temos em Corola, mesmo e
de fato, 48 poemas estanques,
desenhados mo, com feitura correta de quem precisa
ainda respirar poesia e dar a ela alguma atribuio de mundo
que no a mera repetio do fazer.
Em Zona desombra, seu livro anterior, em um poema
intitulado Cinco peas para silncio, dividido em cinco
fragmentos, que tem incio, o primeiro fragmento, com o
verso empresta o silncio ao silncio, parece-me claro que
a busca potica de Claudia a constatao de que o pleno
no existe mais. E est l, afirmado por ela. O segundo
fragmento inicia com: evita o que d ao silncio/ ausncia
de sombra, e conclui, nos quatro ltimos versos: quando
corpo, ora em pedra/ ora em gua precipita e/ os gestos da
gua imita:/ levita em convite queda. Essa queda indica
o incio desta construo do que chamo tentativa de
reinventar o poema para inserir nele a perspectiva de um
novo sujeito, de um novo lugar, at para a prpria poesia.
O que tambm Claudia nos confirma ao final do terceiro
fragmento: (por dentro do corpo (disfarce/ contra o
silncio) respira/ outro corpo a imantar-se).
Em Corola, Claudia atinge um certo grau de maturao e
estabelece uma relao definidora entre o que pode ser
tomado como impasse e o que ainda pode ser poesia. Como
desconfiasse seriamente da poesia. O menos potico torna-
se, mais uma vez na poesia de Claudia, e a muito a meu
ver, por causa da desconfiana, o mais interessante entre os
Cor ol a
Claudia Roquette-Pinto
Ateli Editorial
tel. 21/4612-9666
112 pgs. R$ 15,00
maro/2001 - Cul t 33
'''' '''' '' '' ''''' '''' '' '' '
materiais com os quais ela trabalha; e, se no me engano,
esse material se engendra nesta relao que disse antes e
aparece em versos como o ar arrebente o dique/ do que
insiste em ser/ oco, ainda um pouco/ mais ou Para que
tijolos, toda esta geometria,/ que faz da paisagem um deserto
de cintilaes espontneas?. Uma relao que acontece num
lance de jogar-se no espao, do lugar onde se vive, como se
uma espcie de cidade que muito mais, subjetivamente, o
lugar do outro e no mais o lugar do eu. Apenas, agora, um
lugar de onde se parte da coisa para a coisa, circulando,
como uma idia de tempo circular, real, para dentro. A poesia
de Claudia faz frente a e, muito mais que isso, dialoga, com
convico e firmeza, justeza at, com uma afirmao que
est, por exemplo, em Francis Ponge, sobre a palavra e os
sentidos dela, o de que tendo empreendido escrever uma
descrio da pedra, ele se empedrou, mas acrescentada de
desconfiana e delicadeza; e aqui, creio, est, por exemplo,
alguma idia sobre o carter de reinveno da poesia que ela
pratica.
Muito por causa disso penso que Rgis Bonvicino foi
extremamente feliz ao escrever na orelha de Corola uma
expresso de Charles Bernstein para falar do trabalho de
Claudia: a conscincia de que a poesia respirao artifi-
cial, sabendo-se que antes artificial do que nenhuma. O
que Carlito Azevedo j havia chamado antes, Rgis tambm
lembra esta citao, de transformaes invulgares. No que
ela mesmo afirma em um dos poemas de Corola: At onde
a respirao me leve. O que pode ser visto como uma
retomada de sentidos para novamente desejar o mundo, ou
ainda como dar expresso e sentido de poesia a um impasse
Manoel Ricardo de Lima
professor de literatura brasileira na UFC, um dos coordenadores
do ncleo de literatura do ALPENDRE Casa de Arte, Pesquisa e
Produo (Fortaleza, Cear) e autor de Embrulho (7 Letras) e
Falas inacabadas, com a artista plstica Elida Tessler (Tomo
Editorial)
potico: dar novamente necessidade palavra. Em tudo isso,
penso, est a poesia de Claudia. Assim, acredito que Corola
um livro que nos parece trazer registro de algum respiro
mais fecundo, e profundo, para a poesia brasileira. E Claudia
Roquette-Pinto afirma-se cada vez mais como uma poeta
extremamente importante e significativa para o que ainda
se pode apontar para frente.
R
i
c
a
r
d
o
P
i
m
e
n
t
e
l
34 Cul t - maro/2001 34
''' '''' ' '. '' ''' '''' '
'/' '''.'/ .'`/ /
N o v e l a C ULT
A falncia dos meus rins. Da bexiga, da uretra, da minha
conscincia, do meu ser social. O cho, porra!
Sentia a falta de Ana g. E entregava os pontos somente
pelo prazer que eu cultivava em ser disparatado (troquei o
bluese asprivadasvomitadas, asmaldiestodase a babaquice
redentora beat pelo Show do Milho). Enfim, eu acreditei
no gnio de Silvio Santos e dei por encerrado o tempo das
punhetas. As orqudeas definitivamente no lugar das azalias.
Faltava apenas dar forma exploso. De modo que me
era agradvel passar rgua na idia do assassinato, tal a
facilidade eu at me envergonho em que se consumara a
circunstncia da coisa, digamos. Do projeto de confi-
namento s cutiladas bem-humoradas, que eu, apro-
priadamente, chamei de gnese do ferro quente.
gnese do ferro quente, benh.
Uma identidade constrangedora de assassino. Eu me
apegava na doutrina esprita: a gente renasce em vida...
agora a sua vez, baby e, de certo modo, me
envergonhava dos meus renascimentos. Usava o mtodo
Gasparetto de viadagem.*
Tava ficando maluco. Repetia defronte o espelho: agora
a sua vez, baby. No havia punheta que me segurasse.
Meu ltimo suspiro incandescente, maldito haveria de
ser o nome de Ana Gavrlovna, meu amorzinho-baby. Oh,
Deus!
Uma mulher que eu no sabia quem era. Naquela noite
deixei de ser um simples punheteiro para me transformar
num assassino eloqente e melanclico. Hoje sou um
apaixonado. s vezes mais melanclico do que um assassino.
Uma confisso. Eu comprava e recomendava os livros de
Zibia G., me dos bizorros Gasparetto.
apesar de tudo, baby.
Leia a seguir o ltimo captulo da novela
indita Acaju (A gnese do ferro quente),
de Marcelo Mirisola, que o Radar CULT
publica desde a edio de outubro de 2000
[CULT 39]. Um dos mais talentosos e
virulentos escritores da nova literatura
brasileira, Mirisola autor de Ftima fez
os ps para mostrar na choperia (editora
Estao Liberdade) e do recm-lanado O
heri devolvido (Editora 34).
* Quero deixar registrado em cartrio: Est, desde j e para toda a
eternidade, expressamenteinvalidada qualquer tentativa depsicografar
minha suposta contrio depoisdemorto, registre-se.
Eu que no vou trair a carne e o suor dosmeuscolhesem benefcio
deum bostinha ou da medeum bostinha metidosa receber espritos.
/ `. '`
Um sol nublado. Quase que dando pra esquentar.
Setembro, 1999. Um cho de azalias... e a Santiago de
Caio Fernando Abreu.
Vontade mesmo de alar vo. E as azalias l
embaixo. Algum feliz neste instante, aquecido pelo Sol
(pensando na era dos descobrimentos) fmbrias, desvos.
Ou Ana g., hippie at o sovaco. Um travesseiro de marcelas.
Um corpo de mulher jogado l de cima e felicidade de si,
o corpo jogado
para si mesmo. O Sol. as
azalias.
As coisas estavam apodrecidas. Eu andava preocupado
com as lceras debaixo da lngua.
as lceras.
Gin e Miojo sabor galinha caipira. Um dia percebi que
meu gato era uma gata, contratei um advogado. Eu no me
reconhecia no cheiro de minha prpria merda. Tinha o
problema da urina. As prestaes do armrio de pia Eliane.
por causa das azalias
por causa das azalias
maro/2001 - Cul t 35
A estabelecemos um jogo.
Eu no sabia o que fazer com as flores trazidas da rua
(misturava as coisas mesmo). Ela, durante o dia, trabalhava
num hotel especializado em velhinhas argentinas e ces de
pequeno porte. noite bebia sangue.
Ana g. sabia como chupar uma pica. Eu somatizava,
de modo que, em primeiro lugar, o que mais me doa era
minha solido defronte o espelho: baby, agora sua vez.
Um cigarro que apaguei no clitris dela.
me chama de mouro, baby.
As malditas flores trazidas da rua. A gente se arretava
feito dois chimpanzs. Tive os primeiros mpetos de
efetivamente assassin-la. Vale que sempre fui travado. Um
melanclico.
Ouve isso:
o derramamento em si.
Jamais algum foi to convincente?...
O expurgo pelo mal. Eu acreditava nisso, fui educado
pela televiso.
Ana g., clitris incendiado, recuou diante dos ornamentos
das minhas taras. Em primeiro lugar, eu disse pra ela esquecer
as flores; depois, expliquei que ornamento das minhas taras
si gni fi cava mi nha vontade de vi r-la do avesso, um
chamamento.
meu destino um jardim eu idealizava cemitrios
marinhos.
Queria ver Ana g. botando um Ovo. Fui categrico.
demente foi do que ela me acusou.
Ana g. havia deixado crescer os plos do sovaco. O
problema que ela, diferente de sua me e das outras vtimas,
recusava-se a engolir meu esperma. A infeliz fazia meno
de espalhar minhas assombraes e inconfidncias, tive de
mat-la.
l do meu jeito. ouvia Champanha, do Peppino di
Capri.
Onde que ela escondeu meus pocket-games?Uma
felicidade idiota feita pros outros...
Sempre fui um apaixonado. Uma pena que ela no me
quis. Ouvi-la?Agora, no. Eu sei que Ana g. est morta.
Sofri demais, queria ficar longe disso. s vezes cometo erros
grosseiros. Outras vezes fao de sacanagem mesmo.
Quando Ana g., assoprando a neblina na concha das
mos, inventava uma brincadeira nova ou falava alguma
merda em ingls-yazige: my heart, little pangar.
Eu no gostava dos seus elogios de botequim. Ela me
acusava de no lev-la a srio e simulava pequenos chiliques
por causa de quimeras, tocos microscpicos de fumo,
mosaicos e gnomos de puta que pariu. Um fusca clef. Ou
um nome diferente para orgasmo.
Que tal ranho?Ou cuspe?
Eu mandava ela enfiar a buceta no cu. Ela ia embora e
depois voltava com a buceta e uma autoridade mequetrefe
devidamente enfiadas no rabo, os peitinhos, no entanto,
vindos de Ribeiro Preto ou de So Tom das Letras,
agentavam firmes e sempre estavam por l, alcoviteiros e
trmulos, ajambrando mais uma reconciliao. Eu vivia
feliz.
Ou a sobreposio das palavras contrato e contragosto.
Ela, antes de virar meu cadaverzinho-baby, foi minha
diarista. Eu exigia plos no sovaco e refogados feitos com
meu esperma e espinafre, sufls de bosta e seus lbios
rachados, principalmente. Sei l, ela conseguia distrada,
claro dar uma quebrada fabulosa no conjunto (meio
herona e meio dbil mental pelo mesmo motivo).
Eu pelado na cama. Sua predileo por flores do campo.
O queixinho duplo (que injetava gasolina...) estranhamente
compatvel com a obliqidade daquele treco que fedia e que
''' ' '. '' ''' '''' '''' '
A
lv
a
r
o
M
o
tta
/
A
g
n
c
ia
E
s
ta
d
o
36 Cul t - maro/2001 36
ela chamava de alma, eu tenho uma alma, sabia?. O
que mais?
Eu tambm exigia a eliminao dos cones bregas, virado
e couve-menina, a ocupao da casa sem rudos, muito
diferente bom que se diga do que aconteceu na parte
mais afastada que dava de frente para a calle Rodriguez Pea:
sua morte, baby.
Ou, baby, agora sua vez. Talvez nosso casamento no
tenha sido irreparavelmente um prejuzo, bem como a morte
de Ana g. no o foi... (me antecipo s condenaes, todavia),
assim era nossa rotina. Bizarrias, pipocas no microondas.
Sexo. A gente ia jantar no bingo.
lembra de fulana?, foi assassinada.
(the transport of fierce and monstrous gladness,
Shelley). Isto , eu armava caveiradas pra ela, disso que
eu me valia. Ser um amaldioado, enfim, era tambm crer
na essncia do sangue e descrer em si mesmo, ou melhor,
descrer nos anjos (se que um dia eles existiram!) em virtude
da tentao incondicional da felicidade da mordida ou
mais: t-los mortos (os anjos?, seriam os anjos?) como eu
tive a mim mesmo como um assassino.
agora sua vez, baby.
... me bastaria falar da nossa felicidade.
Tudo isso, creio, to sofrido para ela e to perto dos meus
sonhos de homicida encantado e desentendido de si mesmo.
Entretanto, os fatos e as provas materiais juntados ao longo
da nossa convivncia as flores dela, minhas orqudeas
vieram, se no condenar, pelo menos cobrar os juros
referentes ao grande e fatal engano a que nos submetemos,
um assassino do outro.
Uma combinao infeliz. Que eu chamo de O leo
Combustvel e as Demais Providncias. Ou quase isso. Eu
submet i a Ana g. mi nha conj ugao part i cul ar
imprudente, ampla e irresponsvel da o erro de nos
fodermos e de ela ter depositado grande parte de suas
esperanas emmim!
T prenha, ?
Ana g., emprenhada. poca eu acaju, e com razo
alis s me permitia pensar no mximo benefcio que
tiraria da gravidez dela. Ana g, sempre acreditou naquilo
que nunca existiu. A desgraada, somente porque esperava
um filho meu, achou que poderia contar comigo (em
verdade, nunca fiz nada pela criana, nem por mim, nem
por ningum), ela tinha a obrigao de saber quem eu era.
Se fudeu, bem feito. E, no bastassem as orqudeas e as
barganhas todas, as pregas da alma e mi nha doura-
demncia, ainda consegui corromp-la; ou mais, pelo
compromisso que havamos assumido, eu teria de ir muito
alm da simples corrupo, em ltima anlise, eu me via
na imposio de frustr-la e faz-la descrente de suas
ambies maternas (ela se entregou antes, muito antes do
que eu havia planejado), em suma, os efeitos destrutivos
deste compromisso somados culpa inerente e tesuda
de praxe foram os responsveis pelo aparecimento das
orqudeas, guisa de maldio.
eu devia esperar por isso?
Eu prefiro chamar de ocorrncia das orqudeas. Todavia,
os desdobramentos desta meleca no eram digamos
previsveis quando a teso estava a meu lado e pediu o
sacrifcio de Ana Gavrlovna: vale dizer, foi muito fcil acabar
com tudo e assassin-la. Talvez, para ela, apesar dos vexames
que passou por minha causa, tenha sido ainda mais fcil
acabar com tudo, e, em tese pobre desembuchada querer
tentar outra vez.
Eu no fui, nem fudendo. Ana g., como boa e desatenta
vtima, no se deu conta de que ambos havamos morrido,
eu e ela. importante, no obstante, ressaltar a doura de
Ana g. em seu derradeiro fracasso, pelo qual ela bom
repetir foi a nica responsvel.
um prejuzo, baby e as orqudeas, malditas orqudeas.
A verdade que eu estava mais perto de Ana g.. No era
como o desejo, tudo bem. Ningum me viu reclamando.
Qual era meu lugar?
''' '''' ' '. '' ''' '''' ''
maro/2001 - Cul t 37
A procurei um urologista. Depois, um psiquiatra. Que
dia foi? Ana g. lanou-me trs dardos flamejantes. O
primeiro, eu tenho certeza, no pegou, o segundo, quando
abaixei, atravessou o muro e foi parar l na casa do caralho.
O terceiro fiz questo de contabilizar. Era o ltimo dia de
Ana Gavrlovna.
O louco?Ou o noivo. O enforcado?Ou o mago. A torre?
Ou o diabo. A sacerdotiza?Ou o mundo.
A morte. A noiva. Sobretudo quando eu dizia pra mim
mesmo: agora sua vez, baby. Tudo o que eu queria na
vida era uma boa desculpa e a morte de Ana g. O meu
plano era o seguinte. Em primeiro lugar, o urologista:
O problema na glande, doutor. Sei l, acho que por
causa dessas manchas escuras... O que o senhor acha?
A eu iria ao psiquiatra e perguntaria a mesma coisa.
Um pouco da runa. Um pouco da inveno de Ana g.
Um Chinelo Rider Que Me Condenava. O assassinato
estava acertado para o ltimo minuto do ano. A comeou a
chover. A chover mais forte.
Ela me chamava de doutor sabugo. Falei que tinha uma
surpresa.
tenho uma surpresa, baby.
... e para evitar calvrios esdrxulos (turistas argentinos
acima do peso e meu pobre e mal ajambrado inconsciente...)
fiz meu desjejum, vesti um suter uma vez que o vento
soprava do norte e fui para o terrasse. Um pouco parecido
com Fitzgerald, sem os chifres.
Bem, ela ficou desfigurada. A decidi dar um tempo no
negcio de ouvir Beethoven s seis horas da manh. O vento
que soprava do norte se desfez em nuvens traioeiras, logo
em seguida, vi uma mulher pelada se transformar num
cogumelo atmico. Uma semana antes eu havia desejado
vaginas, seios e cloacas pra comprar no supermercado. Uma
seo de laticnios. Outra de restos humanos.
Mas faltava alguma coisa. Uma rede?
No, uma rede no.
A rede, baby, o foda-se sem ressentimento.
O problema era outro. Ento, acendi um cigarro e fiquei
esperando a porra do cogumelo trazer a radioatividade. Mas
ainda faltava alguma coisa. O que faltava?
a morte, sua morte.
O choro no chorado, por alguns segundos, que ela
esboou quando a estrangulei isso foi antes de retalh-la
com meu jogo de facas alems aquele mesmo choro antes
da chupeta e depois de eu ter elogiado os mamilos peludos
dela, talvez tenha sido (nem uma porra de uma lgrima) aquilo
que faltou, ou, talvez, o que eu efetivamente no consegui
entender nessa histria de amor, azalias, maldio, orqudeas,
bromlias e assassinato. Qual o cronograma das avencas do
jardim gay de Caio F.?Tambm no sei, nunca entendi.
Outra coisa. Sempre ofereci o sexo que ela me pediu. Eu
me lembro de lhe ter assegurado ao estrangul-la, no
momento exato que, dependendo do caso, chorar era mais
uma questo voluptuosa do que sentimental. Que para fingir
no entanto bastaria conciliar uns poucos segundos de
mau-caratismo com uma boa dose de sensualidade (um treco
que visivelmente quer dizer, depois de retalhada faltava
nela). A viria o derramamento.
na hora do derramamento, compreende?
Eu ouvia Champagne e usava culos Ray-Ban na
ocasio.
O que me consola, no entretanto, o fato de que sempre
bom enfatizar fui um bunda-mole profundo, aplicado
e senti mental. Ana Gavrlovna jamai s desconfi ara da
transigente porm insustentvel culpa que eu tive (e tenho,
porra!) em relao criana que no nasceu. Ah, que teso.
a culpa que carrego junto com as malditas flores.
Eu tambm nunca pedi um beijo pra ela. De modo que
hoje deliberadamente, mas a contragosto , eu corro atrs
do meu inferno particular (eu sem ningum...) sem ter como
grit-lo. s vezes sonho com orqudeas. Ou no tenho sonho
nenhum, nada.
Ou no tenho sonho nenhum, nada.
''' ' '. '' ''' '''' '''' '
38 Cul t - maro/2001 38
Cr i a o Conto
.''''. ''' .''''. ''' .''''. '
/' /'\. '`' '''
A ME DIZIA: NO VAI! A MENINA NO IA.
Aqui a ordem, o sistema esse, no vamos nos desen-
tender.
A menina no ia. Tmida, medrosa, no falava que sofria.
Naquela casa era a ordem, a mesma baboseira clrica de
sempre. O pai cristo morreu. A me crist vivia e tornava
insuportvel a vida da menina. Mas, a menina tolerava
com o mesmo silncio de quem lambe os olhos de um
co, do pescador que pobre, de quem cheira o manto de
uma santa ou de uma bailarina, do vadio que se masturba
na grama do parque. Tolerava em silncio, apenas.
Tanto dentro como fora naquela casa o que havia era a ordem,
o desejo e o horrio de uma s, que se julgava feliz e, portanto,
a todos, felizes. Felicidade, arrumada e empacotada, que afinal
no servia para nada a no ser afast-la doshomense torn-la
solitria ea verdadequeela eningum deseja deixar o convvio
doshomens. Sua ordem pairava acima dasrealidadese dentro
de sua casa o vento no soprava, estava sempre salva a
arrumao dosmveis. L fora, depoisdasparedese da porta,
ainda havia o perigo, masela, que era a me, viva e feliz, e que
tinha a ordem, j mandara construir o muro, com porto de
ferro e cerca eletrificada.
Mas, drages so pssaros que calculam. Enquanto esperava
e calculava, a menina desenhava.
Desenhou o pai morto. No papel branco a chuva molha o
invisvel. Membros toscos e dedos cabeudos. A cabea
obedece a um registro policial, trs figuras: uma de perfil,
outra de frente, e a terceira com o perfil do outro lado do
rosto. As narinas dilatadas pelo exagero da morte no
sentem mais o odor da f, que agora s poeira, desenho
de cheiro de poeira. As mos, entre aspas, deitadas sobre o
peito esticado. Nos lbios se projetam brilho e cor e a
mesma incompreenso: eu no vou intervir.
Desenhou a me viva. No papel bolorento o sol ilumina
uma mente estreita. Um grande depsito, uma construo,
com colunas e entablamento dispostos em partes salientes,
formando coordenadas retilneas. Uma cama muito bem-
feita dentro de um quarto fechado. Uma televiso ligada
at tarde e uma srie fechada de objetos: dois pares de
sapatos, dois travesseiros, dois crucifixos, dois pares de
sapatos, dois travesseiros, dois crucifixos, dois pares de
sapatos, dois travesseiros, dois crucifixos. O corpo em
posio de parto, uma cirurgia, uma cesariana. Os cabelos
penteados, os olhos fixos contrapostos a um fundo bem
sbrio, enquanto a boca, muito bem cuidada, feita com
um vermelho vaidoso, grita: Aqui a ordem! Voc no vai
menina!
Desenhou o irmo nu. No papel verg a escurido tateia a
pele delgada de uma perna. Revelou primeiro as ndegas,
e para frente, com traos rpidos, retorcendo-se o peito e o
abdmen, revelou o arqueiro, obscenamente exposto. A
glande um mundo em carne viva, dura e irritada, bela e
solitria, carne, pau e ferro. O corpo de um macho em
pausa, repousando em cores enrubescidas, tamanho o
maro/2001 - Cul t 39
''' .''''. ''' .''''. ''' .'''
desejo que exprimem por um membro crescido. No fez a
boca, que ainda era virgem, mas fez os olhos, que apesar
de tantos problemas, tantos medos, eram leves e negros,
como insetos, insetos negros e leves.
Desenhou a si mesma com cinco, com dez, com doze,
com dezoito anos. Fez bricolagem. No passou no vesti-
bular. No comemorou o Natal. No bebeu refrigerante,
no tomou cerveja. No sofreu a morte do pai. No ficou
gorda. No disse no. Uma imagem pastel, difana,
sombreava o papel-arroz que o frio umedecia. Com nove
pernas, quatro de ambivalncias, quatro de dvidas e uma
que era ela mesma, uma aranha era o seu abrigo: Aqui
mame no entra. Eu queria ser a filha do meio. Eu
quero uma oportunidade para crescer. O seu desenho
brutalmente cortado, no h organicidade e a temperatura
fria, as inervaes sugerem abandono e uma digesto
cega, como um poema, uma gula. A aranha caminha, o
papel fica para trs.
At que veio o inevitvel. Ele veio e trouxe o cncer.
Foi em um dia quente, o trnsito flua mal, o vendedor de
gua pipocava entre os carros, um cheira-cola dormia numa
cama miservel improvisada na calada, forando o desvio
de bons cristos. Pode ser que tenha sido ali, ou no, no
importa, ali ou por ali, mas a imagem, a coisa aconteceu,
suave e inquietante coisa, deriva de Deus. Era a realidade
funcionando. Naquele minuto ela se apaixonou. Comeou
a caminhar entre escombros.
Naquela casa era ele, dentro e fora era ele. Derrubem o
muro. Era ele quem tomava a ordem. Era ele a sua ordem,
sua embocadura, sua histeria. Via-lhe a imagem atravs
das paredes, atravs do latido dos ces, de suas prprias
lgrimas, atravs de caixas, de postes, e atravs de sua
matria abandonada. Ela passou a dormir no cho, nua e
sem cuidados. Sobre o seu corpo comeou a surgir uma
crosta que atraa moscas, porm no fedia, pois banhava-
se muito e chorava, acostumava-se s moscas. A longa
pacincia das moscas que evitava a sua morte. Comiam-
lhe deliberadamente a crosta, que mesmo renovando-se,
tornava-se sem crueldade. A pele, algumas vezes ferida,
ficava mais clara, perdia o bolor, permitia ver as veias, os
ossos. E ele, que era s um homem belo e necessrio, no
viu nada daquilo, seno compreenderia.
Com a passagem dosdiasfoi tendo idiase dores, o problema
dasmoscassimplificava-se. Ia sofrendo, perdia peso, seu corpo
no apaziguava olhares, sua geometria havia sido ignorada.
Ela era s a ausncia do homem que desejava, e que desejava
sexualmente. No t-lo era obrigar-se fome, a si mesma.
Lambia-se.
A menina, esquecida, ficou livre.
Jair Corgozinho
professor de literatura e mestrando em literatura brasileira pela
Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG); foi secretrio e presidente do conselho editorial da
revista Orob
40 Cul t - maro/2001 40
GavetadeGuardados
.'' ''.' '.''
'/'' '''
I
Estendo as mos, gesto instvel que procura captar o astro
que se desloca em atividade. Como um cometa, passas em
curvatura, tangenciando meu corpo, brilhando e
desaparecendo, deixando atrs de ti a poeira que guardo
como etreo trofu. A janela, porm, se mantm aberta,
espera de uma nova revoluo dos cus que te traga de
volta e junte p e alma em um mesmo ser.
II
As pernas prolongam-se em direo ao oceano, elementos
gmeos que viajam paralelos e que se fundem no
momento final. Abrem-se ngulos, redesenham-se catetos,
torturam arestas. Na pele que se enruga esperando as
guas, h o eterno gesto de se doar e de receber o que o
planeta te oferece, vastos mundos em mutao.
III
As linhas traadas no levam a nenhuma parte e a todas.
Em teu labirinto, confundes e afagas aqueles que ousam
cruzar teu umbral. Anjo tatuado, deixas de lado as asas e
crias escamas, subjetivo ser aqutico, que se movimenta
em espasmos rumo ao abissal esconderijo onde preservas
tua prpria imagem.
IV
Alongada, a serpente distende suas vrtebras em direo
margem, esguia entidade que a tudo domina. Ser ances-
tral, inspirador de pecados, no tem mais o Paraso como
morada, nem as patas para a ao. Possui apenas a
sensualidade dos movimentos rasteiros e a eternidade para
se fazer perdoar.
V
O pssaro abre suas asas na areia, ser (re)desenhado no
trao sutil. Diagrama, criatura rupestre, linhas
entorpecidas pelo calor. A criao est pronta, ser alado,
mas se recusa a voar. Planar para qu?O cu no
distncia intangvel, e sim inspirao. Com os olhos
prontos, criamos nosso prprio cu. Voar, ento, apenas
detalhe.
VI (So Tom das Letras)
Tua cidade erguida em pedra guarda segredos que no so
apenas teus. Duvidas de qu?Tens a totalidade do tempo,
a rocha fria escalavrando caminhos, paisagens outras que
te levam adiante. Duvidas de qu?Tuas palavras escritas
em signos, mensagem eternamente encravada nas
montanhas do teu olhar.
VII
Parte de ti memria. Outra, indeciso. Enquanto
insinuas tua revelao, contando a poucos tua histria,
guardas no olhar fragmentos de tudo o que presenciaste.
Envelhecemos e aprendemos na lembrana
compartilhada, o medo inoculando pesadelos. O passado
fustiga, lmina a escorregar na pele. Precisa inciso.
Marcello Rollemberg
jornalista, crtico literrio, tradutor e poeta, autor de Ao p do
ouvido (edio independente), Corao guerrilheiro (Scortecci &
Hayashi Editores) e Encontros necessrios (Ateli Editorial),
atualmente diretor de redao do Jornal da USP. Os poemas
inditos publicados nesta seo integraro a antologia 36 Poetas
brasileiros, organizada por lvaro Alves de Faria, que ser lanada
no final deste ano em Portugal.
42 Cul t - maro/2001 42
. e /
VozeS
Contin
../ . . / /./ . .
o///..
Fste o tema da prxima
$emana da Francofonia -
encontro que acontece simultaneamente
em vrios pases do mundo para discutir a
cultura expressa na lngua de ^ontaigne
e Rousseau. Promovido em $o Paulo
pelos consulados de Blgica, Canad,
Frana e $ua, o evento pretende fugir a
defesa pura e simples das tradies
nacionais desses pases, procurando fazer
do dilogo entre francfonos e brasileiros
um emblema da diversidade num mundo
globalizado, que tende a homogeneizao
cultural e ao monolingismo.
Tanto assim que a $emana da Franco-
fonia, que acontece entre os dias !u e !-
de maro, trar a $o Paulo escritores de
pases como Angola, $enegal e Costa do
^arfim - num movimento de incluso
de vozes africanas nesse dilogo entre
francfonos e lusfonos de Furopa e
Amrica. Fsse encontro se dar principal-
mente no dia !u, no debate c ,/ . //.
/.. /o .:, reunindo o romancista e
socilogo angolano Pepetela (autor de
M.,.o/, 1./. e 4 .. /. /./.), o
escritor Ahmadou Kourouma, da Costa do
^arfim (autor dos romances 4//./ ` /.
.// e E ./. / .. / / ./..),
e o romancista senegals Abasse Ndione
(autor de R.o.. e L. . /./).
Tambm participam do encontro dois
brasileiros: o poeta e tradutor Nelson
Ascher (c ./. /. .:. e 4/. / ./) e o
escritor ]uliano Garcia Pessanha (.//..
/. /. e I.. /. o/).
Dentro desse mesmo esprito, a revista
CLLT participa da $emana da Francofonia
apresentando um texto indito de Albert
Camus: a conferncia que o autor de c
.. apresentou em Recife em 1-,
com o ttulo c . .. /... Desco-
nhecido at hoe, esse texto, que trata dos
engaamentos polticos de intelectuais e
artistas (tema recorrente no ps-guerra),
foi recuperado dos arquivos do I../ /.
c.oo. pelo ornalista pernambucano
^rio Hlio e ser apresentado no mbito
da palestra 4// c.o/ . /
. - na qual se discutir a presena
do Brasil em sua obra (naturalmente
marcada por outros dois continentes: a
Africa de sua Arglia natal, e a Furopa de
sua filiao intelectual francesa).
Outro destaque da programao o show
em homenagem ao poeta e compositor
Boris \ian (1!u-1) - um dos cones
da era existencialista, amante do azz, autor
de quatro romances e do livro de poemas
I ..//. /. . (publicado
postumamente em 1o!). O show 8.
!. P.o. . - no qual so
apresentadas declamaes de poemas e
msicas da antologia homnima recm-
lanada pela Nankin Fditorial - estar em
cartaz a partir de 1- de maro e oferece
preos promocionais, no dia !!, para o
pblico da $emana da Francofonia.
\ea na pgina ao lado o programa
completo do evento.
I
de
maro/2001 - Cul t 43
Encontro entre culturas
de lnguas francesa e
portuguesa traz a So
Paulo escritores de
Angola, Costa do
Marfim e Senegal
enteS
F H C H = =
!! -
.
/.
!/ - ALANA FRANCF$A ]ardim Amrica
R. Bela Cintra, 1.! - Tel. (11) !uo! -
Palestra: 4// c.o/ . /
. /.o ./..
/. ./. /. /.//. /.
4// c.o/ o R/ o !-,,
por ^anuel da Costa Pinto (revista
CLLT).
"! - ././.
!/ - ALANA FRANCF$A Centro
R. General ]ardim, 1! - Tel. (11) ! u!!
Fxposio de livros da Livraria Francesa,
doao pelo Consulado Geral da $ua de
livros a Biblioteca da Aliana Francesa.
!!/ - ^F$A-RFDONDA:
4 /./. .o/.. /. /./ / ///. /..,
4 /./. .o/.. /. /./ / ///.
/.//.
Participantes: Walter ^oser (Lniversidade de
^ontral), Pierre Guisan (LFR]), Benamin Abdala
]r. (L$P).
! - -
.
- /.
!/ - FNAC
R. Pedroso de ^orais, - Tel. (11) !u-uu!!
^esa-redonda: I../.. //./..
E/.. ///. / .:
Participantes: Benamin Abdala ]r. (L$P), Pierre
Guisan (LFR]), ^anuel da Costa Pinto (revista
CLLT), ]elssa Avolio (PLC-$P), Roger $idokpohou.
^oderao de $erge Borg (Aliana Francesa).
``/ - BAR DRFCTOR`$ GOLR^FT
Al. Franca, 1.! - Tel. (11) !uo--
Noite tecno com a D] $uzy $even.
! -
.
/.
`!/ - +). 6-)64 ,5 5)6;45
Praa Roosevelt, !1- - Tel. (11) !-o!- - \. Buarque
Fntrada: Rs 1u,uu e Rs ,uu /.o . ..-/..o.,
$how a partir do livro 8.
!. P.o. .
(Nankin Fditorial), com
Letcia Coura (canto), Beba
Zanettini (piano), van Cabral
(declamao) e \tor da Trindade (percusso).
! -
.
- /.
!!/ - LYCFF PA$TFLR
R. \ergueiro, !. - Tel. (11) - !!
^esa-redonda: c ,/ . /../..: .
,/ /o. //./..:
Participantes: Lothar \ersyck (Cnsul Geral da
Blgica), Aguinaldo Rocha (Cnsul Geral Honorrio
de Cabo \erde), ]ean-^ichel Roy (Cnsul Geral do
Canad), David Paurd (Cnsul Geral da Frana),
Hermann Buff (Cnsul Geral da $ua), Pedro Kassab
(Diretor Geral da Fundao Liceu Pasteur) e outros
convidados.
!/ - L\RARA CLLTLRA
Av. Paulista, !.u! - Tel. (11) ! -u!!
Caf filosfico com apoio da I.//. / P.//.
^esa-redonda: c ,/ . //. /.. /o .:
Participantes: Ahmadou Kourouma (Costa do
^arfim), Pepetela (Angola), Abasse Ndione ($enegal),
Nelson Ascher e ]uliano Garcia Pessanha
(Brasil). ^oderao de $onia
Goldfeder.
Apresentao da coleo
L.// de fico contempornea
dos pases e das regies de lngua francesa por Angel
Boadsen, editor da Fstao Liberdade.
Da esquerda para
a di rei ta, i magens
de Argel , Reci f e
e Pari s
trs
44 Cul t - maro/2001 44
` , ' ' J /
L
a
u
r
a
C
a
r
d
o
s
o
P
e
r
e
i
r
a
Pasquale Cipro Neto Pasquale Cipro Neto Pasquale Cipro Neto Pasquale Cipro Neto Pasquale Cipro Neto
professor do Sistema Anglo de Ensino, idealizador e
apresentador do programa Nossa L ngua Portuguesa, da TV
Cultura, autor da coluna Ao P da Letra, do Dirio do G rande
ABC e de O G lobo, consultor e colunista da Folha de S. Paulo
O SI, \IIHO DI CIIIIA (2)
Na CLLT -!, tratamos de um dos
tantos pontos delicados do ensino e do
estudo do portugus padro: a flexo do
verbo nos casos em que a ele vem associada
a palavra se". \imos que nos vestibulares
de instituies importantes (Lnicamp e
L$P, entre outras), de cua elaborao ima-
gina-se participem os departamentos de
letras das prprias universidades, no faltam
demonstraes de acato ao que estabelece a
gramtica normativa a partir de inmeras
ocorrncias na lngua culta.
Direta ou indiretamente, essas institui-
es adotam como padro a obrigatoriedade
da flexo do verbo em construes como
Ao se discutirem as idias expostas", ou
...no qual se lem, entre outras, as infor-
maes...", tidas como passivas sintticas
pela gramtica normativa.
Bem, este texto tem o nmero !, por-
tanto est na hora de continuar o anterior.
\amos l. A certa altura do ltimo artigo,
fiz uma ressalva importante: ...a indeter-
minao do agente (do agente, no do su-
eito)...". Parece bom explicar o que isso.
No h brasileiro que nunca tenha ouvido
esta definio: $ueito aquele que pratica
a ao". A ser real, a tese estabeleceria que
todo verbo que tem sueito expressa ao.
Fm O filme bom", por exemplo, dir-se-
ia que o filme (sueito da orao) pratica a
ao de ser bom. Fm O menino apanhou
da me", o menino praticaria a bizarra ao
de apanhar.
F bvio que sueito no isso. A eti-
mologia nos explica que sueito vem do latim
subectu" (posto debaixo", base"). O
sueito o assunto, ou sea, o termo da
orao a respeito do qual se enuncia algo.
Fm outras palavras, o sueito aquele ou
aquilo a que se atribui a declarao contida
no predicado. $e o predicado se refere ao
sueito e o verbo faz parte do predicado, o
verbo se refere ao sueito, o que permite
simplificar a definio: sueito simples-
mente o termo com o qual o verbo concorda,
como gosta de dizer mestre Francisco Achcar.
O que se afirma erroneamente a respeito
do sueito pertinente em relao ao agente.
F ele o tal do praticante da ao. Na voz
ativa, o sueito x, e o agente tambm x. Na
voz passiva, o sueito x, mas o agente y.
Fm A poesia deste momento inunda minha
vida inteira", por exemplo, a poesia deste
momento" sueito e agente, em ^inha
vida inteira inundada pela poesia deste
momento", o sueito minha vida inteira",
mas o agente a poesia deste momento".
Como vimos na edio anterior, a
gramtica normativa considera passivas
oraes como Aceitam-se encomendas" ou
Fncomendas so aceitas". O se" da pri-
meira orao classificado como partcula
apassivadora". O sueito (passivo) dos dois
exemplos encomendas". O agente (repito:
o agente'), ou sea, aquele que aceita, no
explicitado, por isso classificado como
indeterminado.
] em No Brasil, no se cuida das
crianas", a voz ativa. Com verbos que
exigem preposio (de", nesse emprego de
cuidar"), no se pode fazer passiva em
portugus. O agente (aquele que executa o
processo expresso pelo verbo cuidar")
to indeterminado quanto o de Aceitam-se
encomendas", mas agora estamos na voz
ativa, em que (no custa repetir) o sueito e o
agente coincidem. F por isso que a gramtica
normativa considera indeterminado o sueito
desse tipo de orao, e ndice de indetermi-
nao do sueito" o pronome se". O verbo
se mantm fixo na terceira pessoa do singular,
que no h sueito determinado, o que
tambm ocorre em Trata-se de casos
graves" ou Confia-se em teses absurdas".
Como vimos, muitos dos que defendem
a obsolescncia da obrigatoriedade de
concordncia do verbo na chamada passiva
sinttica usam como argumento a efetiva
prtica lingstica oral e cotidiana brasileira,
em que so correntes construes como
Conserta-se relgios" ou Aluga-se casas".
Alguns chegam a ostentar como estan-
darte dessa tese o antolgico poema Catar
feio", de ]oo Cabral de ^elo Neto. Fm
muitas edies das obras do mestre pernam-
bucano, l-se isto: Catar feio se limita com
escrever:/ /..- os gros na gua do algui-
dar/ e as palavras na da folha de papel...".
Lma leitura mais atenta de outros poe-
mas de Cabral (exigncia mnima quando se
adota metodologia cientfica sria), no entan-
to, permite ver algo como As avenidas do
centro,/ onde .o os ricos..." (em
M. !/. ..) ou como Fnto, da
praa cheia/ que o canavial a imagem:/
.o- as mesmas correntes..." (em O
vento no canavial").
F no mnimo intrigante ver que o poeta,
com seu conhecido rigor formal, agiu
diferentemente em casos semelhantes. Por
que respeitou a norma" em vem-se
correntes" e em onde se enterram os ricos"
e no a teria respeitado em oga-se os
gros": A resposta do prprio Cabral e de
sua mulher, ^arly de Oliveira. Fm c/.
c.o//., da Nova Aguilar (1), l-se
I..o- os gros...". Ah' a esquecendo.
A publicao organizada por ^arly, com
assistncia do autor.
Para terminar, Drummond: (...) A gra-
videz eltrica/ no traz delquios./ Crianas
alrgicas/ trocam-se, reformam-se. H uma
implacvel/ guerra as baratas./ c..o- his-
trias/ por correspondncia" (em Nosso
tempo"). Drummond e Cabral, como se v
e sabe, so exemplos de sintaxe retrgrada,
conservadora...
Posto isso, s me resta repetir o que
afirmei na ltima edio e em outros textos:
preciso acabar com a esquizofrenia...
Chega' F desnecessrio repetir.
At a prxima. Lm forte abrao.
Pasquale Cipro Neto
e C U L T
80l000f
O fi l sofo al emo Marti n Hei degger ( 1889- 1976) no poo de sua cabana em Todtnauberg,
em i magem de reportagem fotogrfi ca real i zada em 1968 para uma entrevi sta hi stri ca
concedi da revi sta Der Spiegel em 1966 e publ i cada uma semana aps sua morte
46 Cul t - maro/2001 46
8 0 l 0
l
m um texto de 1o no qual
homenageava os oitenta anos de
^artin Heidegger, Hannah Arendt
escreveu que h pensadores que com seu
prprio pensar contribuem decisiva-
mente para a determinao da fisiono-
mia espiritual" de uma poca. Fla tinha
em mente a rara possibilidade de que a
pura atividade de pensar pudesse abarcar,
definir e mesmo transcender os contornos
espirituais do momento histrico de onde
ela emergiu. Pensadores como Hei-
degger no apenas respondem a pro-
blemas e tendncias tericos de sua poca,
mas, ao pensar o ainda impensado de
maneira radical, em muito ultrapassam
resultados e concluses obtidos por seus
contemporneos e predecessores. Hei-
degger foi um dos maiores filsofos do
sculo XX, o ltimo a conferir a filosofia
um papel exclusivo na interpretao
crtica do presente e da prpria histria
ocidental, colocando-se assim na esteira
de Hegel e Nietzsche. Fntretanto, quem
pensa grande tambm se expe ao risco
de, eventualmente, errar na mesma
proporo, como aconteceu com o
prprio Heidegger.
A histria da vida de um pensador
eminente cua traetria viu-se marcada
momento, o livro de Rdiger $afranski,
H/ - Uo o /. 4/o./.
. /o . o./, publicado agora pela
Gerao Fditorial, com direito a um
bonito texto de apresentao de Frnildo
$tein.
No sbrio ttulo do original alemo,
E M ./ D///./ H/
// Z (Lm mestre da Alemanha:
Heidegger e seu tempo"), $afranski
explicitava seus obetivos: tratava-se de
descartar o carter polmico ou mesmo
panfletrio dos estudos anteriores e de
avaliar a obra e a vida de um mestre,
referindo-as ao seu lugar de origem e ao
seu prprio tempo. A tarefa a que ele se
propusera era difcil e cheia de riscos:
como evitar que o comentrio sinttico
das principais obras de Heidegger no
enveredasse pelos caminhos tortuosos da
mera banalizao simplificadora ou do
esoterismo acadmico, alternativas dif-
ceis de se escapar em um livro dessa
natureza: Fm outras palavras: como
tornar uma biografia filosfica inte-
ressante tanto ao especialista em filosofia
quanto a um pblico mais amplo:
$afranski enfrentou o desafio com
estilo e erudio e da se originou um livro
no qual se entrelaam vida e obra, sem
pelo breve engaamento poltico no
movimento totalitrio nacional-socialista
constitui por si s uma fonte de grande
perplexidade e controvrsia: como com-
preender a adeso de Heidegger ao
partido de Hitler: Questo espinhosa que
atravessou o sculo XX e que dificilmente
deixar de incomodar. Por certo, Hei-
degger teria apreciado que dissessem dele
apenas aquilo que ele mesmo dissera de
Aristteles, isto , que ele nascera, tra-
balhara e morrera. Fm seu caso particular,
entretanto, isso no seria possvel.
Foram apenas onze meses como
Reitor da Lniversidade de Freiburg,
entre maio de 1!! e abril de 1!-, mas
esses foram meses que abalariam pro-
fundamente o universo acadmico, a
ponto de suscitar ainda hoe uma profuso
de interpretaes, crticas e apologias,
sobretudo depois que \ictor Faras
publicou H/ . .:o., em 1.
No seu rastro vieram, entre outros, os
estudos de Hugo Ott, M. H/
Uv :/ 8..//, de 1, e
de Franois Fdier, H/ 4..o.
/ /o /./., do mesmo ano. Pouco
depois, em 1-, surgiu na Alemanha
aquela que possivelmente a melhor
biografia intelectual do filsofo at o
Andr 008fl0
8 0 l 00
/e/Jeer Jm me:|re Ja
^/eman/a en|re o cem e o ma/
Pdiger Saranski
Traduao de Lya LuI
Geraao LdiIorial
Iel. !!/J8720984
S20 pags. P$ 4S,00
80l000f
A IAK JAF
maro/2001 - Cul t 47
0 0
que amais se pretenda explicar a obra
pela vida ou apagar a vida e suas
contradies em nome da pureza da obra.
$em apresentar nenhum fato novo sobre
a vida de Heidegger e, principalmente,
sobre seu envolvimento com o nazismo,
a obra de $afranski tem o mrito de
apresentar interpretaes cuidadosas da
filosofia heideggeriana, alm de uma
reconstruo competente das principais
tendncias espirituais em relao as quais
o filsofo se posicionou durante sua longa
vida. Por certo, os estudiosos da obra de
Heidegger no encontraro novidades ao
longo das suas quinhentas pginas, muito
embora as formulaes teoricamente
precisas e elegantes de $afranski
ofeream contribuies sugestivas. Alm
disso, as espirituosas correlaes
estabelecidas ao longo do livro valem a
sua leitura, tais como a analogia entre a
famosa disputa filosfica entre o rebelde
Heidegger e o liberal Cassirer, ocorrida
em Davos no ano de 1!, e os debates
entre Nafta, o esuta antiiluminista, e
$ettembrini, o humanista esclarecido,
personagens clebres da M../.
o.., que Thomas ^ann escrevera
havia apenas cinco anos e ambientara no
mesmo local.
O livro especialmente recomen-
dvel a quem busca uma boa introduo
aos problemas e conceitos com os quais
Heidegger trilhou seu longo caminho
de pensamento. Caracterizando o estilo
do pensar heideggeriano dos anos !u
como uma encenao dadasta na
filosofia", o autor ilustra os principais
temas e motivos em torno dos quais este
se movia ento: a crtica impiedosa a
mera ilustrao filosfica, sinnimo de
uma cultura oca e de sublimidade apenas
aparente, em nome de uma atitude terica
inovadora, capaz de conugar a fria
conceitualidade abstrata" a uma forte
concretude emocional", inspirando
inquietao em seus leitores e ouvintes,
a exigncia de que a filosofia proceda ao
estranhamento do que mais prximo e
comum, de modo a revelar a fragilidade
da rede de sentidos que estrutura a vida
cotidiana, em suma, a compreenso da
filosofia como um exerccio metdico de
inquietao intensificada", a qual deve
preparar o instante da ruptura do
.//o do tempo e a repetio de uma
experincia primordial. $afranski
observa que, se nesta revoluo do
pensamento filosfico Heidegger no
est sozinho, ele tambm no se faz
acompanhar apenas pelos chamados
revolucionrios conservadores, como
]nger e $chmitt, mas tambm pelos de
esquerda, como Frnst Bloch e Walter
Benamin.
Outro mrito do livro o de que ele
permite compreender a lenta maturao e
transformao dos conceitos heideg-
gerianos. Fm seus captulos iniciais,
acompanhamos o desenvolvimento da
reflexo de Heidegger e seu progressivo
afastamento em relao a esfera de
influncia do pensamento catlico, rumo
a uma forma bastante peculiar de
filosofia da vida" a qual ele imps os
rigores da anlise fenomenolgica hus-
serliana. \emos ento como o ovem
assistente de Husserl comeava a ensaiar
a sua futura rebelio, ao afirmar que em
nossa ' vivncia do mundo em torno
(Uov///)` s estamos teoricamente
orientados por exceo". Fmpregando o
conceito de vivncia primordial",
oriundo de Dilthey, Heidegger procurar
chamar a ateno para o modo como os
entes nos so dados cotidianamente em
um mundo circundante sempre tramado
de sentidos, antes mesmo deles se tornarem
obetos para uma conscincia que os avalia
teoricamente. Com essas reflexes,
0
R
e
p
r
o
d
u
o
0 0
Je .'
e'' | e'eJ'
,e 'e ,Je eJJ
'ee eJ' ``
J ee e ,Je ' e
| , J ,Je ,ee e
J ' 'e e'
ee e J| e'
e J e
8 0 l 0
Heidegger elabora o embrio daquilo
que, posteriormente, o levar a distino
conceitual entre o ente a mo ou dispo-
nvel (://./) e o ente simplesmente
presente (.././), bem como a sua
radicalizao do conceito de intencio-
nalidade, peas-chave na arquitetura de
1o/..
$afranski analisa ainda os conceitos
de vida ftica", preocupao" (.) e
existncia", descobertas do curso sobre
Aristteles datado do inverno de 1!1/
!!, com as quais se prenuncia a futura
distino entre a existncia, pensada
como modo de ser do ente que ns mes-
mos somos, isto , o ente que acessvel
para si mesmo" no horizonte temporal
de suas preocupaes mundanas, e os
entes que esto simplesmente presentes
no mundo. Do curso de 1!!, intitulado
c./.. - Ho/. /. /././,
vem a idia de que a filosofia tem de
espreitar a existncia humana em sua
tendncia para decair" de si mesma,
fugindo" no de um suposto eu
verdadeiro, mas da inquietao"
fundamental que habita o homem e da
qual ele se desvia ao agarrar-se as ms-
caras talhadas pela interpretao pbli-
ca" de si e de tudo o que , noes que se
tornaro fundamentais na grande obra
ainda em gestao. Acrescente-se a tudo
isso a noo de historicidade" fun-
damental e estaremos as portas de
1o/., sumariado no captulo . Trata-se
de um texto claro e bem estruturado, mas
que se v preudicado pelo fato de que a
traduo apaga a distino fundamental
entre as disposies" do medo (I//)
e da angstia (4). $egundo Heidegger,
enquanto o medo ainda apresenta um
referente externo mais ou menos
identificvel, do qual se pode dizer que
temvel - o medo sempre transitivo -,
na angstia esse referencial desaparece
por completo e ela se torna um afeto
intransitivo: ela se instaura e no se refere
a nada. No se trata de uma distino
irrelevante, pois na conferncia com a
qual Heidegger assumiu definitivamente
a cadeira de Husserl em Freiburg, c ,/
. M.//.:, a angstia seria
tematizada ustamente como a disposio
que d acesso ao nada, questo que muito
ocuparia o filsofo da por diante.
Tambm digno de meno o
comentrio a respeito da obsesso
heideggeriana pelo questionamento do
ser, que se estende por mais de cinqenta
anos de reflexo incessante e unifica o
pensamento de 1o/., de 1!, ao
das obras que aparecem aps a c.. ./
. H/o.o., de 1-o. Para o chamado
primeiro" Heidegger, reavivar a questo
do ser implicava descongelar e perfurar
os modos ritualizados e enriecidos com
os quais o homem se esquece de que ele
a sua possibilidade e no apenas mais um
ente real. Quanto ao chamado segundo"
Heidegger, para o qual o pensamento
agora pensamento do ser", no sentido
de que o prprio homem que se v
interpelado e em correspondncia com o
ser em sua ex-istncia histrica, persistir
no questionamento do ser significava
reconhecer as determinaes historiais do
atual ogo do mundo". sso tambm
significava recobrar o sentido da pos-
sibilidade de sua superao em um novo
comeo", no evento" de uma nova con-
figurao das relaes entre o homem e
tudo o que , para alm da violncia
tecnicista do presente. Pode-se ento
dizer que, para Heidegger, o problema
do ser sempre um problema da
liberdade".
No entanto, como no poderia deixar
de ser, o cerne do livro diz respeito a
avaliao da relao entre Heidegger e o
nazismo. $afranski acompanha a lenta
configurao das mltiplas circuns-
tncias que se cristalizaro no engaa-
mento heideggeriano de 1!!, tais como
o antimodernismo de influncia catlica,
particularmente forte nos anos de sua
uventude e de formao intelectual, a
Fotos/D i vulgao
48 Cul t - maro/2001 48
0 0
crise poltica e econmica que assola
quase todo o perodo da Repblica de
Weimar e que agravada a partir de 1!,
o anti-semitismo declarado de sua espo-
sa, alm da expectativa por uma soluo
poltica autoritria capaz de pr termo
ao politesmo dos valores conflitantes
entre si.
Fntretanto, essas so apenas circuns-
tncias bem conhecidas e documen-
tadas, e se Heidegger as compartilhava
com boa parte de seus concidados, ne-
nhuma delas foi realmente determinante
em sua deciso. Aqui desponta o aspecto
fundamental e mais original das anlises
de $afranski, que demonstram como tais
circunstncias se austaram perfeitamente
as exigncias internas do pensamento
heideggeriano de meados dos anos !u,
que exigia da filosofia que ela estivesse a
altura de agarrar e dominar" o seu
presente. Determinou-se assim o mau
encontro que levou Heidegger, que entre
1!1/!! se ocupara de um seminrio
sobre a R////. de Plato, no qual
analisara detidamente o mito da caverna,
a enxergar na revoluo nacional-
socialista o to esperado momento de
libertao das iluses modernas do
liberalismo e do comunismo.
Heidegger no aderiu ao nazismo
porque tivesse se tornado anti-semita,
acusao que ele repele com veemncia
ao responder a uma carta que Arendt lhe
escrevera em 1!!, como se pode ler na
recm-traduzida correspondncia entre
ambos pela editora Relume-Dumar. Fle
tambm no se engaou porque fosse um
oportunista poltico, vido por iniciar
uma poderosa carreira pblica, muito
embora tambm no se sustente a tese que
ele prprio defender diante do comit
de desnazificao, em 1-, isto , a de
que aceitara participar do regime para
preservar a autonomia da Lniversidade
e impedir que algum esprito medocre
se apossasse dela. Para $afranski, e nisso
reside o aspecto dramtico da questo,
Heidegger politizou os conceitos de
1o/. porque o nacional-socialismo lhe
inspirou idias filosficas, as quais,
entretanto, em nada correspondiam ao
nazismo realmente existente, ocasio-
nando assim aquela estranha fuso de
intenso arroubo metafsico a extrema
cegueira filosfica e poltica. At meados
de 1!o ele ainda acreditou no potencial
transformador do regime de Hitler, no
entanto, durante os seminrios sobre a
filosofia de Nietzsche, que entrementes
fora tornado o filsofo oficial do Terceiro
Reich, Heidegger finalmente percebeu
que o nazismo no era o antdoto, mas
sim uma manifestao extrema dos mes-
mos males aburados por ele entre russos
e americanos: violncia tecnolgica sob
a forma do planeamento calculado e
disciplinado do todo dos entes. A partir
da, seus cursos passam a ser vigiados
pela Gestapo.
A despeito das vrias declaraes te-
ricas nas quais transparecem suas crticas
ao regime de Hitler, a ausncia de uma
declarao pblica de desculpas marcaria
indelevelmente o modo como o filsofo
seria tratado posteriormente. Com-
preende-se que se tenha exigido dele uma
tal retratao, mas tambm no se pode
deixar de compreender o seu silncio:
desculpar-se tambm significaria ter de
assumir responsabilidade direta pela
morte de milhes de udeus, o que lhe
parecia impertinente e absurdo.
Para concluir, resta lamentar o imenso
descuido com que este livro foi tratado
pela editora, que parece ter ulgado
desnecessrio revis-lo antes de entreg-
lo ao pblico. De imediato, o melhor que
se pode esperar uma segunda edio
revisada, e mais ateno para com o
prometido volume sobre Nietzsche,
tambm de autoria de $afranski.
Andr Duarte Andr Duarte Andr Duarte Andr Duarte Andr Duarte
professor do Departamento de Filosofia da Universidade
Federal do Paran e autor do livro O pensamento sombra da
ruptura: Poltica e filosofia em Hannah Arendt (Paz e Terra)
Da esquerda para a di rei ta, Rdi ger Safranski ,
Ernst Bl och ( 1885- 1977) , Ernst Cassi rer
( 1874- 1945) e Wal ter Benj ami n ( 1892- 1940)
maro/2001 - Cul t 49
50 Cul t - maro/2001 50
8 0 l 0
1. l080 08 8l@0ll880 08 00l88
o seu famoso ensaio Das Ding"*,
Heidegger atribui a cincia
moderna a aniquilao da coisa".
Que significa isso: No a exploso do
mundo, ocasionada, por exemplo, pela
bomba atmica. Aniquilar a coisa no
o mesmo que destruir coisas singulares.
De que se trata, ento: Heidegger pre-
para a compreenso da sua tese por meio
de uma comparao. No cotidiano,
presenciamos uma arra como coisa
quando a enchemos, e encher uma arra
significa deixar correr um derramamento
na arra vazia. O que faz a arra ser um
vasilhame no a matria slida de que
ela feita, mas o oposto desta, o vazio.
Por outro lado, na viso da cincia,
encher
uma arra um assunto totalmente
diferente: trata-se de trocar um enchi-
mento (o ar) por um outro (um lquido),
num recipiente de paredes impermeveis.
Aqui no h a arra, o vasilhame. Na exata
medida em que no admite a coisa como
padro do que h, a cincia faz da coisa-
arra algo nulo". O contencioso de
Heidegger com a cincia no diz respeito
aos entes, mas ao sentido e a verdade do
ser dos entes como tais no seu todo. A
diferena que est em ogo ontolgica,
no ntica.
8
(/ ) ee ,J|' e
J''e `e'e 1'~ ,, 1a1c1
Heidegger chama o sentido do ser
privilegiado pela cincia de armao"
(G//), os entes armados de constan-
teaes" (8./) e a ao de armar, o
modo de desocultamento privilegiado
pela modernidade, de instalao perse-
guidora" (.//// 8//). A cin-
cia aniquila no sentido de deixar-ser
apenas por instalao, e de nenhuma outra
maneira. Fla v os entes como constan-
teaes e no como coisas. No se afirma
que a cincia estea cega. A cincia v os
entes, e muito bem, mas to-somente
como efeitos de causas, como pro-ce-
dncias (H-./) de um processo de
efetivao, como obetos postos. A coisa
enquanto coisa permanece oculta (.-
/.). No isso ou aquilo, mas a coisa-
lidade (/ D/) mesma da coisa no
chega a se mostrar, nem a ser falada. O
ser, a presena, a essenciao (/ !/)
da coisa enquanto tal anulada.
Fsse modo de lidar com a presena
no foi nem poderia ter sido elaborado
pela cincia moderna ela mesma. F uma
herana da metafsica grega. ^as a
metafsica tampouco est em condies
de se perguntar pelo sentido e pela
verdade do ser dos entes como coisas, visto
que, desde a Antigidade grega, ela foi
desocultando o ente como algo meramen-
te presente, como mera presentidade"
(/. !././), e no como coisa. Nos
nossos dias, esse esquecimento metafsico
chegou ao seu estgio terminal: a pre-
sena dos entes passou a ser assunto
exclusivo da produo tecnolgica no
quadro das instituies de indstria e
comrcio.
Z. 00l88 8 @080fl0800
Haveria como ultrapassar o deixar-
ser cientfico: Qual o mundo em que
podem existir entes que no seam
meras instalaes: No surpreenderia
algum pensar que a soluo consiste
em voltar ao mundo do mito e da poe-
sia. A idia seria que o modo de deixar
ser . /. que permite haver coisas,
procurado por Heidegger, existiu,
num passado longnquo - um deixar ser
antigo, posteriormente rechaado e
esquecido. Nessa interpretao, Hei-
degger no estaria fazendo mais do que
lamentar o fato, constatado por ^ax
Weber, de que a racionalidade moderna
vai progressivamente desenfeitiando
o mundo.
H, sem dvida, um momento ar-
queolgico no modo de pensar de Hei-
degger. Fle recorda que a palavra alem
antiga para a coisa, / ou /, significa
reunio para fins de tratar de um caso
litigioso. Heidegger lembra ainda que o
sentido originrio da palavra latina
aquilo de que se fala, de que se trata na
8 0 l 0
Ze|jko l08fl0
5>HA =
@= ?EI=
8l@0ll880
maro/2001 - Cul t 51
0 0
vida pblica. Lma outra palavra com o
mesmo significado ./., que no se
referia inicialmente aquilo que produz
efeitos, mas ao caso em pauta, ao que est
em disputa, num sentido aparentado ao
que est preservado em portugus nas
expresses tais como causa pblica" ou
causa urdica". O termo / presta-
se, portanto, muito bem a traduo de
e de ./. latinos.
Teramos aqui, na etimologia das
palavras da linguagem comum, uma sada
libertadora do pensamento da cincia
moderna sobre a coisa: A resposta no.
A pergunta heideggeriana pela coisa no
arqueolgica. A sua arra no uma .
F verdade que o termo nomeia aquilo
que concerne o homem dessa ou daquela
maneira. A concernncia (4.) a
.//./ da . No entanto, os romanos
amais pensaram essa experincia de
realidade como tal, tematizando o seu
modo especfico de se essenciar. Fm vez
disso, escreve Heidegger, a ./. da
foi representada, sob influncia da
filosofia grega tardia, no sentido do
grego, , em latim, , que significa o
que presente no sentido de pro-cedente
das causas. A virou , o presente, no
sentido de algo produzido e representado.
A ./. prpria da tal como foi
experienciada originariamente a maneira
romana, a concernncia, foi soterrada e
permaneceu impensada como essncia do
presente" (p. 1-).
O mesmo processo de ontologizao
aconteceu com a / alem na dade
^dia. Fm conseqncia, ficaram
esquecidos os sentidos originrios do ser
dos entes distintos de meras presen-
tidades. Nem por isso lcito dizer que
esses sentidos esquecidos permitem pen-
sar a presena da coisa heideggeriana.
Lma arra", escreve Heidegger, no
uma coisa nem no sentido da pensada
a maneira romana, nem no sentido do
representado a maneira medieval, e
menos ainda no sentido do .//. repre-
sentado modernamente" (p. 1o, itlicos
meus). Fsses conceitos no abrangem o
sentido do ser das coisas que Heidegger
tem em vista, que as coisas em geral
nunca puderam manifestar-se ao pensa-
mento como coisas" (p. 1o). Nunca
houve, portanto, uma coisa tal como a
arra heideggeriana. Fla permanece
essencialmente inacessvel a qualquer
busca do tipo arqueolgico e no pode
ser escavada em lugar nenhum. $endo
assim, a filosofia inteira, antes de
Heidegger, amais tratou de coisas, mas
de presentidades. Para que, afinal, os entes
possam manifestar-se como coisas,
preciso que acontea uma outra verdade
. /. possibilitadora, um outro mundo.
Que verdade: Que mundo: Lma coisa
vem a ser, responde Heidegger, na ./.-
o//. (/. G) onde brincam,
espelhando-se uns nos outros, a terra e o
cu, os mortais e os divinos.
Como que Heidegger chega a uma
afirmao tal inesperada: Partindo da
observao, aludida anteriormente, de
que s nos damos conta de uma arra
como coisa quando a enchemos, e encher
uma arra o mesmo que deixar um
derramamento escorrer nela e ser rece-
bido pelo seu vazio. Como o vazio da
arra recebe o que derramado:, pergunta
Heidegger. Fle o acolhe" e o contm".
O derramamento recebido pode, em
seguida, ser vertido num oferecimento.
F nesse momento que se manifesta a
essncia mesma desse vasilhame: o ser
arra da arra consiste na oferta do vertido.
Pode ser uma bebida, pode ser gua ou
vinho. Na gua ofertada, demora-se a
fonte. Na fonte, demora-se a rocha e,
nesta, o sonho escuro da terra que recebe
do cu a chuva e o orvalho. Na gua da
fonte perduram as npcias do cu e da
terra." No s na gua. Flas duram
tambm no vinho que o fruto da vinha
d, no qual o nutriente da terra e o sol do
cu, um ao outro esto confiados". Lm
desdobramento anlogo mostra que, na
oferta da arra, perduram a sua maneira,
os mortais. A oferta do vertido a bebida
para estes. A arra mitiga-lhes a sede,
Foto de 1950 envi ada por Hei degger a Hannah Arendt
R
e
p
r
o
d
u
o
0 0
/ ' e 'eee e
e,e e,Jee e'
,Je e eJ e e' eJ e
|,e ,J Je
e ,J e' J,
J',e e e ,e'
,e e'
' e ''e'
52 Cul t - maro/2001 52
8 0 l 0
deleita seu cio, alegra seu convvio numa
taverna. As vezes, a oferta da arra ofer-
tada em consagrao, como libao aos
deuses imortais. Fnto, ela no estanca a
sede, ela se torna oferenda e sacrifcio.
Fssa descrio", inspirada em Hl-
derlin, permite a Heidegger um passo
decisivo: como o ser arra da arra est na
oferta da gua e do vinho e como, nessa
oferta, demoram-se o cu e a terra, os
mortais e os divinos, no ser arra da arra
//.o o cu e a terra, os mortais e os divi-
nos. Lma coisa tal como uma arra rene,
estancia (.v/) os quatro, no sentido
de aproxim-los, preservando, contudo,
as distncias entre eles. F ..
que Heidegger dir que a coisa /, que
ela coisa" dos quatro.
O coisar" dos quatro pela coisa no
poderia dar-se se estes no pertencessem
uns aos outros e no se antecipassem,
unificados numa quadrindade (G.),
a tudo que nesta se torna presente, a toda
coisa. A quadrindade , portanto, o mun-
do ou o . /. possibilitador dos entes
procurado por Heidegger. De que manei-
ra esto unidos os quatro na quadrindade:
No por uma estrutura csmica, mas -
aqui Heidegger surpreende de novo - por
um ogo, melhor, uma brincadeira (//),
a de espelhamento: cada um espelha a sua
maneira a essncia dos outros. Fsse espe-
lhamento no reproduo visual, e sim
uma iluminao que libera cada um para
o que seu. ndividuados desta maneira,
nenhum dos quatro teima em se separar e
em permanecer na sua particularidade.
A essa brincadeira de espelhamento que
une os quatro na simplicidade da sua
comum-pertena, Heidegger chama de
mundo". Na tentativa de caracterizar
melhor esse tipo de abertura, Heidegger
falar em quadrao (!/) que une os
quatro e dir que esta se d como uma
ronda (R). A ronda dos quatro a
roda (R) que gira e cuo girar inteira
os quatro na roda-mundo (/. G).
Agora podemos dizer o que possi-
bilita o ser-coisa da coisa: o coisar" da
coisa fundamenta-se na brincadeira de
espelhamento dos quatro da quadrin-
dade. nversamente, a coisa possibilitada
estancia os quatro unidos na simplicidade
da roda-mundo. A estncia dos quatro
inteira-se num in-stante: nisto, nessa coisa
(p. 1!). Fsta a verso heideggeriana
tardia da relao entre a verdade . /.,
possibilitadora, e o ente possibilitado, no
caso, a coisa. O que possibilita tais entes
um modo de abertura da presena (em
termos kantianos, um modo da verdade
transcendental): a quadrindade da terra e
do cu, dos mortais e dos divinos. A
quadrindade a roda-mundo que torna
possvel a coisa a qual, por seu turno, est
coisando" desta.
J. 0 00M0M 08 @080fl0800
Fssa foi a maneira que Heidegger
encontrou, seguindo o poeta Hlderlin,
de pensar o ser do ente no mais domina-
do pela armao. A alternativa heidegge-
riana para os entes enquanto constan-
teaes, corresponde um modo do existir
humano diferente da instalao perse-
guidora. Na fbrica, o homem mais um
entre muitos agentes que participam da
cadeia de produo racionalmente plane-
ada, nada mais. Na quadrindade, a
identidade ltima do ser humano e a
ordem de seus afazeres determinam-se
pela brincadeira de espelhamento entre
os constituintes da quadrindade. Tornan-
do-se oleiro, o homem apronta arras. Na
qualidade de agricultor, ele enche as ar-
ras. Nas horas de descanso, ele bebe nas
tavernas das arras. Nos dias de festa, ele
as usa para fazer oferendas aos desconhe-
cidos divinos. Na hora da morte, ele se
afasta de todas as coisas e passa para o
santurio do nada".
Fsses modos de ser do homem da
quadrindade podem parecer familiares,
mas . so. Fles todos tm um sentido
como que transfigurado. Tomemos como
exemplo a atividade de aprontar arras.
O oleiro da quadrindade um arteso,
sim, ele faz arras, mas ele no as fabrica.
Fle nem ao menos enforma (./) a
argila, a matria. O seu produzir no se
Hannah Arendt ( 1906- 1975)
R eproduo
maro/2001 - Cul t 53
0 0
vale das quatro causas aristotlicas
(matria, forma, finalidade, efetivao).
Fle no um trabalhador, nem no sentido
sociolgico, nem na acepo existencial-
ntica dessa palavra em 1o/., exem-
plificada por um arteso da vida quoti-
diana. O oleiro heideggeriano no obe-
dece nem as regras das linhas de
montagem industrial, nem as que impe
o mundo do trabalho manual. O que
determina cada movimento do ]seu|
produzir" o vazio da arra. sso porque a
coisalidade do vasilhame no reside na
matria que o constitui, mas no vazio que
ele prprio contm. No essencial, o oleiro
heideggeriano apenas enforma o vazio: Por
este, neste e a partir deste ]vazio|, o oleiro
modela a argila numa forma" (p. 1o). F
Heidegger continua: Fm primeiro lugar
e sempre, o oleiro capta o incaptvel do vazio
e o pe, como o continente, na forma
]G./| do vasilhame."
Assim como a aniquilao da coisa
implica um perigo extremo para o ser
humano, no salvamento da coisa so
pensados no somente o salvamento do
mundo da condio exclusiva de um
estoque de materiais e um canteiro de
obras, mas tambm e sobretudo a liber-
tao do homem de um destino que o leva
a robotizao total. Apesar desse signi-
ficado prtico" do pensamento hei-
deggeriano sobre a quadrindade - um
assunto que permanece insuficientemente
compreendido pela maioria dos comen-
tadores -, no h como negar que o
homem mortal do ltimo Heidegger
carece de facticidade, mais precisamente,
de um lugar determinado no espao e no
tempo. Poderia parecer, inclusive, que a
sua nica concretude a que lhe podemos
atribuir a luz da poesia de Hlderlin. Da
mesma forma, a descrio heideggeriana
do roda-mundo, por ser desespera-
damente abstrata, poderia facilmente ser
confundida, como ele prprio teme, com
uma mitologia potica ou religiosa
(pag) (p. 1o). $e, por um lado, existem
srias dificuldades em desvincular o .
/. das coisas do Heidegger tardio da
sua fonte inspiradora, da poesia de Hl-
derlin, por outro lado, no h como admi-
tir que a poesia possa, por si s, abrir um
espao de manifestao dos entes como
tais no seu todo ou dispensar a filosofia
da tarefa de vincular a abertura possibi-
litadora . /. a possibilitados ...
Desde 1o/., Heidegger sempre
ensinou, seguindo o mtodo de anlise
de Kant, que no se pode falar de con-
dies de possibilidade em abstrato, sem
que o possibilitado sea dvel por conta
prpria, em pessoa.
Fica, portanto, a questo: a que
/o. concretos, poesia de Hlderlin
a parte, Heidegger est se referindo
quando fala dos mortais na quadrindade:
Ou ainda: onde, quando e como podem
ser encontrados os mortais heideg-
gerianos: A resposta de Heidegger, dada
em Das Ding", mais uma vez sur-
preendente: estes ./. no existem. Fles
nunca existiram, pelo menos no no Oci-
dente, porque lhes foi vedado existir.
Assim como nunca deixaram o ente ser a
coisa, a metafsica ocidental e, por conta-
minao, a cincia moderna continuam
sem permitir ao homem ser mortal. A
metafsica desde sempre o representou
como animal racional. Ora, foi ustamente
essa viso do mundo que fez do ente mera
presentidade e que preparou as condies
de possibilidade para a acontecncia da
armao. A fim de desarmar a armao,
os seres vivos racionais tm-que ]o/|
antes tornar-se ]v/| mortais" (p. 1).
Fssa tese inaudita contm a resposta sobre
a facticidade do mortal heideggeriano:
este no fatual porque existe to-somente
como um -,/-, enquanto a facticidade
implica a presena efetiva (e calculvel)
no passado, no presente ou no futuro.
Fsse resultado do pensamento hei-
deggeriano suscita naturalmente nume-
rosas obees. ^encionarei aqui apenas
uma, a de que Heidegger, inspirado em
Hlderlin, caiu na /. /... Creio ser
possvel rebater essa obeo traando
mais um paralelo com Kant. Na segunda
0 0 f f 0 8 0 0 0 0 l 8 8 l l l 0 8 0 l l 0 8 8
/'e | e , Je .' J ,e 'e |e ,e 'e e 'Je
/ (e e'Je J e' .1/'a~aca ~ , ') 'Je
eJe ee J e e ' e ee e, e ,Je ,Je
'' /e (1a1') ',J' e e e 'eee e '|J e e ' ee | e 1'
, J ' eJ, ,e' (,Je ,J J e /e /'e' , '/ e 1) e
,e' ee, ,Je e' ,J eJ e e' e e 'eee ee e ''e Je J e e
'ee e e|J
' J J ,J|' ,Je ee e J | ' e ' ee ,e,Je 'Je (ac
, ) ,Je ,e 'e e ' 'e, (e' 11/..11) ,J' , e '
J | e ,ee /e'e ' ee 'Je ''e ' \'e ' `e'e \ee
e ,,e
54 Cul t - maro/2001 54
8 0 l 0
parte de c .//. / /.///./ (1),
Kant pergunta se possvel dizer algo
sobre o progresso futuro da humanidade
para o melhor, isto , em direo da
moralizao crescente dos costumes.
Claro est, de incio, que uma previso
desse tipo no pode ser classificada como
um uzo terico" ou especulativo",
que no pode ser interpretada no
domnio dos fatos da natureza. Fla dever
necessariamente ser tratada como um
uzo prtico e, por ter implicaes
morais normativas incondicionais (a
moralizao dos costumes um impe-
rativo categrico), como um uzo . /..
Fm vista disso, surge a pergunta: como
so possveis uzos prticos . /. sobre
o futuro dos costumes: A resposta de Kant
a seguinte: tais uzos (s) sero poss-
veis se quem fizer a previso realizar e
instituir ele prprio as ocorrncias que
prenuncia. No caso, trata-se de realizar o
que pede a lei moral, devidamente esten-
dida para incluir a exigncia da realizao
de uma histria mundial moralizada.
Ora, um gnero humano moralmente
melhor no sentido kantiano um gnero
diferente do atual, ele nunca existiu e s
passar a existir se os homens se tornarem
. ,/ ./. . ., por obedincia a lei
moral. Portanto, quem afirmar, no sentido
de Kant, que a humanidade caminha para
a moralizao dos costumes no est se
referindo a nada fatual, est dizendo que,
cumprindo o seu dever, ele est traba-
lhando com outras pessoas na instituio
de uma ordem moral mundial. Os uzos
sintticos . /. da histria dos costumes
so, portanto, todos ficcionais e recebem
a sua realidade obetiva exclusivamente
das aes e dos modos de vida humanos
que eles prprios ./.o. No seria
errado, parece-me, cham-los de pro-
fecias autoconfirmadoras da razo
prtica.
O paralelo entre Heidegger e Kant
pode agora ser construdo aproximando
o homem mortal do gnero humano
moralmente melhor, o ter-que superar a
tcnica do dever imposto pela lei moral e
o tornar-se mortal da realizao das
mudanas em direo da moralizao. $e
esse paralelo procede, ento o discurso
heideggeriano sobre o homem mortal da
quadrindade no mais potico" do que
o de Kant sobre o gnero humano pro-
gressivamente moralizado. Fle
ficcional, sim, tanto quanto o kantiano,
sendo que, em ambos os casos, trata-se
de fices . /. necessrias - a kantiana
decorrendo de uma lei da razo, a
heideggeriana, do destino da verdade do
ser -, cua realidade obetiva nunca
poder ser assegurada por um exemplo
fatual adequado.
A comparao com Kant tambm
permite entender melhor a relao entre
Heidegger e Hlderlin: o que o poeta
fornece ao pensador so figuras ou
modelos nticos que o audam a antever
um . /. possibilitador dos entes e do
existir humano totalmente diferente da
armao que determina o sentido da
presena na poca da tcnica. Os hinos
hlderlinianos so usados como esque-
mas simblicos", no como idias" de
uma outra vida, uso que s poder ser
compreendido por aqueles que seguirem
Heidegger na sua anlise da claustro-
fobia que nos inspira o mundo das insta-
laes computveis.
Zeljko Loparic Zeljko Loparic Zeljko Loparic Zeljko Loparic Zeljko Loparic
professor-titular do Departamento de Filosofia da
Unicamp e docente do Programa de Ps-graduao em
Psicologia Clnica da PUC-SP, autor de Hei degger ru
(Papirus), ti ca e fi ni tude (Educ), Descartes heur sti co
(Instituto de Filosofia e Cincias Humanas da
Unicamp) e A semnti ca transcendental de K ant
(CLE Centro de Lgica e Epistemologia da Unicamp)
O fi l sofo Immanuel Kant ( 1724- 1804)
maro/2001 - Cul t 55
0 0
M/. ... . / o. -
. o /o o..o. o /o -
o. o/ /. . o ,/ /. .
//. .//./ P.,/ .o/. //. /.
c. o 8/. 4 //.o
//. / /../. . ./.
.. E .. oo. o/. ./ ./ .
//. . //. ../. o.| .///. .
/.. ../. ./ o c. ..
oo. o/. ./ . o. . ./o.
//... . /..| 4./. /
/.. /.. /o ./ /../. .
/. .o. /o .
W. Gombrowicz
um livro anedtico de autores
ingleses, o nome Heidegger desig-
na uma mquina de procedncia
alem destinada a perfurar a substncia.
A correo da anedota - afinal, a des-
truio da ontologia da coisa um proeto
explcito de 1o/. - poderia, entre-
tanto, esconder a verdadeira potncia des-
ta britadeira, que, na sua obsesso pr-
furo-desrealizante, pe em estado de
hesitao" no apenas este ou aquele mo-
do da presentidade (coisa, instrumento),
mas a presena como tal. sso significa
que tanto a instrumentabilidade (Z//.-
//) como o meramente subsistente
8
(!././/) so modos da presenti-
dade e que, em ambos, o ser resultou
como presena (4v). Ora, Hei-
degger no est interessado em se deter
nesta faixa onde a presena vigora, mas
em perfurar a faixa ela mesma, a fim de
encontrar o elemento ou, melhor dito, .
o..o. do qual ela resulta. \ale dizer:
o que que possibilita a presentificao:
Com isso no se pretende, obvia-
mente, atenuar a diferena que h entre
essas duas chaves da presentidade: encon-
trar o ente como instrumento radical-
mente diverso de encontr-lo como coisa.
Quase um tero das pginas de 1o/.
tratam da instrumentabilidade, e preci-
samente a idia de um acesso instru-
mental ao ente que permite a crtica da
ontologia da coisa (perfurao da subs-
tncia) e um primeiro deslocamento em
relao ao predomnio metafsico da
metfora do olhar. No pouco afirmar
que todo pensamento ocidental, de
Parmnides at Husserl, esqueceu o
fenmeno do mundo e permaneceu preso
ao modelo do ver teortico. No pouco
abrir um territrio, at ento insuspeitado,
a partir do qual o acesso ao ente pode ser
concebido fora do regime do logocen-
trismo (da idia de que o uzo que abre
o ente, de que sua descoberta a expo-
sio num discurso do tipo $ P). No
pouco, tambm, deixar para trs toda uma
srie de imagens metafsicas do homem-
vidente e do mundo como sistema-de-
coisas em nome" do D. agente-com-
preensor e do mundo como sistema de
tarefas, afinal, se o velho espectador ape-
nas discernia as /.//./ de algo real,
agora o D. envolvido e expectante se
././. de instrumentos, pois com-
preendeu ali um sentido e articulou uma
possibilidade. ^as se nada disso pouco,
e certamente no o , o que falta ento:
No a noo de instrumentabilidade
uma noo central, a ponto de Heidegger
sempre a ela retornar, at mesmo na
pgina final de 1o/.: $em dvida
que ela importante, mas no central.
O verdadeiro ncleo de 1o/. est,
ainda, em outro lugar, e, por mais que o
inventrio acerca do potencial revolucio-
nrio da noo de instrumentabilidade
pudesse seguir at o tedioso, ele seria
sempre um preldio, provavelmente
ainda tmido, de uma revoluo mais
profunda: 1o/. . ./. /o.
o.,/. / /./:.. //. /. ../..
/. .., o. /o. o.,/. / //.: ./.
,/./,/ //./ sso quer dizer que
[u|lano Garcla F088808
Conceito espacial ( 1962) , tel a de Luci o Fontana
Ser e Tempo: uma
pedagogia
da 0fl0f880
Ser e Tempo: uma
pedagogia
da 0fl0f880
56 Cul t - maro/2001 56
8 0 l 0
tanto na visualizao do meramente
subsistente quanto na apropriao de um
instrumento est pressuposto um en-
contro cua possibilitao permanece
impensada e que, em ambos os casos,
ainda que de maneira diversa, fomos
concernidos e atingidos pelo que . Qual
a raiz desta no indiferena em relao ..
,/ : $o questes deste tipo que formam
o ncleo de 1o/., um livro inaca-
bado que aponta para um lugar que
no mais pertence a metafsica. Ora, se
tambm no instrumento vigora algo
que , resta ento perguntar como a
mquina de desfazer presentidade vai
perfurar o instrumento.
Lma das conseqncias da noo de
instrumentabilidade , precisamente, a
superao da questo tradicional do
conhecimento. Quando se pergunta pela
maneira como se d a instaurao do
comrcio gnoseolgico (sueito/mundo,
esprito/real etc.), encobre-se o fato" de
que esse comrcio aconteceu e que o
ente intramundano est descoberto. sso
significa que eu no pr-subsisto, encap-
sulado em minha natureza especfica, at
o momento em que se abre alguma anela
na conscincia. No, eu estou sempre
l fora", unto aos entes, e s na medida
desse comrcio acontecido que eu mesmo
posso ser. M. . .o//.. /.
. /./. /.,/ /. ... .//o.
/ / //: D ,/ //o././ ..:
Posto que no nenhuma luz ocular"
(dos sentidos), nenhuma luz divina ou
racional, trata-se, to-somente, da
luminosidade do sentido (da signifi-
cao). \ale dizer que h uma cena
significativa, uma trama (sistema de
remisses), cuo fio me familiar e ao
qual este ou aquele ente pertence ou no
pertence, cabe ou excede, tem lugar ou
exorbita. $e um pigmeu, cua sorte o
tivesse privado dos antroplogos e demais
especialistas do homem", se deparasse,
na selva, com um telefone celular,
subtrada a hiptese de que ele pudesse
fazer daquilo um uso qualquer e
insuspeitado (proetar possibilidades para
o ente), diramos que ele encontrou algo
absurdo. O telefone excede a rede con-
formativa daquele mundo, no pertence
ao conunto das remisses que o pigmeu
entende". ^as algo s excede se pensa-
mos numa relao: s sobre a base de
um mundo como conunto" de significa-
es que um ente particular pode ter ou
no sentido. O absurdo ratifica que o
sentido vigora e que um certo mundo
aconteceu - ele no ausncia de sentido,
mas contra-sentido sob a base do sentido
acontecido. Fssa base exatamente o
mundo na acepo existencial, um lugar
iluminado a partir do qual o ente pode
ganhar um ser. A", nesse lugar, o ente .
Fst descoberto: foi compreendido e
apropriado em funo de uma rede de
significatividade que, segundo Heideg-
ger, constitui a prpria estrutura do
mundo. Fm todo instrumento, o mundo
est 'a`" (par. 1). Ora, estvamos
perseguindo o instrumento a fim de
perfur-lo e encontramos o fenmeno do
mundo. . . . o//. //.
//o./. ./ .. . /., /./o
. /../. //o. o ,/ /.//.o.
.. //.: Constituiria o
fenmeno do mundo uma espcie de posi-
tividade alternativa: Aquilo que a nossa
mquina negativa, a britadeira-Hei-
degger, no conseguiria atravessar: A
resposta no. Fsse mundo aberto e
por ns ocupado, essa cena legvel e
iluminada dentro da qual nos movemos
todos os dias, no seno a vertigem de
uma //. e o resultado de um ./o..
A significatividade em que nos susten-
tamos (mundo) esconde precisamente a
irrupo original do mundo. F apenas
quando a significatividade quebra e se
retira (par. -u), quando, rigorosamente,
no posso encontrar nenhum ente (ins-
trumento, coisa subsistente, e mesmo
eu") que o mundo se mostra como mun-
do e que emerge o quem" do D..
^undo (e no o estoque das coisas),
na acepo existencial anteriormente
explicitada, no algo dado de uma vez
por todas. A abertura iluminada onde
encontro o ente pode ausentar-se. F no
um ausentar-se qualquer, mais ou menos
provvel, mas algo que acercou desde
sempre o D.. O D. o ente que
existe, porque aquele ente que mantm
ligao com esse ausentar-se. Por mais
que o D. insista na segurana do
mundo e confie nessa evidncia", mais
esquerda, o fi l sofo Karl Jaspers
( 1883- 1969) , ami go de Hei degger e
Hannah Arendt. Na pgi na oposta,
Hei degger na mesma poca ( 1920) .
Fotos/R eproduo
maro/2001 - Cul t 57
0 0
ele recalca a possibilidade daquele
ausentar (possibilidade de no mais estar
a), encontrando-se, portanto, sempre em
relao a ele. sso equivale a dizer que o
ser-no-mundo no evoca um assenta-
mento no necessrio ou um aloamento
em algo permanente (Beaufret), mas, ao
contrrio, precisamente o que falta e o
que no est dado. Por isso, quando se
afirma, como geralmente acontece, que
o homem em 1o/. o ser-no-
mundo, se esquece de acrescentar que isso
no lhe dado e que o ser-no-mundo
deve ser lido como um ter-de-chegar-ao-
mundo e um ter-de-manter-se-a-no-
mundo. F apenas resistindo a possibi-
lidade da impossibilidade (ser para a
morte) que o D. mantm-se no inte-
rior da significatividade de um mundo,
embora essa resistncia nunca supere ou
apague a possibilidade de no mais estar
a.
Nesse ponto torna-se claro at onde
nos conduz a britadeira-Heidegger: sua
ontologia fundamental no oferece mais
nenhuma fundamentao ltima no
sentido da metafsica, mas aponta para a
negatividade radical que nos atravessa.
$omos um constante transbordamento do
mundo e nos situamos precisamente na
linha ssmica, entre o cho e a cratera.
\ale dizer que, doravante, todos os modos
de estar-no-mundo devem ser lidos como
derivaes, no sentido especfico de
afastamento, recalcamento e encobri-
mento da regio fronteiria. F o prprio
pensamento, portanto, que sofre uma
metamorfose, pois ele, longe de ser a
busca de um fundamento inabalvel,
implica agora um poder permanecer em
trnsito constante pela linha da fronteira.
F preciso, talvez, uma espcie de
pulmo-anfbio a fim de interrogar que
trnsito ou que movimento esse que faz
a passagem do abismo a casa e que,
bifurcando, vincula as possibilitaes ao
impossvel. Fsse trnsito, diz Heidegger,
o tempo. $ua determinao primria, o
futuro, o nada. sso significa que a
prpria deciso" pelo ser (o residir na
casa) o tempo. F um tipo especfico de
temporalizao do tempo (o mais bsico).
Tanto o encontro do instrumento quanto
o do meramente dado so modos, so
figuras", mais derivadas, da tempora-
lizao do tempo. Ambas so legtimas,
desde que no esqueam sua genealogia
e procedncia. De nada adiantaria insistir
que, na chave instrumental, o homem
pode, agora, responder ,/o :, ,/ /..
.: e ./ .:, no mais a partir da
insipidez da cronologia e dos agoras",
mas da tenso da vida prtica e do
desassossego de suas esperas, se seguimos
ignorando o que esse outro tempo
pressupe. (Que ele resultado e no
origem.) ^ais originrio que esse
homem concreto (habitante da espessura
cotidiana) a finitizao do D. nele.
Quando responde ,/ /.. .: ,/o
./ ,/./. ...: (as questes inesgo-
tveis de Claudel e Beckett) e - incri-
velmente' - acredita em suas respostas,
quando espera por um emprego, diz as
suas" datas, sente medo de uma doena,
glorificando assim a hora positiva, no
faz mais do que produzir o seu sintoma,
encobrindo temporalizaes mais origi-
nrias. Foi o prprio Heidegger quem,
no pargrafo ! de 1o/., ao falar
do nascimento e do ser-para-o-comeo,
abriu a possibilidade de pensarmos para
.,/o, tanto do tempo vazio e abstra-
tamente infinito dos agoras (intratempo-
ralidade, I:///) quanto do
tempo mundano das ocupaes (tempo-
ralidade inautntica). Pensar o ser-para-
o-incio e o modo da chegada ao mundo
poder se apropriar daquilo mesmo que,
pela primeira vez, eclodiu contra a noite
da ausncia. Trata-se de uma porta que
Heidegger deixou aberta e que permite,
para alm do prprio 1o/. (das
anlises da historicidade autntica),
pensarmos numa singularizao positiva
e no tema da constncia do si-mesmo. $e
um tal pensamento, que desce at a
indigncia na qual algo nos foi confiado,
continuar sendo tachado de argo da
autenticidade", ento necessrio que
essa expresso equivocada se aplique
tambm ao que a psicanlise nos legou
de mais radical.
J uliano Garcia Pessanha J uliano Garcia Pessanha J uliano Garcia Pessanha J uliano Garcia Pessanha J uliano Garcia Pessanha
autor de Sabedoria do nunca
e I gnornci a do sempre
(ambos pela Atlie Editorial)
58 Cul t - maro/2001 58
8 0 l 0
D/./. . I. c... 4.//.
X.. H/. I./. I/// K.,
az alguns anos, assistindo em
Bruxelas a palestra de um espe-
cialista francs em filosofia contem-
pornea, ouvi-o se lamentar do /./
.// da maioria dos filsofos de nossa
poca. $e o gosto pela expresso difcil,
obscura, sibilina, dizia, estivesse restrito
a pensadores de baixa audincia - espe-
ciosos, mas de pouco flego especulativo,
acrescentou -, talvez fosse menos penoso
enfrentar o problema. Contudo, prosse-
guiu o lamuriento mestre, a tendncia em
associar obscuridade a profundidade -
preconceito romntico, escreveu certa vez
o pensador brasileiro Roland Corbisier
- tornou-se a moeda mais corrente na
cena filosfica contempornea, mesmo
entre os filsofos de maior destaque. O
sonho do professor queixoso era o de que
todo filsofo buscasse como modelo
estilstico os autores ingleses e os fran-
ceses pr-existencialismo, a seu ver o
melhor antdoto as tortuosidades de
expresso e a vocao para o mistifrio,
pois insuperveis na difcil combinao
de expor questes complexas de maneira
simples. F, melhor ainda, amais nenhum
deles esquecesse a lio aristotlica
contida na R., na qual o Fstagirita
adverte que se o discurso no torna
manifesto seu obeto, no cumpre sua
funo. O conferencista, a exemplo de
^oras, disse a platia que ininteligvel
rima com charlatanice.
f
Ao lastimar, no fosse ele francs, o
desprestgio da lendria e secular virtude
cartesiana de clareza estilstica, nosso
professor viu na raiz do fenmeno a, para
ele, desmedida importncia conferida
modernamente a reflexo filosfica de
matriz alem. nvertendo uma situao
vigente por mais de um sculo, quando a
cultura francesa imps sua hegemonia,
nossa poca viu a filosofia germnica dar
as cartas, a tal ponto que mesmo o maior
filsofo francs surgido no perodo, ]ean-
Paul $artre, permanece com o nome
inevitavelmente associado ao de ^artin
Heidegger, e ambos, por sua vez,
caudatrios filosoficamente de outro
pensador alemo, Fdmund Husserl. A
complexidade da meditao husserliana
paradoxalmente popularizou-se graas a
obscuridade oracular () de Heidegger.
Aos nomes antes citados, exemplares
consumados do filosofar difcil", o
conferencista acrescentou o de outro
autor de lngua alem, o austraco Ludwig
Wittgenstein. Para seu desespero,
ustamente o quarteto de filsofos mais
influente de nosso tempo, aprecie-se ou
no isso. Logo, referncias impossveis
de serem descartadas em sala de aula e
em qualquer debate sobre os rumos da
filosofia do sculo XX. Constatar, note-
se, no aderir, mas render-se ao bvio,
lio acaciana de razovel valor.
Descontados o vezo do ulgamento
sumrio, as imprecises histricas, a
declarada germanofobia, a ironia mordaz
e certos critrios discutveis do professor,
bem como a hostilidade a alguns pensa-
dores, fruto, a meu ver, de sua formao
cultural, mistura ecltica e algo inslita
de sociologia weberiana com tinturas
marxistas de matiz lukacsiana, foroso
admitir, temperada /o .. ./, razo-
vel procedncia as suas diatribes. Autores
como Wittgenstein e Heidegger, por
exemplo, criadores de novos idiomas
filosficos, descompromissados, por-
tanto, com o vocabulrio clssico, so de
leitura desanimadora para os espritos
menos persistentes, assim como habi-
tualmente irritam as mentes mais pregui-
osas, predispostas estas a rechaarem
como impenetrvel qualquer texto mais
desafiador. F bvio tambm, cabe
destacar, que o argumento pode servir de
libi a filosofantes de baixo coturno,
buscando, no recurso a expresso inslita,
escudo que lhes esconda a minguada
fatura especulativa. Aliada esta hiptese,
vale lembrar a advertncia de Popper,
segundo a qual a compreenso de um
problema s alcanada depois de
inmeros fracassos em resolv-lo. Quem
ignora tal alerta sequer ultrapassar os
pargrafos iniciais de 1o/. e do
1../ /..-///..///, os textos
fundadores, ao lado de c . ^./., da
reflexo filosfica do sculo XX.
^as deixando de lado, porque irrele-
vante neste momento, a discusso sobre
os motivos que levam alguns filsofos a
se comprazerem em tornar mais difcil a
8 0 l 0
[oo da F008
80l000f e
Nlll08l0l,
uma (im)possivel
convergencia
maro/2001 - Cul t 59
0 0
R
e
p
r
o
d
u
o
vida dos leitores, me detenho nos nomes
de Heidegger e Wittgenstein, nomes
cardeais da geografia filosfica contem-
pornea, e me indago se possvel esten-
der, ou mesmo divisar, um fio de
convergncia que atravesse as idias dos
dois.
Lm heideggeriano de grande prest-
gio entre ns, o professor Fmmanuel
Carneiro Leo, em 4///. . /.
(\ozes), observa que num mapa da
filosofia Heidegger e Wittgenstein esta-
riam localizados em pontos extremos,
pois autores de sistemas opostos na cons-
telao filosfica do sculo XX. Para
alm das diferenas de orientao siste-
mtica e endereo metodolgico, ex-
pressos, de um lado, por termos como
fenomenologia, ontologia fundamental,
filosofia da existncia, e, de outro, filosofia
analtica, positivismo lgico, filosofia da
linguagem, ambos tambm se diferen-
ciariam existencialmente na geografia
cultural do Ocidente. Ao caracterizar
cada um deles sob uma luz diferente, o
prof. Carneiro Leo descreve Heidegger
como a expresso consumada do filsofo
alemo: especulativo, de formao cls-
sica e filolgica, empenhado em repetir
toda a tradio metafsica, mas com o fito
de despedi-la (), processo ao longo do
qual ele recusa, como modelo, a cincia
moderna, em seu modo de reflexo
tcnico-matemtico rigoroso, vendo-a
como sintoma. Wittgenstein, por sua vez,
contrastando, seria o modelo por exce-
lncia do esprito antiespeculativo, autor
de duas obras - o 1../ e as I.-
. //./. - tornadas documentos
clssicos da filosofia analtica nos
crculos que ele chamou de epistemo-
logia dogmtica.
Toda essa mentalidade antiespecu-
lativa - ainda nas palavras do ilustre autor
- vigente no nominalismo ingls desde
Ockham, passando por Hobbes, Locke
e Hume, mais a crtica fundada na anlise
lgica da linguagem, surgida com Boole,
Frege, Russell, Peirce e ^oore, conver-
giram em Wittgenstein sob a forma de
uma suspeita ctica. Qual: O ceticismo
quanto a eficcia investigativa de toda
metafsica, pois, destituda de sentido, ela
em si mesma uma insensatez, oriunda
de uma incompreenso lgica da lngua
de nossos discursos. ^as ustamente
nessa suspeita de insensatez que o prof.
Carneiro Leo vislumbra a possibilidade
de encontrar nas diferenas entre Hei-
degger e Wittgenstein uma identidade de
pensamento. F assim porque em ambos
nos deparamos com uma suspeita da
insensatez da metafsica - em Wittgen-
stein, porque ela se origina de uma espcie
de alienao da lngua, em Heidegger,
de uma alienao do $er.
A tese sedutora. F, em princpio,
procedente. No entanto, sea pelo fato de
a oposio entre os dois pensadores ser
to flagrante, sea pelo fato de ustamente
por isso parecer aos estudiosos fora de
propsito dedicar-se a questo, a biblio-
grafia em torno dela, at onde sei,
considerando a importncia dos prota-
gonistas, modesta, e o que se escreveu a
respeito , em termos analticos, de resul-
tados minguados. Do que de mais inte-
ressante li sobre o tema, isto , o confron-
to entre o pensamento de Heidegger e o
de Wittgenstein, encontram-se as
anlises de Paul $tandish (8,./ / //
! H/ ./ / /o ./
/./., 1!) e Hervert Hrachovec
(!./ H/ I !,
11). ^esmo assim, a despeito dos
inegveis mritos dos crticos citados, os
resultados obtidos ficaram aqum do que
a tarefa requeria. No caso de Hrachovec,
no houve, a rigor, nem mesmo o coteo
entre as idias dos dois filsofos, mas mera
ustaposio.
Tambm aqui, por limitaes vrias,
no posso pretender ir alm disso. $e
aspirasse a tanto, a pretenso, para ser
minimamente atendida, exigiria os
limites mais amplos da exposio ensas-
tica. Contento-me, por conseguinte, mes-
mo num vo brevssimo, em destacar um
ou dois temas das reflexes de Heidegger
e Wittgenstein, o que, de alguma forma,
localiza as latitudes onde se situam suas
respectivas idias.
Heidegger nossa primeira escala.
O mestre da Floresta Negra, confor-
me sintetizou em certeira definio Gerd
Bornheim, em D./. .. /.
(Globo, 1), o pensador por exce-
lncia da crise da metafsica. Para Hei-
0 0
`e e e '
e,e J
e ,e e
,
e| e, ,'e' e J ,
J ee | eJ
ee e'
O fi l sofo austraco Ludwi g Wi ttgenstei n ( 1889- 1951)
60 Cul t - maro/2001 60
8 0 l 0
esquerda, o fi l sofo Edmund
Husserl (1859- 1938). Na pgi na
oposta, Jean- Paul Sartre ( 1905- 1980) .
Fotos/R eproduo
degger, na filosofia moderna que a
metafsica alcanou seu auge, entendido
aqui o termo no sentido de etapa final,
estgio cua tnica marcada pelo
subetivismo, do qual o idealismo hege-
liano a expresso consumada. H um
tema obsedante na meditao heidegge-
riana, enunciado sob forma de denncia:
a metafsica, diz o filsofo, , pouco
depois de ter madrugado na Hlade, uma
teoria do ente esquecida do ser. F, mais
grave, associou-se a vontade de poder
subacente a tcnica - tcnica que vem
patrocinando o assalto a natureza. F por
meio da questo do ser que Heidegger
discute a tradio metafsica do Oci-
dente. A histria do Ocidente, com todos
os seus fenmenos, decorre da metafsica,
isto , resulta de uma maneira especfica,
muito peculiar de interpretao da
relao entre o ser e o pensar, logo da
forma como o homem ocidental inter-
preta a si mesmo. A idia dominante sobre
o que sea a relao entre ser e pensar
acabou por configurar as concepes cul-
turais do Ocidente, fato, diz Heidegger,
que tem sua expresso consumada na
tcnica e na avassaladora cientificao do
mundo e do homem. Lma palavra,
o.//., surgida graas a um acidente
cometido por Andrnico de Rodes ao
classificar as obras de Aristteles, acabou
adquirindo significado mais profundo,
tornou-se, na definio aristotlica, uma
cincia que estuda o ser enquanto ser,
cincia que investiga os princpios iniciais
e as causas ltimas, filosofia primeira,
fixada pela tradio como a parte mais
importante no estudo da filosofia. A
metafsica o discurso sobre a essncia
do existente. Cabe-lhe, portanto, dizer
sobre a natureza ltima da realidade.
^as Heidegger, ao debruar-se
sobre a questo, no se ocupa nem se
preocupa com essa concepo, digamos,
acadmica, formal, da metafsica. $eu
intuito outro. $ua investigao se volta
para a maneira como a metafsica tem
sido concebida ao longo da histria do
Ocidente e dos efeitos mutiladores que
tal concepo trouxe a cultura ocidental.
A mutilao da metafsica, sua peripcia,
resulta de, a partir de um certo instante -
seu momento platnico -, ela ter-se
tornado uma cincia que se engana conti-
nuamente de obeto: em vez de perguntar
pelo ser, ela pergunta pelo ente. Fla pensa
o ente enquanto ente. sso a faz perma-
necer unto do ente, quando, na verdade,
deveria se voltar para o ser enquanto ser.
Por representar o ente enquanto ente, a
metafsica no pensa no prprio ser. A
metafsica diz o que o ente, conceitua-
lhe a identidade. Na entidade do ente, ela
pensa o ser, sem no entanto, devido a sua
maneira de pensar, poder considerar a
verdade do ser. A metafsica se move,
assim, no mbito da verdade do ser que
lhe permanece o fundamento desconhe-
cido e infundado. No repertrio dos
problemas filosficos, a pergunta pelo ser
o maior deles. A filosofia ocidental
desnaturou sua mxima questo ontol-
gica. Fla s tem perguntado pelo ente - ela
esqueceu o ser. Tal esquecimento foi e tem
sido danoso, na perspectiva de Heidegger.
A histria da metafsica, portanto, a histria
do esquecimento do ser.
$o muitos, passe a ressalva, os que
encaram a distino heideggeriana entre
ser e ente pouco menos que artificial.
$ciacca viu nela um exerccio de sofista,
de que resultou a destruio do ser, da
ontologia e da metafsica. Bochenski, nas
D: /. /.o. //./. (F.P.L.,
1), escreve que ulgou sempre mais
adequado falar em ente do que em ser,
pois tudo o que existe, tudo o que ,
chama-se ente: o leitor de seu livro, o
leno que ele carrega. Tudo o que ente,
e fora dele nada existe. ] o ser o termo
abstrato do concreto ente, mais ou menos
como vermelhido o abstrato do con-
creto vermelho. $e recuarmos no tempo,
encontraremos Duns $cott, tema de uma
das anlises de Heidegger, privilegiando
o ente como o obeto primordial da
metafsica.
Fm suas origens, leciona Heidegger,
a histria da filosofia voltou-se para a
indagao do ser. ^as logo depois, surda
as lies dos pr-socrticos, ela se entre-
gou ao esquecimento dessa interrogao.
Alis, a um duplo esquecimento: esque-
ceu a pergunta pelo ser e esqueceu este
esquecimento. $ h uma tarefa sanea-
dora, de redeno mesmo - voltar a essas
origens, recuperar a fora da pergunta
fundadora sobre o ser. F preciso voltar
ao princpio, ao fundamento da prpria
filosofia do Ocidente. Por isso que
Heidegger afirma que filosofar implica
sempre recomear. O filsofo, nesse
sentido, um principiante. F em nome
desse recomeo que Heidegger repudia
toda a tradio metafsica construda
desde Plato, tradio que se firmou
maro/2001 - Cul t 61
0 0
alheia a verdadeira natureza do ser,
porque a esqueceu.
Quem subverteu a misso originria
da metafsica, acusa Heidegger, foi
Plato, pois a histria das idias no
Ocidente vive sob a gide do platonismo,
ou sea, do idealismo. $o mltiplas as
faces do idealismo, mas todas esto
refletidas no espelho platnico. ^as
como podemos nos livrar dessa imagem
deformada: De que maneira - se h -
pode-se refazer, corrigindo-a, a traetria
da metafsica, encaminhando-a para a sua
senda original, recuperando-lhe o papel
de protagonista da cultura ocidental:
O caminho existe, responde Heideg-
ger. Para encontr-lo h que se superar a
metafsica, a nica via de retorno a
verdade originria. F preciso refazer a
marcha da metafsica desde seu incio. F
como a traio da metafsica a sua
verdadeira misso se deve ao esque-
cimento do ser, ustamente perguntando
por ele que nossa ornada deve comear.
Fnto, o que o ser:
O ser pertence a lista de noes
supostamente evidentes por si mesmas,
ustamente por isso um dos vocbulos
de mais difcil definio, logrando mais
comumente ser caracterizado, mas no
exatamente definido. A mais abstrata das
idias, sua simples meno parece pres-
cindir de qualquer nota explicativa. Por
isso mesmo, a tradio filosfica fez
parecer desnecessrio discutir o ser. F a
dificuldade resulta no apenas dos muitos
significados que se lhes concede, mas
muito mais das muitas interpretaes
conferidas a cada um desses significados:
ora se o compreende como essncia, ora
como existncia, outras vezes se o iden-
tifica com o ente, mas tambm com a
substncia. Contudo, nenhum desses
conceitos, divergentes entre si, d conta
da idia de ser.
Aristteles deu incio a questo. \iu
o ser, em sua M.//., como o conceito
mais universal. Desde ento, sabe-se que
o sentido do ser polivalente (/.//./.).
Portanto, o ser, ao longo da histria da
filosofia, se tem dito de vrios modos.
Primordialmente, ser significa existir
realmente. Logo, pareceria fcil a ques-
to, pois, dito assim, o conceito torna-se
evidente por si mesmo, no precisando
de nada mais que o explique. ] Toms
de Aquino, na /o. 1./., afirmava
que a compreenso do ser est perfeita-
mente contida em tudo aquilo que
apreendemos do ente. Heidegger con-
sidera insatisfatrias todas essas defini-
es ou caracterizaes. Para ele h uma
questo do ser, questo que no foi
resolvida. Na I.//. ` M.//.
(Tempo Brasileiro, 1o), ele investiga
inicialmente o ser em sua gramtica e
etimologia, para s ento deter-se em sua
essncia, visto, ressalva, se recusar a
aceitar um fato as cegas, da mesma forma
que se admite sem mais nem menos a
existncia de gato e cachorro.
Heidegger assenta sua reflexo no
terreno ontolgico. $eu intento a
construo de uma ontologia fundamen-
tal, a despeito de ele mesmo reconhecer
o embarao da expresso, isso porque
aceit-la o mesmo que induzir a opinio
de que o pensamento que busca pensar a
verdade do ser, e no a do ente, , enquanto
ontologia fundamental, tambm ela uma
espcie de ontologia. mps a si mesmo
a tarefa de interrogar o sentido exato do
ser desde o alvorecer da filosofia, vale
dizer, em seu surgimento na Hlade. $er,
do grego ., significa estar presente.
Por sua vez, a substncia do existente, diz-
se em grego ./.. F a ./. era concebida
como /../., ou sea, como apario.
Assim, o ser um estar-presente, algo que
irrompe e se aproxima do homem. A flor
que desabrocha em meu ardim surge, se
revela, se desoculta, ogada diante de
mim. Revela-se a meu olhar. F pro-
duzida.
O ser, na descrio fornecida por
Heidegger, carrega consigo, em seu
processo de revelao, uma dialtica de
ocultao e desocultao de carter
dialtico - dialtica, importante frisar,
que no se confunde com aquela expressa
pela trade hegeliano-marxista. A
dialtica sugerida pela descrio heideg-
geriana decorre do fato de, se o ser torna-
se presente, admite-se, ento, que ele no
se revela em sua totalidade, de uma s
vez. F como se mantivesse uma reserva
no revelada, pois o tornar-se presente
supe a existncia de algo ainda no
presente. Portanto, ao pensar a presena
do ser, tambm penso naquilo que dele
permanece oculto, naquilo que perma-
nece latente. A desocultao do ser a
sua verdade. \erdade que se diz em grego
.//., desocultao. O a" prefixal de
.//. partcula negativa. L/., por
sua vez, encontra seu equivalente no latim
/., de onde deriva latente, que os
62 Cul t - maro/2001 62
8 0 l 0
dicionrios do como sinnimos de
oculto, subentendido. ^as nem mesmo
essa dialtica de ocultao/desocultao
logra dar plena conta do que o ser.
Quando o ser se desoculta, se torna pre-
sente, nem assim ele manifesta toda a
realidade. Por isso que est fadada ao
fracasso toda fixao no presente - ser
sempre redutora, parcial, portanto
incapaz de fornecer a verdadeira natureza
do ser. Fixar esse instante como absoluto
o que Heidegger chama de presenti-
ficao. F submeter-se a presentificao
perder o sentido dinmico do ser. Ao
nominar a presena, se est face a sua
representao, apenas - mas no diante
do presente no mbito da presentificao.
Heidegger v nesse amor ao presente
nada mais do que uma traio a verda-
deira natureza do ser, erro que desde Pla-
to marca a metafsica ocidental.
Heidegger o pensador da crise da
metafsica e toda sua reflexo se desen-
volve no mbito dessa cultura. A despeito
de sua crtica a metafsica, ou a seus
descaminhos desde a Antigidade grega,
culpada, dentre outras coisas, pela
indigncia a que relegou o ser, Heidegger
ainda assim acredita em recuper-la, cr
poder devolv-la a sua legtima funo.
Tal empreitada sequer cogitada por
Wittgenstein. Firme na concepo
positivista de que a verdade significa uma
correspondncia com os fatos, nosso
filsofo descarta qualquer possibilidade
de um saber metafsico. Falta a metafsica
a capacidade de fundamentar qualquer
conhecimento, ou sea, ela no pode as-
pirar a se impor como um saber cientfico
porque impossibilitada de fornecer
algum tipo de saber seguro, fundado na
experincia. O destino da metafsica
permanecer indefinidamente - e inutil-
mente - buscando atingir um princpio
absoluto, perguntando sempre, sem
nunca obter resposta, sobre as questes
que se estendem alm do emprico. Por-
tanto, qualquer coisa que a metafsica
afirme um contra-senso, visto sua pre-
tenso, sempre malograda, de explicar
realidades que esto alm da experincia.
$endo assim, desprovido de sentido at
mesmo o postulado bsico da metafsica
quanto a existncia de uma realidade
supra-sensvel. O nimo antimetafsico
de Wittgenstein, sustentado em bases
positivistas, mostra-se mais violento do
que o golpe kantiano desfechado contra
a metafsica na c/. /. R.:. P/.. Na
anlise de Kant, impossvel a metafsica
se constituir como cincia no sentido em
que o termo designa as cincias fsico-
matemticas, fato que levar a se discutir
indefinidamente as mesmas questes
metafsicas, sem que amais obtenhamos
respostas, pois esbarraremos sempre nos
domnios da razo. Wittgenstein vai
alm: a especulao metafsica uma
doena, uma patologia do intelecto.
A pretenso heideggeriana de
construir uma ontologia da existncia,
Wittgenstein oporia que a tarefa da
filosofia nada tem que ver com isso, con-
sistindo apenas em clarificar logicamente
os pensamentos e no a existncia - /
Zv/ / P//..// / /./
K/./ / G/./ (1../, par.
-.11!, $uhrkamp \erlag, 1). O tema
que atordoava Heidegger - a questo do
ser - descartado por Wittgenstein, pois
no existem problemas filosficos. F o
que passa por isso resulta de produto da
imaginao dos filsofos, cuas descries
simples, aparentando profundidade,
escondem, na verdade, as complexidades
da linguagem. Compreendemos mal a
linguagem que usamos, por isso, de forma
enganosa, vivemos a formular as mesmas
perguntas. A linguagem a origem das
confuses filosficas. As teses propostas
pelos filsofos, se no so falsas, so, no
entanto, sem sentido. Flas s existem
porque no compreendemos a lgica de
nossa linguagem. $e o destino do
Ocidente, como pensa Heidegger, esteve,
ou est, ameaado h mais de dois mil
anos porque esquecemos o ser, Wittgens-
tein aponta para a inutilidade de qualquer
esforo tendente a corrigir a falha. A
filosofia, diz o autor, apenas apresenta as
coisas. Fla no esclarece nem deduz nada,
pois, estando tudo a vista, nada h a
esclarecer. $e alguma coisa est oculta,
isso no nos interessa, l-se no pargrafo
1!o das I.. //./. (Fundao
Calouste Gulbenkian, 1).
O que o filsofo tradicional classifica
de problemas filosficos, Wittgenstein
diagnostica como iluses gramaticais.
Fstas que nos induzem aos equvocos
lingsticos. Quando falamos das coisas
que nos cercam, em vez de as compreen-
dermos, damos-lhe interpretaes
erradas. Quando fazemos filosofia somos
como selvagens, homens primitivos, que
ouvem as expresses dos homens civili-
zados, interpretam-nas erradamente e
maro/2001 - Cul t 63
0 0
Wi ttgenstei n
R
e
p
r
o
d
u
o
tiram, da sua interpretao, as concluses
mais extravagantes (pargrafo 1-, parte
1, I.. //./.).
$e a origem do que se convencionou
chamar de problemas filosficos decorre
da falta de compreenso de nossa
linguagem, Wittgenstein declara que a
funo principal do 1../ est em
investigar o que pode ser dito claramente,
isto , descobrir o que pode ser expresso
sem erros pela linguagem. Conhecida a
lgica da linguagem, dissolvem-se os
problemas filosficos, na verdade, insiste
nosso filsofo, falsos problemas, ou
problemas surgidos quando o que deve
ser silenciado termina por ser dito. No
pargrafo final do 1../, encontra-se
a frase-resumo que Wittgenstein ps em
circulao no lxico filosfico contem-
porneo: !... o. / ///.
/.// o/ o. /v. Acerca
daquilo de que no se pode falar, deve-se
silenciar."
Lm crtico hostil a Heidegger, o
ingls Roger $cruton, descreveu o
pensamento do filsofo alemo como
vtima de um fenmeno apontado por
Wittgenstein, qual sea, o do enfeitia-
mento do intelecto, doena - pois assim
ele trata a velha maneira de filosofar -
contrada por meio da linguagem. O pen-
samento de Heidegger, conforme mostra
a avassaladora bibliografia acumulada em
torno dele desde seu surgimento, se presta
a interpretaes as mais desencontradas.
$ua fortuna crtica percorre um arco que
contempla variados matizes ideolgicos:
desde a afirmao de Dacir ^enezes,
um hegeliano de direita, de que a filosofia
de Heidegger (e, por extenso, todas as
correntes afins) produto da ressaca
ideolgica de uma fase histrica, carac-
terizada pelo desprestgio do valor epis-
temolgico da razo, passando pela
anlise algo receptiva do marxista Lucien
Goldmann, at desembocar na recusa
total de um Lukcs, para quem as idias
do autor de 1o/. no passam de
uma quarta-feira de cinzas do
subetivismo parasitrio.
Heidegger, conforme sua obra e
registros biogrficos fazem supor, adotava
uma posio olmpica - para uns, de
elegante desprezo - diante do ulgamento
de seus contemporneos. F possvel, me
permito divagar, que a esse respeito ele
adotasse como lema a mxima heracltica:
se no houvesse inustia, ignorar-se-ia at
o nome da ustia.
0080f98008.
1. F conhecida a posio de Heidegger
contrria a que o classificassem de
existencialista, pois, como ele mesmo
declarou, a questo que o preocupava era
a do ser em seu conunto e enquanto tal, e
no a existncia do homem. Tambm no
se ignora a averso do filsofo a algo que
se pudesse chamar de heideggeriano, pois
aceit-lo implicaria na aceitao da idia
de sistema, que ele via como suspeita e
expresso metafsica da vontade de poder.
No obstante isso, e para efeito mera-
mente de registro, mas importante para
mim, informo que no sou heideggeriano,
embora o tenha sido dcadas atrs.
Heidegger, aceite-se ou no, um pensa-
dor que est no horizonte cultural de
nossa poca. $e, como disse o poeta W.H.
Auden, Freud tornou-se um clima de
opinio, a mesma avaliao, no mbito
da filosofia, pode ser estendida a
Heidegger.
Z. Lma questo inevitvel quando se
menciona o nome de Heidegger diz
respeito a sua relao ambgua com o
nazismo. Tornou-se, em termos filos-
ficos, ./ //. Lma mancha gravs-
sima em sua biografia, sem dvida, mas
que no pode ofuscar o valor de sua obra,
buscando fili-la a uma genealogia filo-
sfica que traria em germe os aspectos
sinistros do hitlerismo. Quando se adota
tal postura, no af de denegrir o pensador
e seu pensamento, descamba-se para o
caricatural, como o fez Lukcs, em seu
lamentvel c ../. ` .:., livro-sntese,
no mbito da filosofia, do perodo da
Guerra Fria. Noutra vertente, tampouco
salutar o nimo apologtico de muitos
admiradores de Heidegger, teimosa-
mente cegos as verdades biograficamente
incmodas de seu mestre. Por isso, as
excees a essa prtica de hagiologia
menor so sempre bem-vindas. Na
bibliografia brasileira em torno do tema
tornaram-se referncias indispensveis
H/ / - Uo .. ./ .
///././ /. //../., de Zelko
Loparic (Papirus, 1u) e ^. o/. /.
/o. c/. .., de Benedito Nunes
(Atica,1!).
J oo da Penha J oo da Penha J oo da Penha J oo da Penha J oo da Penha
autor, dentre outros, de O que existencialismo
(Brasiliense), Per odos fi losfi cos e Wi ttgenstei n
(ambos pela tica), alm dos inditos Proust e Bergson:
Aproxi maes e O marxi smo de Sartre
64 Cul t - maro/2001 64
Cartas para a revista CLLT devem ser enviadas para a Lemos Fditorial (r. Rui Barbosa, u, $o Paulo, CFP u1!!o-u1u). ^ensaens
via fax podem ser transmitidas pelo tel. 11/!1--!uu e, via correio eletrnico, para o e-mail cult_lemos.com.br`.
Os textos publicados nesta seo podero ser resumidos ou publicados parcialmente, sem alterao de contedo.
, A E J H + 7 6
Guimares Rosa
Na ltima parte de minha resenha, His-
tria, psique e metalinguagem em Gui-
mares Rosa [CULT 43], que tratava
do livro O O, de Joo Adolfo Hansen,
faltou importante nota sobre resenha de
Marlia Librandi (O O o livro e a
fico da leitura de Joo Adolfo Han-
sen, revista Magma n 7, USP, no pre-
lo), da qual aproveitei a formulao so-
bre a diviso dos captulos. O leitor da
prxima Magma notar tambm que as
resenhas trazem viso diametralmente
oposta sobre o livro em questo e que
uso, nessa inverso de pontos de vista,
a idia da autora de que O O formaria
o infinito, no entanto, brincando com
isso, j que se trata de um dos nomes
do diabo e que, para Hansen, a lingua-
gem, demonaca, gira infinitamente
sobre si mesma. Sou contudo (apesar
das marcadas diferenas de viso) deve-
dora da resenha da autora, que escla-
receu linhas de fundo do trabalho do
crtico.
Ana Paula Pacheco
So Paulo, SP
Nelson Rodrigues &
Shakespeare
Resposta do jornalista Fernando Mar-
ques carta do leitor Alexandre Alves
publicada na CULT 42.
Um pouco de polmica. Em artigo
sobre Nelson Rodrigues, intitulado Um
teatro hiperblico, publicado na CULT
41, eu brincava dizendo que, se quere-
mos homenagear Nelson, no devemos
cham-lo de nosso Shakespeare, j
que a referncia somos ns, deve estar
deste lado do Atlntico. Portanto, di-
zia, o mais lisonjeiro e exato ser
admitir que Shakespeare, vamos e
venhamos, o Nelson Rodrigues dos
ingleses. O leitor Alexandre Alves
aceitou a provocao e, embora
percebendo o evidente tom de brinca-
deira, reagiu em carta publicada na
CULT 42, falando em absurdo que
fecha em tom menor um texto que de
resto seria excelente. Obrigado,
Alexandre, pelo excelente. Situados
os termos, quero dizer o seguinte: a
obra de Shakespeare pelo menos duas
vezes mais extensa que a de Nelson,
mais rica e variada tematicamente que
a de Nelson e dotada de registros e de
recursos formais tambm mais ricos e
numerosos que os utilizados na drama-
turgia do brasileiro se que faz sen-
tido comparar os dois autores. Suspeito,
porm, que o que incomodou Alexan-
dre Alves no foi o pretenso desprop-
sito literrio da aproximao bem-hu-
morada que tentei fazer, mas o ataque
(o belisco, digamos) a certo provin-
cianismo congnito pelo qual estamos
todos ns, brasileiros, solidamente
convictos de que os autores nascidos
por aqui, nestes trpicos mal-amanha-
dos, jamais se podero comparar nem
de brincadeira! aos maiores nomes
do cnone ocidental. Alexandre no
est s: pelo menos trs amigos meus,
que consultei, concordam (divertidos
com a pendenga, verdade) com ele.
Acreditam, portanto, em valores
intocveis, com os quais temerrio
brincar. (Trs! quase uma unanimi-
dade.) Esse complexo de vira-lata
muito nosso, como o samba, a pronti-
do e outras bossas: os franceses no
ficariam chocados caso se comparasse
Molire a Shakespeare; os alemes no
tm pudor em comparar Goethe a
Shakespeare; portugueses e espanhis
no se escandalizariam caso se aproxi-
masse Gil Vicente ou Caldern do poe-
ta ingls. E ns? Ns achamos graa
da travessura segundo a qual Shakes-
peare o Nelson Rodrigues dos ingle-
ses. Ou ficamos indignados com o
absurdo. Reafirmo, diante de meus
caros zeladores do panteo literrio,
que Nelson, a meu ver, embora no
tenha a amplitude de Shakespeare, traz
para o debate ltero-teatral aspectos
estetica e humanamente vitais que no
se encontram nas peas do ingls nem
nas de nenhum outro autor, vivo ou mor-
to. A provocao surtiu efeito, era essa
tambm a minha inteno, est tudo
certo, mas repito: Nelson (no s ele,
mas dele que falamos agora) nos des-
provincianiza, lanando o texto teatral
brasileiro no mapa-mndi literrio com
a fora de um... de um... Sfocles.
Fernando Marques
Braslia, DF
Autran Dourado
Assinar a CULT foi uma deciso mara-
vilhosa. Tem sido um prazer me infor-
mar por meio de leituras to ricas e
por isso que venho solicitar matria com
o nosso premiado Autran Dourado.
Tenho acompanhado o percurso desse
mineiro e foi com satisfao que li a
notcia de sua mais recente conquista:
o Prmio Cames de Literatura. De
maneira belssima o escritor recomenda
que se leia, pois quem l refaz os
caminhos que a gente traa e disfara.
Que tal atender a esse pedido?
Lenice Pimentel
Macei, AL
Crtica Literria
A crtica literria em nosso pobre e rico
Brasil divide-se em duas grandes
correntes: (i) os cegos, voltados para o
prprio umbigo, confundindo literatura
com a merda da comunicao de
massa ou os mass-media; e (ii) aqueles
que tm olhos de ver: CULT, Medusa,
Cigarra, Inimigo Rumor, O Carioca,
Babel, O Po... so as revistas que na
solido da Mega-L-Polis, orientam a
viagem do Leitor, Autor/ Criador.
Pedrinho Renzi
Araraquara, SP
Ernst Jandl
Parabns pelo timo artigo/biografia
sobre o poeta Ernst Jandl, publicado na
CULT 42. Sou assinante da mesma e
gostaria de solicitar uma luz sobre a
poesia visual/experimental (atual) do
Brasil (lembrem do Nordeste tam-
bm!!!).
Avelino de Araujo
por e-mail
Londres Literria
Gostei muito do texto O palco da
anarquia, de Marcello Rollemberg,
publicado na seo Turismo Literrio
da CULT 42. Porm, no pude acreditar
na omisso da fascinante Poetry Library
no South Bank Centre. Quero preencher
essa omisso com uma sugesto de
visita tima biblioteca da poesia que,
alm dos livros, tem um acervo rico de
udio e vdeo. Ao visitar Londres,
assista a um vdeo na Poetry Library!!!
Imperdvel!
Laurita Caldas
por e-mail
Você também pode gostar
- A Ilusão de Segurança Jurídica - Do Controle Da Violência À Violência Do Controle Penal - Andrade - Portal Jurídico InvesDocumento25 páginasA Ilusão de Segurança Jurídica - Do Controle Da Violência À Violência Do Controle Penal - Andrade - Portal Jurídico InvespacegraAinda não há avaliações
- Livro História Da Filosofia Ocidental - Bertrand RussellDocumento489 páginasLivro História Da Filosofia Ocidental - Bertrand Russellpacegra100% (1)
- Relação Dos 22 Raios Da Fraternidade BrancaDocumento10 páginasRelação Dos 22 Raios Da Fraternidade BrancaJosé Carlos Cavalheiro100% (10)
- Adorno Rodrigo Duarte Sobre Indústria CulturalDocumento11 páginasAdorno Rodrigo Duarte Sobre Indústria CulturalKerol BomfimAinda não há avaliações
- Resenha Da Obra de Pierre Fedida - DepressãoDocumento14 páginasResenha Da Obra de Pierre Fedida - DepressãoJonson FreitasAinda não há avaliações
- BARTHES, Roland - Como Viver Junto?Documento19 páginasBARTHES, Roland - Como Viver Junto?Mônica Menezes100% (1)
- Cult Ed 272 (Riva) Agosto 2021Documento44 páginasCult Ed 272 (Riva) Agosto 2021Jorge SilvaAinda não há avaliações
- Tempo e Subjetividades: Perspectivas PluraisDocumento198 páginasTempo e Subjetividades: Perspectivas PluraisedAinda não há avaliações
- Cult 23. Lygia Fagundes Telles, Jun de 1999Documento64 páginasCult 23. Lygia Fagundes Telles, Jun de 1999Carlos Eduardo BioneAinda não há avaliações
- Aceleração Do Tempo e Mal-Estar Contemporâneo - Cultura No DivãDocumento5 páginasAceleração Do Tempo e Mal-Estar Contemporâneo - Cultura No DivãMelinoe PandAinda não há avaliações
- Cult 28, Freud, Nov de 1999 PDFDocumento62 páginasCult 28, Freud, Nov de 1999 PDFAlessandra BertazzoAinda não há avaliações
- Magazine Cult 33, Manuel Bandeira, Abr de 2000Documento63 páginasMagazine Cult 33, Manuel Bandeira, Abr de 2000pdffullAinda não há avaliações
- CULT - Revista Brasileira de Literatura - 03 - Revista CULTDocumento48 páginasCULT - Revista Brasileira de Literatura - 03 - Revista CULTwagnerjosemcAinda não há avaliações
- Revista Cult - A Lingua de Freud e A NossaDocumento22 páginasRevista Cult - A Lingua de Freud e A NossaScheherazade Paes100% (1)
- CULT Especial N°64 - Cristianismo e ModernidadeDocumento76 páginasCULT Especial N°64 - Cristianismo e ModernidadeJúnior Curvelo SantanaAinda não há avaliações
- Texto - Joel Birman - As PulsõesDocumento21 páginasTexto - Joel Birman - As PulsõesBrunnamartelliAinda não há avaliações
- CULT - Revista Brasileira de Literatura - 02 - Revista CULTDocumento54 páginasCULT - Revista Brasileira de Literatura - 02 - Revista CULTwagnerjosemcAinda não há avaliações
- CULT - Revista Brasileira de Literatura - 05 - Revista CULTDocumento59 páginasCULT - Revista Brasileira de Literatura - 05 - Revista CULTwagnerjosemcAinda não há avaliações
- Cult 141Documento21 páginasCult 141Mayara PinheiroAinda não há avaliações
- Freud e A Arte - Revista CultDocumento20 páginasFreud e A Arte - Revista CultEveraldo SkrockAinda não há avaliações
- Folhetim 17-18 - Versão FinalDocumento190 páginasFolhetim 17-18 - Versão FinalKátia MelloAinda não há avaliações
- As Traduções de Freud e A Saída de Benjamin (Ernani Chaves)Documento6 páginasAs Traduções de Freud e A Saída de Benjamin (Ernani Chaves)Polyana CorrêaAinda não há avaliações
- A Estrutura Da Bolha de Sabão - Telles, Lygia Fagundes PDFDocumento80 páginasA Estrutura Da Bolha de Sabão - Telles, Lygia Fagundes PDFGabi CoelhoAinda não há avaliações
- Cult ContraculturaDocumento29 páginasCult ContraculturaFelipe Bruno100% (5)
- A IGREJA GAY, Por ANDREW SULLIVANDocumento22 páginasA IGREJA GAY, Por ANDREW SULLIVANMario BertonyAinda não há avaliações
- Literatura e Psicanalise Sobre o Tempo ReinventadoDocumento312 páginasLiteratura e Psicanalise Sobre o Tempo ReinventadoMarcio CarneiroAinda não há avaliações
- 009 - BURKE, Peter. A História Cultural Dos Sonhos.Documento15 páginas009 - BURKE, Peter. A História Cultural Dos Sonhos.rggerresv gre4 erAinda não há avaliações
- Conversa Sobre BlanchotDocumento5 páginasConversa Sobre BlanchotGisett LaraAinda não há avaliações
- Pernambuco Março 2017Documento24 páginasPernambuco Março 2017André MalinskiAinda não há avaliações
- Revista Cult #273 Setembro 2021Documento43 páginasRevista Cult #273 Setembro 2021Mayrá Lobato100% (1)
- Pierre FedidaDocumento7 páginasPierre FedidaJúlio MartinsAinda não há avaliações
- A Noção de LalinguaDocumento215 páginasA Noção de LalinguaClarice TulioAinda não há avaliações
- Cult 2020 05Documento52 páginasCult 2020 05Jorge Alexandre Oliveira Alves100% (4)
- Cult 258 - Cancelamento Da CulturaDocumento47 páginasCult 258 - Cancelamento Da CulturaMaria GabrielaAinda não há avaliações
- Sentir e Saber - Antonio DamasioDocumento187 páginasSentir e Saber - Antonio DamasioleonardorrreisAinda não há avaliações
- O Que É LesbianismoDocumento51 páginasO Que É LesbianismoMrgtCarvalho100% (1)
- APPOA - Estruturas Clíncias, Revista 38-2 PDFDocumento56 páginasAPPOA - Estruturas Clíncias, Revista 38-2 PDFTatiane LindemannAinda não há avaliações
- Ferreira Gullar Muitas Vozes-E-booksDocumento17 páginasFerreira Gullar Muitas Vozes-E-booksLeo Menezes100% (1)
- Novo Dicionário de Migalhas Da Psicanálise LiteráriaDocumento374 páginasNovo Dicionário de Migalhas Da Psicanálise LiteráriaEwerton Martins RibeiroAinda não há avaliações
- Revista Cult ROUDINESCO 'Lacan É Um Lógico Que Desafia A Lógica', Diz Elisabeth RoudinescoDocumento4 páginasRevista Cult ROUDINESCO 'Lacan É Um Lógico Que Desafia A Lógica', Diz Elisabeth RoudinescoEugenia GonzálezAinda não há avaliações
- ANTELO, Raul - Objecto TextualDocumento24 páginasANTELO, Raul - Objecto TextualTereza HahnAinda não há avaliações
- A Perversao Cinco Atos Prova02Documento102 páginasA Perversao Cinco Atos Prova02Matheus Orlando100% (1)
- De Café e de Leite - Rosa Maria Rodrigues Dos SantosDocumento5 páginasDe Café e de Leite - Rosa Maria Rodrigues Dos Santosmaicon100% (1)
- Revista CULT 235. Ano21. Dossiê-Os 40 Anos Movimento LGBT No Brasil. Junho.2018 PDFDocumento28 páginasRevista CULT 235. Ano21. Dossiê-Os 40 Anos Movimento LGBT No Brasil. Junho.2018 PDFmcarvalho_96188Ainda não há avaliações
- O Eu-Pele Psicanalise Colecao Dirigida PDocumento307 páginasO Eu-Pele Psicanalise Colecao Dirigida PsuzanaAinda não há avaliações
- Cult 16, Stephane Mallarme, Nov de 1998Documento61 páginasCult 16, Stephane Mallarme, Nov de 1998Filosofo_Felix100% (1)
- Haroldo de Campos A Dialogue With The Brazilian Concrete Poet - Charles Perrone PDFDocumento5 páginasHaroldo de Campos A Dialogue With The Brazilian Concrete Poet - Charles Perrone PDFluciusp45Ainda não há avaliações
- PAZ Octavio - Marcel Duchamp - FichamentoDocumento2 páginasPAZ Octavio - Marcel Duchamp - FichamentovenisemeloAinda não há avaliações
- LIVRO MHD e PHCDocumento440 páginasLIVRO MHD e PHCMafe DiogoAinda não há avaliações
- BARTHES, Roland. Escrever, Verbo Intransitivo. in O Rumor Da Língua PDFDocumento13 páginasBARTHES, Roland. Escrever, Verbo Intransitivo. in O Rumor Da Língua PDFDarcio Rundvalt100% (2)
- Revista CULT-Queer - Cultura e Subversão Das Identidades (2015)Documento46 páginasRevista CULT-Queer - Cultura e Subversão Das Identidades (2015)Viviane Oliveira100% (1)
- Reportagem Entrevista-Revista CultDocumento22 páginasReportagem Entrevista-Revista CultEmy MafraAinda não há avaliações
- Cult #259 - A Personalidade Autoritaria Ho - Varios AutoresDocumento47 páginasCult #259 - A Personalidade Autoritaria Ho - Varios AutoresAndré Barros LeoneAinda não há avaliações
- Dossie Walter Benjamin - Revista Cult 24 PDFDocumento22 páginasDossie Walter Benjamin - Revista Cult 24 PDFOtavio F.100% (1)
- Cadernos de Subjetividade 14 (2012)Documento130 páginasCadernos de Subjetividade 14 (2012)Chana Carolina Patto ManfrediniAinda não há avaliações
- História Cultural Do Brinquedo - Walter BenjaminDocumento5 páginasHistória Cultural Do Brinquedo - Walter BenjaminFelipe X GiseleAinda não há avaliações
- 2012 Lalingua InatingivelDocumento10 páginas2012 Lalingua InatingivelRicardo RochaAinda não há avaliações
- Na Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoNo EverandNa Poesia Viva: A Poesia Contemporânea em Frente e VersoAinda não há avaliações
- O Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariNo EverandO Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariAinda não há avaliações
- Manual PDFDocumento63 páginasManual PDFpacegraAinda não há avaliações
- Carlos Roberto Velho Cirne-LimaDocumento4 páginasCarlos Roberto Velho Cirne-LimapacegraAinda não há avaliações
- Direitos Humanos e Cidadania PETTERS MELODocumento44 páginasDireitos Humanos e Cidadania PETTERS MELOpacegraAinda não há avaliações
- O Direito Como Const Social e Produto CulturalDocumento6 páginasO Direito Como Const Social e Produto CulturalpacegraAinda não há avaliações
- Conceito de Ordem PúblicaDocumento11 páginasConceito de Ordem PúblicaRamiro AraújoAinda não há avaliações
- Ações Afirmativas - Flavia PiovesanDocumento13 páginasAções Afirmativas - Flavia PiovesanCarolina Câmara PiresAinda não há avaliações
- CORPO E BIOPOLÍTICA - PODER SOBRE A VIDA E PODER DA VIDA Selvino AssmannDocumento9 páginasCORPO E BIOPOLÍTICA - PODER SOBRE A VIDA E PODER DA VIDA Selvino AssmannpacegraAinda não há avaliações
- Martin Heidegger e A Técnica Franklin Leopoldo e SilvaDocumento6 páginasMartin Heidegger e A Técnica Franklin Leopoldo e SilvapacegraAinda não há avaliações
- A Natureza Humana Segundo MaquiavelDocumento4 páginasA Natureza Humana Segundo MaquiavelpacegraAinda não há avaliações
- A Existência Como Projeto Vital em Ortega y GassetDocumento4 páginasA Existência Como Projeto Vital em Ortega y GassetpacegraAinda não há avaliações
- Freud CriminologoDocumento31 páginasFreud CriminologopacegraAinda não há avaliações
- A Magia Dos SalmosDocumento31 páginasA Magia Dos SalmosFraterIgorUmbraObiciturAinda não há avaliações
- Dicionario Biblico de VerbetesDocumento50 páginasDicionario Biblico de VerbetesSimoneSantosAinda não há avaliações
- Bibliologia Prerivelton PDFDocumento99 páginasBibliologia Prerivelton PDFRichard MirandaAinda não há avaliações
- Sigilo Do Sacramento Da Reconciliação PDFDocumento77 páginasSigilo Do Sacramento Da Reconciliação PDFAntônio Murilo Macedo da LuzAinda não há avaliações
- Arquivo Histórico Da Cúria Metropolitana de NitéroiDocumento24 páginasArquivo Histórico Da Cúria Metropolitana de NitéroiDrJafther Nohan100% (1)
- E-Book Gratuito Sobre o Espírito Santo 2024 Ciadescp KidsDocumento17 páginasE-Book Gratuito Sobre o Espírito Santo 2024 Ciadescp KidsTia shirlei nascimentoAinda não há avaliações
- Oração para Abertura de GiraDocumento2 páginasOração para Abertura de GiraLuis FerreiraAinda não há avaliações
- Temperamentos Transformados 3 - Ministerio LibertaçãoDocumento35 páginasTemperamentos Transformados 3 - Ministerio LibertaçãoRoberto De Sousa100% (6)
- Hana KotobaDocumento16 páginasHana KotobaMaiaAinda não há avaliações
- DEZEMBRODocumento20 páginasDEZEMBROEscola JuvenalAinda não há avaliações
- Estudo Sobre A Genealogia de JesusDocumento4 páginasEstudo Sobre A Genealogia de JesusMoysés LautenschlagerAinda não há avaliações
- São João Crisóstomo - Comentário A MC 10,32-45Documento2 páginasSão João Crisóstomo - Comentário A MC 10,32-45Valtair Afonso Miranda100% (1)
- Mario Ferreira Dos Santos Biografia BreveDocumento5 páginasMario Ferreira Dos Santos Biografia BrevemakeallAinda não há avaliações
- Markus DaSilva Sem Santidade Ninguem Vera A Deus Parte 1 Santo Santo Santo A Santidade de DeusDocumento4 páginasMarkus DaSilva Sem Santidade Ninguem Vera A Deus Parte 1 Santo Santo Santo A Santidade de DeusFábio MenezesAinda não há avaliações
- PasseDocumento36 páginasPassemonicahgomes4247100% (3)
- Tiago 5.1-11Documento6 páginasTiago 5.1-11Canal 100 DiscórdiaAinda não há avaliações
- A Cidade RomanaDocumento3 páginasA Cidade RomanaCatarina SantosAinda não há avaliações
- Ruja o Leão Simplificada Talita CatanzaroDocumento3 páginasRuja o Leão Simplificada Talita CatanzaroSergio BorgesAinda não há avaliações
- Ocupado Demais para Deixar de Orar 1cap PDFDocumento26 páginasOcupado Demais para Deixar de Orar 1cap PDFLeticia Lopes100% (1)
- CRUCIGRAMADocumento1 páginaCRUCIGRAMAAdrián F. OlguínAinda não há avaliações
- Resenha Espiral HermenêuticaDocumento3 páginasResenha Espiral HermenêuticaIsael Souza100% (1)
- A Monadologia Leibniziana Comentada Por HegelDocumento2 páginasA Monadologia Leibniziana Comentada Por HegelJOSE DE SA ARAUJO NETOAinda não há avaliações
- Poemas Da PoliDocumento17 páginasPoemas Da PoliPoliana Kondraski MagalhãesAinda não há avaliações
- Instrução de CabaláDocumento30 páginasInstrução de CabaláKal Reis100% (2)
- Fichamento 2 - Max Weber - Susy Karine Silva de Almeida Marques-Direito UfrrDocumento6 páginasFichamento 2 - Max Weber - Susy Karine Silva de Almeida Marques-Direito UfrrSusy KarineAinda não há avaliações
- Restaurando o Altar em Sua VidaDocumento6 páginasRestaurando o Altar em Sua VidaOdilon100% (1)
- Jesus o Nosso Guarda-ChuvasDocumento5 páginasJesus o Nosso Guarda-ChuvasTarcisio Érica100% (1)
- Cirurgi o Dentista PDFDocumento8 páginasCirurgi o Dentista PDFnaiaras2Ainda não há avaliações
- História 2Documento74 páginasHistória 2Lívia Cezar BayerlAinda não há avaliações