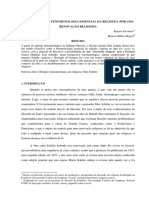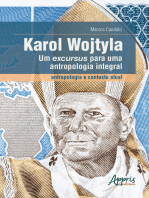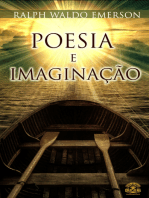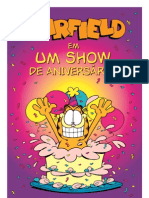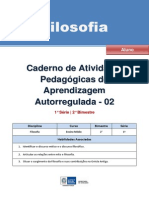Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
PDF Max Scheler
PDF Max Scheler
Enviado por
Felipe ProençaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
PDF Max Scheler
PDF Max Scheler
Enviado por
Felipe ProençaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA
O PERCEBER DO VALOR NA TICA MATERIAL DE MAX SCHELER
SRGIO AUGUSTO JARDIM VOLKMER
Dissertao apresentada como requisito parcial obteno do grau de Mestre em Filosofia pelo Programa de PsGraduao em filosofia da Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Orientador: Prof. Dr. Pergentino Stefano Pivatto
Porto Alegre, Junho de 2006
O PERCEBER DO VALOR NA TICA MATERIAL DE MAX SCHELER
SRGIO AUGUSTO JARDIM VOLKMER
Dissertao apresentada como requisito parcial obteno do grau de Mestre em Filosofia pelo Programa de PsGraduao em Filosofia da Faculdade de Filosofia e Cincias Humanas da Pontifcia Universidade Catlica do Rio Grande do Sul.
Aprovado em _____ de _______________ de _______
Banca examinadora:
Prof. Dr. Pergentino Stefano Pivatto PUCRS (orientador)
_____________________________________
Prof. Dr. Ernildo Stein PUCRS
_____________________________________
Prof. Dr. Osmar Miguel Schaeffer UCPEL
_____________________________________
AGRADECIMENTOS
Ao Prof. Pergentino Stefano Pivatto, meu orientador, pela orientao sbia, compreensiva e encorajadora, autntico filsofo que vive a filosofia; Ao pai e me, que me deram indispensvel apoio para desenvolver este trabalho; Margarth, que com seu afeto tem me acompanhado e estimulado neste percurso; Profa. Neusa Vaz e Silva, que gentilmente me cedeu a tica de Scheler, quando quase j no mais esperava encontrar; Ao CNPq, pelo apoio que permitiu dedicar-me pesquisa e a viver a filosofia; PUCRS, ao PPG em Filosofia e seus professores, por manter o empenho em criar um ambiente acadmico cada vez mais humano; Aos colegas de mestrado, pelas boas discusses e contribuies; Aos professores da banca da pr-defesa, enriquecedoras, algumas mesmo instigantes; pelas orientaes
A todos que, de algum modo, contriburam para minha realizao atravs deste trabalho; A Deus, por me abrir este caminho para conhecer o valor do que bom.
RESUMO
Este trabalho traz o resultado de uma investigao sobre a fundamentao gnosiolgica e antropolgica da tica material dos valores de Max Scheler, enfocando sobretudo a percepo dos valores na sua chamada fase fenomenolgica, cuja obra mais marcante O formalismo na tica e a tica material dos valores (1913-1916). Na dimenso gnosiolgica, a percepo dos valores tem carter sentimental ou emocional, ou ainda dito afetivo. Isto significa que o esprito tem atos de intuio que no se limitam aos atos da conscincia intelectiva. Os atos de perceber sentimental so atos intencionais pelos quais o valor se d de modo imediato para o esprito. A conscincia intelectiva somente tem acesso ao valor de modo mediado. O saber emocional ou afetivo anterior ao conhecer intelectivo. o que d a este seus objetos. Isto se apia em novas perspectivas antropolgicas. A antropologia de Max Scheler sepulta de vez o puro idealismo racionalista. O ser conhecedor um ser vivente. Trata-se de uma viso de homem que mantm o p na matria mesma da vida, nos impulsos da natureza, nas vrias esferas de ser que o constituem, sem ser naturalista: a esfera do ser vivente em geral, a esfera animal, a esfera da comunidade, e a esfera do esprito, o diferencial pelo qual o homem se constitui como pessoa. A pessoa centro espiritual de atos ligado dimenso do vivente, ser livre que pode e deve transitar entre as suas esferas constituintes, s quais esto relacionados os valores. Voltando assim tica, da mesma forma que na antropologia a idia de esferas hierrquicas aponta para uma superioridade dos valores menos relativos ao que contingente, superando assim tanto a tica idealista quanto a empirista, e fazendo sobressair o valor absoluto da pessoa. O ato bom o que vai alm da boa inteno, e realiza concretamente um bem no mundo. O bem maior a realizao da pessoa.
Palavras-chave: tica. tica material. Valores. Percepo. Antropologia. Pessoa.
SUMRIO
1. INTRODUO .................................................................................................................. 7 2. PARADIGMA FILOSFICO DE SCHELER ............................................................. 11 2.1. Por sobre o legado de Husserl ............................................................................. 11 2.1.1. Cincia de rigor, obra de muitos, processo ........................................... 11 2.1.2. Significao, atos objetivantes e atos no objetivantes ........................ 15 2.1.3. Vivncias cognoscitivas........................................................................ 15 2.2. A filosofia de Scheler, a fenomenologia e os valores.......................................... 16 2.2.1. Filosofia: atitude e auto-constituio ................................................... 19 2.2.2 O filsofo e a filosofia ........................................................................... 23 2.2.3 O novo paradigma fenomenolgico de Scheler e reflexes sobre algumas de suas investigaes............................................... 24 2.3. Gnosiologia.......................................................................................................... 29 2.3.1. O ponto de partida: o objeto, o dado a priori, as essncias ........................................................... 29 2.3.2. A doutrina dos trs fatos do conhecimento........................................... 31 2.3.3. A ordem das evidncias ....................................................................... 32 2.3.4. Cosmovises ........................................................................................ 34 2.3.5. Meio e mundo circundante.................................................................... 35 2.3.6. O objeto filosfico: a essncia pura como dado a priori ....................... 37 Reflexes............................................................................................... 39 2.3.7. A distino entre a priori formal e material ......................................... 42 2.4. O mtodo filosfico como ato de participao no ser ......................................... 44 2.4.1. Participao do ser da pessoa no ser essencial...................................... 44 2.4.2. A condio moral da atitude espiritual do filosofar.............................. 45 2.4.3. O mtodo filosfico e o enfoque fenomenolgico................................ 47 2.5 O conhecimento do valor....................................................................................... 51 2.5.1. A aprioridade do perceber sentimental.................................................. 53 Reflexes............................................................................................... 56 2.5.2. Estratos da vida emocional ................................................................... 60 2.5.3. Os valores.............................................................................................. 63 a) Uma objetividade do valor? ............................................................. 63 b) A materialidade do valor ................................................................. 65
c) A aprioridade da intuio do valor................................................... 66 Reflexes............................................................................................... 68 2.6. A tica e o interesse antropolgico ..................................................................... 72 2.7. Racionalidade e Esprito ...................................................................................... 77 3. VISO ANTROPOLGICA DE SCHELER: O PERSONALISMO HUMANISTA.................................................................................. 81 3.1 As esferas de ser no homem ................................................................................. 81 3.2 A diferena essencial do homem: o esprito, a pessoa e o ato de ideao ....................................................................... 85 3.3 A posio do homem no cosmos .......................................................................... 86 4. OS VALORES E A TICA ............................................................................................. 89 4.1. A obra O formalismo na tica e a tica material dos valores........................... 89 4.2. ticas materiais e formais a posteriori superadas .............................................. 93 4.3 A tica material a priori dos valores .................................................................... 97 4.3.1. Fenomenologia do a priori na tica de Scheler .................................... 97 4.3.1.1. Conexes essenciais formais:................................................. 97 a) Conexes formais da essncia mesma dos valores ......................... 98 b) Conexes entre essncias dos valores e seus depositrios.............. 99 4.3.1.2. Conexes essenciais materiais:.............................................. 99 Relaes entre hierarquia dos valores e ato de preferir....................... 99 4.3.2. A hierarquia a priori formal e material na tica ................................ 103 4.3.2.1. A hierarquia formal: as conexes entre a hierarquia e os depositrios ............................. 103 4.3.2.2. A hierarquia material o a priori material da tica: as relaes de altura entre as modalidades de valores materiais ou extra-morais ................................................................ 104 4.3.3. O valor moral ou tico: o bom e o mau............................................... 107 4.3.4. O valor do ato, da matria, e da pessoa............................................... 111 4.3.5. O amor e o valor absoluto da pessoa .................................................. 114 5. CONCLUSO................................................................................................................. 117 REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS ............................................................................. 124
1. INTRODUO
De Nazar pode sair algo de bom? Vem e v(Jo 1,46). De tudo o que se edifica, sempre me interessou de modo especial a compreenso dos fundamentos. Ter uma clara compreenso dos fundamentos da tica de suma importncia, uma vez que a tica tema recorrente na vida atual, porm as discusses que surgem freqentemente na cena poltica e social em geral no aprofundam questes fundamentais sobre a tica, sobretudo de onde parte o juzo tico, uma vez que a tica busca uma fundamentao racional para o agir humano, isto , saber em qu se fundamenta racionalmente a tica. Na construo terica da tica como disciplina filosfica, a questo de seus fundamentos foi tema de estudo para Max Scheler. Em sua abordagem do problema, a concepo sobre a essncia da tica inicialmente partiu de um esforo por mostrar a superao tanto das deficincias da viso formalista da herana kantiana, como da viso exclusivamente materialista da tica dos bens e fins. Como participante da herana fenomenolgica, Scheler percebe que insustentvel um puro formalismo racional do dever sem um preenchimento intuitivo, uma inteno puramente formal, sem matria. O fundamento para a tica no pode estar simplesmente no dever como categoria formal a priori da razo, o que levaria a uma tica imperativa e arbitrria, uma tica do ressentimento, que no dizer de Reale e Antisseri, em nome do dever, esteriliza e bloqueia a plenitude e a alegria da vida (vol.3,p.567). Scheler, assim como muitos que apoiaram seu impulso, favorvel ou contrariamente, na herana fenomenolgica de Husserl, busca enxergar mais alm do conceito de uma razo por si mesma pura, ou mesmo de sujeito puramente racional. Perseguindo estas intuies, desenvolve uma antropologia centrada na pessoa como ser espiritual, como unidade orgnico-espiritual aberta ao mundo, pessoa como centro de uma ampla gama de atos espirituais intuitivos, intencionais e conscientes, no somente racionais. A pessoa, desde seus mais primitivos estratos de ser, est fundamental e originariamente em uma relao plena de sentido com o meio. H categorias na pessoa que, apesar de no estarem contidas no racional, de modo algum so desprovidas de sentido. Como a simpatia e o amor. A simpatia, no redutvel a um causalidade racional, nos revela o valor do outro como um igual ao eu psico-fsico, no porm seu valor absoluto e irredutvel de pessoa; por isto ainda est restrita a um crculo de relaes
entre aqueles com quem sinto simpatia. O amor, porm, o ato intencional que pode superar os limites psico-fsicos da simpatia, encontrar valor mesmo onde ningum o via, e instaurar uma relao de profundidade, porque tem como objeto o valor absoluto e irredutvel da pessoa. H, pois, um ordre du coeur, e Scheler mostra que isto no quer dizer apenas que h uma outra ordem alm do racional, como uma outra dimenso, mas que nesta dimenso do corao ou dos sentimentos no racionais j h, de fato, ordem e sentido. Estas categorias intuitivas cheias de sentido no se originam simplesmente de juzos da razo, mas esto muito mais ligadas ao puro ato de sentir e vivncia original da vida, e por isto mesmo so muito mais capazes de mover inteiramente e efetivamente a vida e os atos da pessoa do que um juzo da razo. Na verdade, todos sabemos que se pode ter total conhecimento claramente justificado pela razo sobre o que deve ser feito, e no entanto escolher no faz-lo. No se trata de excluir a razo deste processo, mas mostrar que ela no atua sozinha em nossa relao com a realizao de atos de valor. Nessa tentativa de superao da anttese entre formalismo e materialismo e, por outro lado, entre empirismo e apriorismo, e entre subjetivismo e objetivismo, Max Scheler chega concepo de uma experincia especial, a intuio emocional ou sentimental do valor. A intuio emocional ato de perceber intencional, ato que tende ao valor, por isto este o objeto intencional daquele, como as coisas o so do conhecimento teortico racional. Isto significa que h um componente formal e um componente material que se relacionam, sem excluir-se, sendo o ltimo o preenchimento do primeiro e havendo uma ordem de evidncia entre ambos. Na viso de Scheler, o problema do fundamento da tica dependente de uma compreenso do fenmeno dos valores, de seu modo de conhecimento e intuio, e do fundamento antropolgico deste modo de conhecimento. A partir desta concepo Scheler pde definir a tica como um apriorismo moral material. Tratou, ento, de propor a tica como tica dos valores ou tica axiolgica, e at mesmo como uma tica emocional, significando que no pode ser originada simplesmente de um dever, nem dos bens, nem pode ser analisada independentemente dos valores; antes, encontra seu fundamento mesmo no valor intudo por um ato anterior ao racional. um apriorismo material, porque Kant identificara erroneamente a priori com formal. O valor o contedo a priori, no formal, mas material, da tica. Por outro lado, no se trata mais de falar de uma esfera de bens a escolher, uma vez que bens so coisas e fatos, e portanto no podem ser fundamentos a priori. Os valores, porm so essncias ideais. So qualidades pelas quais os bens so ou vm a ser coisas boas. Por outro lado, repousando nos
bens que os valores encontram seu substrato material real, e por isto o sentido de a priori como o dado na intuio mesma de uma vivncia. neste sentido que Scheler prope a tica material dos valores, como oposio, ou melhor, em sentido husserliano, como preenchimento a priori de uma tica formal que se constri de modo a posteriori sobre uma intuio de valor, e como oposio a uma tica material dos bens, igualmente a posteriori porque deduz o dever dos bens, i.e., coisas valiosas no mundo emprico. A principal obra na qual Scheler desenvolve longamente sua fundamentao material da tica O formalismo na tica e a tica material dos valores, que aqui designaremos com a sigla ET, seguindo a edio espanhola intitulada tica. Nuevo ensayo de fundamentacin de un personalismo tico. Empreendendo uma investigao fenomenolgica do valor, Scheler encontra uma hierarquia material nos valores, que poderamos dizer objetiva, se bem que no se trate de uma objetividade ao estilo tradicional, ou husserliana, no sentido de objetividade para uma conscincia intelectiva, e sim de objetos para uma espcie de atos do esprito que designa como perceber afetivo` ou emocional`. Esta hierarquia, em suas linhas gerais, constituda em ordem crescente pelos valores do sensvel, do vital, do espiritual e do sagrado. Veremos neste trabalho por que esta hierarquia o verdadeiro a priori material para a tica de Scheler; como o modo de acesso a esta intuio a priori e que estruturas antropolgicas esto relacionadas a esta espcie de conhecimento; como e por que o valor moral mesmo no se encontra contado entre os valores da hierarquia material, e em que depende destes o valor moral. As citaes de obras em outras lnguas, utilizadas neste trabalho, foram vertidas para o portugus em traduo deste autor. Neste trabalho, utilizaremos as seguintes siglas para as obras de Scheler: EF: La esencia de la filosofia (1917). ET-I e ET-II: tica. Nuevo ensayo de fundamentacin de un personalismo tico. Tomos I e II. (Trata-se da edio em espanhol de O formalismo na tica e a tica material dos valores), (1913-1916). EV: Ensayos de una filosofia de la vida (1913). In Metafisica de la libertad . FG: Fenomenologia y gnoseologia (1913). In La esencia de la filosofia. IH: Para a idia do homem (1914). In A posio do homem no cosmos. IR: Idealismo-Realismo(1928).
10
PC: A posio do homem no cosmos (1928). PH: El porvenir del hombre (1927). In Metafsica de la libertad. RM: O ressentimento na construo das morais (1912). In Da Reviravolta dos Valores. SC: As formas do saber e a cultura (1925). In Viso Filosfica do Mundo. SP: Spinoza (1927). In Viso Filosfica do Mundo. TH: La teoria de los 3 hechos (1912). In La esencia de la filosofia. VM: Viso Filosfica do Mundo (1927). As obras originais em alemo costumam ser designadas sistematicamente no por seu ttulo original, mas pela indicao de sua posio nas obras completas, como Gesammelte Werke, seguido do nmero do volume.
11
2. PARADIGMA FILOSFICO DE SCHELER
Para entender o eixo fundamental do pensamento de um filsofo em geral so mais significativas, em princpio, suas obras finais, pois indicam onde o pensador desejou ou desejaria ter chegado e a maturidade de auto-compreenso alcanada; e o demonstram com mais evidncia sobretudo se o fim de sua vida se aproxima, por revelar seu esforo final e sua meta mais almejada. Ou seja, entend-lo partindo do final para o comeo de sua atividade de pensamento. Se bem que no garantia total de entendimento, uma vez que um autor pode pretender se justificar a si mesmo desde suas ltimas conquistas e compreenses, ressignificando suas primeiras intenes. Tambm, muitas vezes, j em suas obras iniciais encontramos a indicao da direo de seu itinerrio. De todo modo, somente ao final da obra de vida que se tem em mos todos os elementos, de modo que outros podero entender por vezes com mais clareza e ir mais alm do que o prprio autor conseguiu enxergar. Foi o que grande parte dos seguidores da fenomenologia ps-Husserl fizeram. Esta a maravilha do conhecimento significativo, que permite cumulao, ampliao de visadas e perspectivas, e novas interpretaes. Deixar um legado aberto, se bem que preciso e rigoroso, e no um sistema fechado, a tarefa da filosofia, segundo Husserl. Procuraremos neste captulo entender as intuies iniciais, os paradigmas e os propsitos filosficos de Max Scheler e sua relao com a fenomenologia husserliana.
2.1. Por sobre o legado de Husserl
2.1.1. Cincia de rigor, obra de muitos, processo
Husserl demonstrou que o conhecimento no um simples e nico ato do pensamento, de imediato carter identificador. O conhecimento objetivo apenas uma das atitudes do pensamento, e o pensamento em geral um processo, se desenrola em inmeros atos sucessivos na conscincia, atos que se do na relao da conscincia presente intencionalmente ao mundo e a si mesma. Esta relao no esttica, mas dinmica. Ora, o conhecimento significativo adquirido, portanto, sendo uma parte da atividade pensante da conscincia, tambm um processo no imediato, mas temporal. O conhecimento
12
propriamente dito uma sntese de preenchimento de intenes objetivantes que se perfaz atravs de diversos atos intuitivos e atos intencionais significativos como representaes e juzos, que por sua vez servem de fundamento para atos de intenes signitivas ou expressivas como nomes e enunciados; h, pois, vrios graus de conhecimento, at se chegar a poder dizer que h um conhecimento da coisa mesma ou da objetalidade correspondente. A importncia dos atos objetivantes, fundadores da expresso dos enunciados e juizos, que eles podem tornar o conhecimento significativo preenchendo-o de intuio objetal, e por isto permitem ao conhecimento ser compreendido e acumulado, e ser de fato conhecimento de um efetivo estado de coisas. Os atos objetivantes constituem objetos; neles se fundam as significaes. Mas a importncia dos atos no objetivantes, que no encontram um correlato objetivo, est em que eles do a dimenso de unidade, generalidade e universalidade ao conhecimento, estabelecem relaes entre as essncias das objetalidades intudas pelos atos objetivantes. Os conceitos que fundamentam as generalizaes no se encontram nos prprios atos objetivantes significativos enquanto objetos, mas, ao contrrio, nos objetos destes atos que encontramos os fundamentos de abstrao que servem para a constituio dos juzos como atos objetivantes. Que objetos so estes que preenchem a abstrao em atos objetivantes? So os atos no objetivantes, como a cpula entre essncias dada pelo uso da idia de ser, conjuno, disjuno, e todas as intuies categoriais, que se apresentam como dados intuitivos para o preenchimento das intenes dos atos objetivantes e significativos como juzos1, e atos signitivos, como enunciados. So atos que fundamentam as generalidades que servem de preenchimento dos atos objetivantes, a prpria idia de essncias e de suas relaes; estes atos fundamentam o preenchimento de sntese judicativa e qualificam as relaes entre objetalidades presentes em atos de juzo e sua expresso em enunciados. Enquanto os atos objetivantes do os objetos intuitivos e de certo modo se servem dos atos no objetivantes como objetalidades imanentes, os atos no objetivantes estabelecem as relaes entre as essncias, como a cpula nos juzos, a idia de extenso e as notas sincategoremticas, fundamentos para seus correlatos expressos em enunciados. O papel dos atos no objetivantes est, pois, em ser intuies essenciais e generalizantes que vm a preencher a inteno de significao2. So fundadores de proposies generalizantes dos atos objetivantes. Os atos no objetivantes so intuies que do preenchimento s intenes objetivantes de significao para que possamos de fato conhecer algo como uma generalidade ou universalidade, uma unidade essencial inteligvel. Toda esta descrio dos atos da
1 2
Husserl. Investigaes Lgicas. Investigao VI, cap.VI p.114 Husserl. Investigaes Lgicas. Investigao VI.,cap.IX,p.170
13
conscincia revela um processo no qual a conscincia se move numa inteno de estar presente objetalidade transcendente da coisa. Conhecer pleno, no sentido husserliano, todo o movimento da conscincia numa completa sntese de preenchimentos de intenes por intuies sucessivas at conhecer a plena ipseidade da coisa, ou a coisa mesma, como uma unidade ideal. De todo modo, compreendemos em Husserl que o conhecimento um processo temporal, mesmo no interior da conscincia. Logo, a filosofia tambm o . Na interpretao de Lvinas, a filosofia, para Husserl, contradizendo o teleologismo finalista do positivismo cientfico ainda muito forte em sua poca no pode ser obra fechada, sistema de um s pensador, mas, como a cincia, obra de muitos, aberta e inacabada3. Por isto o melhor que cada filsofo pode fazer descrever o mais fielmente possvel a sua percepo e o grau de conhecimento que alcanou na sua relao com o mundo das coisas pensveis e com seu prprio mundo interior do pensamento. E o sentido do conhecimento encontrado no movimento temporal do pensamento como ato da conscincia intencional; da mesma forma, o sentido amplo do pensamento de um autor encontrado como um processo que se desenrola no tempo, na histria vivida do pensamento na obra do filsofo, como queremos depreender da obra de Max Scheler. Acreditamos que por esta intuio, que no exclusiva de Husserl, da temporalidade e vivencialidade do pensamento, que Scheler v de modo integrado as formas do saber e a cultura, o homem e a histria4. Diferentemente de Husserl, cuja preocupao maior com o aporte de uma fenomenologia pura5 foi descrever os processos do conhecimento mais no mbito da conscincia, culminando portanto com posies idealistas, Scheler parece ter se interessado de modo especial pela descrio das dimenses ao mesmo tempo mais materiais e mais a priori do pensamento, tanto ao nvel subjetivo das intuies cognitivas de carter emocional, quanto ao nvel da materialidade do conhecimento tal como se desenvolve em suas bases scioculturais. O conhecimento descrito em seus processos desde os mais diversos graus de experincia vivida pelo ser orgnico intuidor, como a experincia vital, a experincia emocional, a experincia comunitria. A razo descrita desde a materialidade de onde pode se arrancar, no ato mesmo deste desprendimento. Se h, ou se houve, uma razo pura, ao menos certo que de seu impulso ela se arrancou do cho da materialidade onde se enraizam os sentimentos da sensibilidade, os sentimentos vitais, as emoes e o mundo scio-cultural.
3 4
Levinas, p.12. Cf. obras homnimas. 5 Spiegelberger, p.69ss.
14
--As clebres Investigaes Lgicas de Husserl, apesar de sua vastido, profundo e minucioso rigor investigativo, deixam ainda, ao final, vrias questes centrais em aberto, tais como a questo de se todos os atos de conhecimento de fato podem funcionar como portadores de significao. Ainda que Husserl, aps argumentaes e contra-argumentaes, tome uma posio mais prxima do pensamento aristotlico de que conhecimento significativo somente se perfaz por atos objetivantes, juzos, e contrariamente s posies do psicologismo com que disputava, v o conhecimento no como meras vivncias subjetivas psquicas, mas como adequao de uma unidade ideal de significao a um estado objetal de coisas, mesmo assim no fecha a porta aos conhecimentos que atos no objetivantes oferecem sobre a prpria estrutura do pensar e, portanto, sobre o sujeito que pensa. Por isto mesmo as Investigaes apresentam uma tal quantidade de dados nunca antes percebidos sobre os inmeros atos internos do pensamento e do conhecimento humano e sua relao com os diversos dados intuitivos, dos sentidos, das vivncias do pensamento, que deram material para diversos filsofos esmiuarem apenas partes de todo este novo universo descoberto das vivncias do pensamento. O prprio Husserl, no prefcio s Investigaces Lgicas, convida queles que quiserem entender o sentido desta sua tentativa de elucidao fenomenolgica do conhecimento, a no pouparem esforos de o seguirem nesta exaustiva jornada investigativa e descritiva das vivncias do pensamento: Quem no os poupar ter oportunidade suficiente para emendar minhas posies e, sendo de seu agrado, criticar suas imperfeies6, diz Husserl, oferecendo suas investigaes como um legado aberto. Aporte significativo que trouxe a fenomenologia, na continuao da moderna tradio criticista desde Descartes, o fato de perceber que submeter a evidncia do conhecimento crtica tarefa qual cada conscincia no se pode furtar. E mais precisamente quando se trata da prpria essncia do conhecimento. manifesto que s posso clarificar a essncia do conhecimento se eu o perscrutar por mim mesmo e se ele prprio me for dado a ver tal como 7. O conhecimento s efetivo, para Husserl, quando se apia no somente em atos significativos expressos, mas quando est adequadamente preenchido por uma objetalidade; ou seja, contra todo dogmatismo, mesmo o cientfico e sobretudo o filosfico de tradio mais puramente racionalista.
6 7
Husserl. Investigaes Lgicas. Investigao VI, Prefcio, p.11. Husserl. A idia da fenomenologia, p.73.
15
2.1.2. Significao, atos objetivantes e atos no objetivantes
Queremos mostrar ainda muito brevemente como Husserl entende o fundamento da significao, do conhecimento expresso em enunciados, que o que importa para as cincias em geral e para a fundamentao do conhecimento humano como conhecimento cumulativo. A percepo ato que determina a significao, sem no entanto conter a significao. Isto , no h significao sem uma percepo que a determine; mas depois de ser determinada, isto , de ter um adequado preenchimento por uma percepo, a significao pode se sustentar sem uma percepo. Isto o que fundamenta o conhecimento enunciativo terico de todas as cincias separado de suas intuies perceptivas originais. A significao no reside na percepo, mas brota de atos significantes e intuies, como os atos no objetivantes categoriais, preenchedoras das intenes de significao8. a dimenso formalizadora da razo terica. A significao se sustenta por categorias e atos prprios do pensamento. O sentido do conhecimento, ou sentido ideal, o Bedeutung de Husserl, a significao no seu aspecto notico, o contedo de sentido da expresso verbal que faz com que possa ser compreendida intersubjetivamente independentemente da percepo original; ao passo que o que poderamos chamar de sentido noemtico, Sinn, cobre os atos e contedos intuitivos do pensamento numa relao de preenchimento. Significao , pois, o que d sentido s expresses e as torna compreensveis independentemente das percepes. Porm somente as significaes no perfazem o conhecimento efetivo; este se d plenamente quando aquelas so adequadamente preenchidas por intuies do efetivo estado de coisas ou da objetalidade correspondente.
2.1.3. Vivncias cognoscitivas
Husserl estava preocupado sobretudo com o fundamento de objetividade do fato cientfico. Scheler, como veremos, considera o fato cientfico relativo, com relatividade a uma cosmoviso prpria, de carter simblico, no um fato absoluto. Assim, Husserl se ocupa de investigar a linguagem significativa e seus atos signitivos e descrever os atos fundantes do conhecimento das coisas que so objetos das cincias positivas. Por isto ocupou-se
Husserl. Investigaes Lgicas. Investigao VI, cap.IX, p.170
16
principalmente dos atos objetivantes e de evidenciar o conhecimento como sntese de adequados preenchimentos objetivantes. As Investigaes Lgicas, ao descreverem como nunca antes os inmeros atos do pensamento, mostraram ainda que h vrios atos chamados no objetivantes que, apesar de no serem como os atos objetivantes, preenchedores de intenes significativas e fundadores de conhecimento efetivos sobre objetalidades, so, por sua vez, fornecedores de conhecimento sobre as vivncias internas ou subjetivas e de extrema importncia para a comunicao9. Com este intento trouxe ainda evidncia a possibilidade de tornar objetivveis diversas vivncias subjetivas, quando atos no objetivantes se fazem objetos de atos objetivantes. Scheler, por sua vez, preocupa-se no tanto com o fundamento de objetividade dos objetos do mundo das coisas, mas com objetos do mundo antropolgico e com a possibilidade de descrever mesmo algumas das vivncias mais subjetivas da conscincia, portanto, ocupa-se com o fato puro, pr-cientfico e pr-simblico. Com a fenomenologia encontra a possibilidade de elucidar as vias de conhecimento de objetos que foram progressivamente desprezados pelas emergentes cincias positivas, ou mesmo nunca foram adequadamente distinguidos, como os valores, os afetos, os fatos culturais, por serem considerados pouco objetivveis. Mesmo a incipiente sociologia at ento somente se ocupava das dimenses quantificveis e classificativas dos fatos sociais. Um novo mundo de objetos se abriu. Na verdade, mesmo novos mundos e regionalidades essenciais se abriram, de tal modo que, para muitas regies, ainda esto a se desenvolver adequados aparatos cientficos de investigao. Enquanto Husserl se ocupava das coisas como entes essenciais acessveis conscincia, Scheler se ocupa dos valores como essncias valiosas acessveis aos sentimentos.
2.2. A filosofia de Scheler, a fenomenologia e os valores
Para entender a compreenso que Scheler desenvolve sobre o que a filosofia preciso abordar certos conceitos bsicos, que citamos agora em uma viso geral e procuraremos desenvolver separadamente a seguir, bem como mostrar a estruturao destes conceitos no sistema que desenvolve. Dizemos sistema, sim, porque Scheler, apesar de reconhecer que a filosofia no o nico modo de participao na essncia que fundamenta o ser, ainda assim, considerando-se o acesso essncia no contexto do agir filosfico, tarefa
9
Husserl. Investigaes Lgicas. Investigao VI, cap.IX, p.170.
17
da filosofia desenvolver uma compreenso e uma expresso sistemticas daquilo que conseguiu intuir ou ter acesso. So alguns dos conceitos principais os seguintes: a atitude espiritual do filosofar, a natureza moral desta atitude, os conceitos de cosmoviso, a distino entre as atitudes prprias das cincias e da filosofia, os conceitos de pessoa, de participao do ser na essncia, do amor ao essencial; como objeto da filosofia os conceitos de essncia e existncia; o a priori, o formal e o material, a distino entre os modos de conhecimento, a intuio das essncias, os valores, as esferas de ser, o dado a priori ou autodado, o ser relativo e o ser absoluto, e outros. Por motivos didticos, como comum em nossa tradio filosfica, tentamos distinguir estas partes, vendo primeiro a essncia da filosofia, suas atitudes e objeto, e depois os elementos de uma teoria geral do conhecimento, mas na verdade isto tudo est profundamente interrelacionado, formando um todo que compe uma viso filosfica ampla, um todo que constitui um sistema, no qual esto intimamente relacionados o ser do homem, o ser do mundo de objetos, a realidade como tal, as essncias e as possibilidades e condies de conhecimento. Scheler mesmo um homem que tenta angustiadamente superar esta aporia, entre uma necessidade de destacar e sistematizar para poder compreender as unidades essenciais e seus nexos, e, por outro lado, uma insatisfao que o leva constantemente a buscar uma viso de conjunto e o contato com o dado mais primrio possvel. Est sempre procurando integrar uma inteno de sistematizao e idealizao, e um desejo de uma viso de conjunto, de cosmoviso, ao mesmo tempo em que no aceita abrir mo de dirigir-se pelo dado das intuies do mundo objetivo, ou melhor, da esfera do que matria para uma intuio. Como autntico herdeiro do esprito alemo, tem uma compreenso de profunda ligao entre esprito e realidade, que vai alm de um ingnuo empirismo como o de certa tradio inglesa, e alm do puro idealismo do binmio kantiano-hegeliano. Para Scheler, a realidade, o mundo emprico, tm valor porque nele est presente o mesmo esprito que est presente no homem e que fundamenta a inteligibilidade do real. Neste oscilar entre esprito e realidade, entre o que alguns chamam de um objetivismo, que ora parece fundado na realidade mesma como mundo extra-mentis, ora na intuio objetiva da realidade como dada conscincia, pode ser reconhecido um dos motivos da reconhecida alternncia e aparente desordem ou mesmo incoerncia apontadas por analistas da obra de Scheler, citadas inclusive por seus admiradores, como Llambas, que reconhecendo uma fantstica capacidade intuitiva para descobrir problemas e captar essncias, e uma grande riqueza e variedade de pensamentos laterais, observa que tais
18
pensamento laterais, muitas vezes, lanados no decorrer da exposio, ficam sem desenvolvimento nem fundamento porque terminam por obstaculizar a reflexo e a demonstrao do temtico10. Scheler parece ora apontar para um objetivismo realista, postulando o primado do dado da essncia e da realidade como um empirismo radical11, ora para um intelectualismo orientado pela participao na essncia - toda filosofia possvel intelectualista12 - , pelo que fica difcil discernir claramente at que ponto tal auto-dado objetivo, assim como a evidncia da realidade, so mesmo auto-dados, puramente intudos, ou uma construo j idealizada da realidade, pois o critrio ltimo o dado na imanncia da conscincia. Por isto que, segundo analistas, as posies no podem ser tomadas isoladamente, mas dentro do contexto, relativas evoluo de sua obra. Muitas destas posies, como as posies extremadas citadas acima, so hiprboles retricas e didticas que somente tm sentido dentro de um sistema13, no isoladamente. Mais adiante examinaremos um pouco mais este conceito de objetivismo que consideramos pouco adequado para qualificar a filosofia de Scheler, e o que significam os conceitos de realidade e objeto. Scheler parece mais afeito a uma espcie de realismo, mas no ao molde do realismo crtico, que junto com o idealismo racionalista culminando no binmio Kant-Hegel, formam os dois lados do puro racionalismo, ambos por ele rejeitados14. Scheler no um racionalista puro. Scheler constri sua filosofia toda a partir do que entende como o dado primrio da realidade, que apreendido antes que qualquer sensao ou qualquer pensar15. Scheler v facetas da realidade que por si mesma freqentemente se mostra contraditria, pelo que em pouqussimos pontos os filsofos esto de acordo e simplesmente procura descreve-las com fidelidade ao que v, procurando em tudo encontrar uma ordem h que reconhecer que, se no a encontra, por vezes a impe. Scheler tem um af sistemtico, o que, segundo Pintor Ramos16, por vezes traz extrapolaes na direo de buscar uma explicao muito precisa onde a fenomenologia buscaria simplesmente descrever; isto quer dizer que, por vezes, sua antrapologia filosfica sobrepassa a si mesma.
Llambas, p.21-22: Uma grandeza y varieda de pensamientos laterales, que, lanzados en el correr de la exposicin, quedan sin desarrollo ni fundamento porque stos hubieron obstaculizado la reflexin y la demostracin de lo tematico. Cf. tambm: Pintor Ramos, p.11; Colomer, p.411 11 FG,p.64. 12 EF,p.15: toda filosofa possible es, pues, intelectualista. 13 Pintor Ramos, p.10. 14 IR, p.7. 15 IR, p.112. 16 Pintor ramos, pp.401-402.
10
19
Por fim, ao cabo de sua atividade e produo filosfica, Scheler compreender a realidade em uma viso por muitos apontada como pantesta-imanentista, como manifestao de um mesmo Esprito Absoluto. Junto com Spiegelberger e outros, no concordamos com a adjetivao de pantesta. Consideramos mais adequado considerar esta sua ltima cosmoviso como panentesta17, uma vez que no se trata de que tudo Esprito Absoluto, mas sim que o mesmo Esprito que jaz, impotente, sob toda a realidade, e que dela necessita, sobretudo do ser vivente, para poder atuar. No se tratam de vrios princpios, mas de um fundamento nico e supremo de todas as coisas18. Mesmo estas alternncias de compreenso evocam uma intuio autntica do espao prprio por onde transita a razo. O homem, para Scheler, um cidado no somente de dois mundos, como v Kant, mas de vrios mundos ou esferas de ser19. Se bem que tenha uma posio essencial peculiar, caracterizada por seu descolamento espiritual em relao s demais esferas, diferente dos demais seres viventes, seu esprito est intimamente relacionado, e mais, em movimento, em trnsito, entre estas esferas. por estar desligado de uma particular esfera e de todas as esferas que pode transitar, reverter o movimento, sair de si e voltar-se para si mesmo, mover-se entre as diversas esferas de ser. Isto representa mesmo o movimento permanente da razo entre vrios mundos, o mundo do real, das coisas, do contingente, da sensibilidade, o mundo das essncias e do pensamento, e ainda a insupervel mediao do contato da razo com aquilo que no ela mesma mas ao qual intenciona; mesmo naquela mais fina interface que constitui este contato, ao se tentar descrever este contato primordial, ainda no se sabe at que ponto se tem acesso ao outro lado desta finssima interface, problema apontado por Husserl e at hoje ainda no resolvido.
2.2.1 Filosofia: atitude e auto-constituio
A definio da essncia da filosofia uma tarefa muito mais complexa e difcil do que o para a definio das diversas cincias positivas. Estas, tal como as conhecemos no ocidente, surgiram a partir da indagao filosfica sobre o ser e os nexos de determinados entes que compem o mundo circundante do homem. A delimitao destas cincias, bem como a definio de seus objetos e mtodos, tem sua gnese em uma investigao sobre entes
17 18
Spiegelberger, p.299. PC, p.35. 19 Aprofundaremos mais as esferas de ser no homem , cf. PC, no captulo sobre antropologia.
20
filosoficamente determinados, antes do que no podiam ser adequadamente abordados porque se eram conhecidos em nvel de conhecimento vulgar, no eram positivamente delimitados; e mesmo muitas vezes sequer conhecidos ou nominados. Isto , a definio destas cincias se deu historicamente e fundamentalmente atravs de uma atitude filosfica que percebeu determinados entes e nexos entre eles, delimitou-os, nomeou-os, e estabeleceu uma teoria para uma abordagem racional a estes objetos agora determinados. A filosofia, porm, diversamente das cincias positivas que a ela recorrem, no pode, por sua vez, recorrer a cincia alguma. O motivo que h uma diferena fundamental entre a filosofia e as diversas cincias. A filosofia no simplesmente mais uma cincia, e nem sequer se pode consider-la uma especial cincia no mesmo sentido que estas outras. As cincias so funes parciais, especiais, do esprito humano, ao passo que na filosofia, ao contrrio, filosofa a totalidade concreta do esprito humano20. Se, pois, a filosofia pode ser considerada a rainha das cincias, nem por isto pode ser contada entre estas ltimas. Aqui Scheler se afasta de Husserl, enquanto este queria uma filosofia como cincia de rigor. Scheler quer rigor filosfico, mas no uma cincia, como mais uma entre outras cosmovises constitudas pelo homem a partir de sua relao ftica com o mundo circundante. O que ento a filosofia? A filosofia, para Scheler, antes de tudo uma atitude espiritual bsica21. Indo mais alm da totalizao da obra, do dito filosfico, a filosofia um agir, ato, movimento. No a estaticidade da obra, mas sim a dinamicidade do ato que faz a filosofia: Parla!. Esta noo de ato permanecer constante na obra de Scheler, pelo que ele caracterizar a essncia da pessoa como sendo um centro realizador de atos, isto , esprito que ato puro unido vida que realizao, e o valor moral residindo na dimenso da pessoa como ato. A filosofia , pois, ato espiritual em sentido amplo, que ama, deseja, percebe, compara, investiga, inquire, julga, e prope, entre outros. Estes atos podem ser puras intuies, ou podem ser intenes que se concretizam em obras. As obras que estes atos produzem so propriamente as definies, conceitos, proposies. Ora, sendo essencialmente um ato, a filosofia no pode ser simplesmente definida a partir das obras deste ato, mas precisa ser definida enquanto ato mesmo, no operar do ato mesmo22. por isto que uma definio essencial do que filosofia deve estar livre de toda pressuposio, de qualquer proposio positivada, de qualquer conceito preconcebido. Porque todos estes so obras, produtos daquele ato do esprito, ao passo que o que queremos definir e conhecer essencialmente o ato mesmo. Mas esta libertao de
20 21
EF,p.37: En la filosofa, en cambio, filosofa originalmente la totalidad concreta del espritu humano. EF p.10. 22 ibid.
21
pressupostos antes uma tarefa crtica sobre aquilo que intumos, isto , tarefa de permanente reduo. Max Scheler sabe que impossvel livrar-se de toda mediao. A tarefa da filosofia permanece aberta. A filosofia, em todos os casos, tem que elaborar seu conhecimento sem supostos ou, digamos, para no antecipar que uma deciso filosfica possa ser verdadeira ou falsa , um conhecimento objetivamente o mais isento possvel de supostos23. Porque sendo o conhecimento uma obra a ser elaborada , portanto, uma construo. Mesmo na aplicao da reduo fenomenolgica, que pretende chegar a um conhecimento da intuio mais original da coisa tal como se apresenta, a elaborao deste conhecimento se d atravs da seleo de intuies originais que vm a ser expressas atravs de intenes signitivas. O drama surge com a inteno de expressar um conhecimento assimblico para cuja translao e aclarao se tem que recorrer outra vez a smbolos24. A prpria seleo daquilo que vai ser expresso, o ato mesmo de expressar, j contm alguns pressupostos que so as formas expressivas das intuies. Por isto, a filosofia no pode ser confundida com a obra filosfica. A filosofia antes ato puro que produo. A obra filosfica tem o valor insupervel, diga-se de passagem de apontar para a intuio originria, mas somente a reside o seu valor e nada alm disto, pois ela mesma j no mais a prpria intuio originria. A reside o trgico do ato de filosofar: a obra nunca definitiva; se por um lado aponta para a intuio original que d o sentido, por outro lado a recobre. Na obra filosfica, o ato de filosofar no tem como escapar dos supostos ou dos intermedirios para chegar s intuies mais puras, a no ser que se entenda a filosofia mesma como transcendente sua obra, isto , como tarefa de cada um na busca da intuio originria e assimblica. Da noo de atitude surge a ligao entre a dimenso auto-construtiva da filosofia e a dimenso moral, que caracterizam a indepedncia da filosofia. A filosofia no pode recorrer a outro ato que no o seu prprio. No pode recorrer ao ato prprio do modo de agir ou mtodo das demais cincias, pois estes j so fundamentados por aquela atitude filosfica original. Sendo assim, no resta nada mais filosofia seno constituir-se a si mesma25, sem recorrer a nenhum pressuposto, a nenhuma construo, pois todo conceito, todo pressuposto, j uma construo daquele ato original, e no , portanto, o ato mesmo. Quando tenta definir-se a si mesma, surge o paradoxo crucial: como construir uma definio de ato, uma representao,
23
EF,p.8: la filosofa, en todos los casos, tiene que elaborar su conocimiento sin supuestos o, digamos, para no anticipar que una decisin filsofica pueda ser verdadera o falsa , un conocimiento objetivamente lo ms exento posible de supuestos. 24 FG,p.83: conocimiento asimbolico para cuya traslacin y aclaracin se tiene que recurrir outra vez a simbolos. 25 EF, p.7: constituirse a si misma.
22
sem que este ato deixe de s-lo como tal, pois que a representao no mais o ato mesmo, mas obra do ato. Ainda que seja possvel intuir a essncia deste ato enquanto ato, no momento que o definimos, a definio deixa de ser o ato mesmo e passa a ser uma obra sua. No entanto, no possvel fugir da mediao ao propor uma definio da essncia da filosofia: como a atitude que constitui a filosofia propriamente um constituir, um construir, um criar, criticar e aclarar conceitos, a definio da filosofia no poder deixar de ser uma construo, uma obra, na qual vemos o produto do obrar, mas no mais o prprio obrar. A nica alternativa que parece ser acessvel para ver a filosofia, por assim dizer, em ao, realizar sempre novamente, a cada intuio daquela proposio que a define, os atos investigativo, crtico, propositivo, e outros que constituem esta atitude do esprito. Esta atitude, no portanto uma obra pronta, a permanente tarefa da filosofia para o desenvolvimento do esprito humano em cada poca, e em cada homem. A educao e a cultura, enquanto abertura ao mundo e enquanto humanizao, isto , cultivo da alma e ao mesmo tempo realizao de si26, tudo isto configura o papel moral da atitude filosfica que est presente em todas as etapas do pensamento de Scheler. Em sua obra, desde a fundamentao de uma teoria do conhecimento como atitude moral, passando pelos primeiros escritos fenomenolgicos de carter mais descritivo sobre as essncias, como os valores, at seus escritos mais tardios nos quais desenvolve uma abrangente viso filosfica de problemas pedaggicos, sociolgicos e polticos, confirma-se a idia do primado de um sentido tico na atitude filosfica, ato cuja intencionalidade no o saber de dominao, ou o saber como fim em si mesmo, mas o saber para a realizao do homem, ou, na expresso de Scheler, o saber de salvao27. Podemos inserir aqui mais uma caracterstica importante que complementa uma definio da filosofia. Esta atitude, como compreendem os autnticos herdeiros do legado filosfico das investigaes fenomenolgicas de Husserl sobre os atos do pensamento, no pode ser reduzida a um simples e nico ato, mas se desdobra em diversos atos; constitui uma rede de atos, alguns dos quais esto em relao de fundamentao a outros atos. Assim, a atitude que constitui o filosofar mais precisamente uma atitude de constituio, ou de construo. A filosofia uma construo. por isto que as cincias recorrem filosofia para aclarar seus conceitos fundamentais hoje talvez muito pouco: este pouco recurso das cincias hoje filosofia pode significar duas coisas: ou que as cincias j atingiram uma elevada maturidade
26 27
SC,p.24;33. SC,p.52
23
espiritual ao incorporar com autonomia aquela mesma a atitude original do esprito que as fundou, ou, que a abandonaram de modo mais ou menos autosuficiente, deixando-se guiar no pela abertura ao questionamento e crtica inerentes quele ato original que fundou estas mesmas cincias, mas simplesmente pelas construes posteriores que servem a estas.
2.2.2. O filsofo e a filosofia
Mas se a filosofia definida como uma atitude, um ato, e no h ato sem agente, ento h algum que realiza este ato. O filsofo mesmo deve ser, portanto, a origem do filosofar. A filosofia pode igualmente ser definida, na viso de Scheler, a partir daquele que filosofa, pois o ato tem sua origem no agente, e no o contrrio. Assim, por exemplo, a melhor definio de arte que temos, at hoje, no uma definio da obra artstica em si, independente do que o produz, mas, ao contrrio, como obra feita por um artista enquanto artista. Da mesma forma, reconhecemos a filosofia a partir da obra dos filsofos. Estou convencido, diz Scheler , de que este mtodo para determinar o mbito do assunto a partir do tipo de pessoa mais seguro e unvoco em seus resultados que qualquer outro28. O homem que realiza a obra, neste caso, recebe a alcunha no a partir da sua obra, mas a partir da peculiaridade de seu ato. O filsofo no aquele que faz filosofia, mas aquele que filosofa, sendo filosofia a sua obra. No o filsofo determinado a partir de sua obra filosfica; antes, a filosofia determinada a partir do filsofo e de seu ato filosfico. H uma relao hierrquica claramente ordenada entre estes conceitos: o agente, o ato e a obra. por isto que o artista, para ser reconhecido como tal, no precisa ter unanimidade quanto apreciao de sua obra. Sem dvida o produto final influi na qualificao do artista, mas nem todos apreciam igualmente sua obra como arte, porm o reconhecem como aquele que tem a inteno de fazer arte. por isto que o que pertence e est indissoluvelmente ligado pessoa o ato, e este efmero e nunca totalmente compreensvel nem possvel de total objetivao, assim como a pessoa mesma; ao passo que a obra se torna independente do seu criador e pode ser objetivada. A pessoa e o ato esto intimamente ligados, e ambos so totalmente independentes da obra, enquanto a obra est em relao de dependncia daqueles. O filsofo e seu ato de filosofar, so
28
EF,p.9: estoy convencido de que (...)este mtodo para determinar el ambito del asunto a partir del tipo de persona es ms seguro y unvoco en sus resultados que qualquier otro.
24
pois, o ponto de partida para se chegar a uma aproximao da definio da essncia da filosofia. Duas maneiras fundamentais se apresentam para interpretar o ato do filosofar, ou dois modos de ser: como puro movimento de participao, que move o ser do filsofo ao ser da essncia, ou como um movimento de construo que produz obras.
2.2.3. O novo paradigma fenomenolgico de Scheler e reflexes sobre algumas de suas investigaes.
necessrio que situemos um pouco mais precisamente a posio de Scheler no cosmos da fenomenologia. No queremos passar a idia de que Scheler foi simplesmente um discpulo ou seguidor de Husserl. Nunca o foi, verdadeiramente. O que houve entre estes dois inquietos do pensamento ps-Kant foi uma correspondncia intelectual motivada por interesses comuns, e uma ascendncia relativa da temtica e da terminologia Husserliana sobre a obra de Scheler, se bem que isto no signifique necessariamente o mesmo para a compreenso e conceitualizao destes mesmos temas e termos, (assim como ocorre com outros autores envolvidos naquilo que Spiegelberger chama de o Movimento
Fenomenolgico, na obra de mesmo nome). Nem todo fenomenlogo discpulo de Husserl. Alis, muitos no o foram, e a maioria, se o foi, no o segue no mesmo caminho de interpretao. O primeiro contato filosfico entre os dois se deu em 1901. Segundo Scheler, o que os aproximou intelectualmente foi uma discusso envolvendo os conceitos de intuio e percepo. Scheler perseguia a convico de que o que dado intuio originalmente muito mais rico em contedo do que aquilo que pode ser captado por elementos sensitivos, seus derivados e por padres lgicos de unificao29. Husserl trabalhava em um alargamento do conceito de intuio nas suas Investigaes Lgicas, que estavam saindo por esta poca. A impresso mtua no parece ter sido recproca. Husserl nunca reportou este encontro inicial. As divergncias j comeam pela motivao anterior considerao da fenomenologia, e o modo de utiliz-la. Para Husserl, o interesse desenvolver uma cincia de rigor, em muitos aspectos semelhante ao mtodo de abordagem das cincias mecniconaturais. O mtodo de reduo fenomenolgica atua sobre as camadas do fenmeno pensado como um bisturi que vai isolando unidades, ou como o bioqumico que isola uma determinada
29
Cf. Spiegelberger, p. 269.
25
cultura ou reagentes. um trabalho atomstico. A essncia que Husserl buscava algo como a essncia platnica, o objeto para a conscincia. Para Scheler, o interesse no ter mais um mtodo cientfico aplicado filosofia, mas um enfoque, j que a filosofia j tem o seu mtodo, que a atitude de abertura participao ao ser essencial, que muito mais do que o ser que se mostra como objeto para a conscincia. Mais do que atomisar, Scheler quer uma sntese e uma explicao. neste sentido que extrapola muitas vezes o limite da fenomenologia como mtodo de filosofia descritiva. Freqentemente se precipita nesta empreitada. Conforme Speigelberger30, no difcil de entender que uma mistura de idias brilhantes e inadequado desenvolvimento foi motivo de objees severas para o rigoroso filsofo das Investigaes. De fato, Husserl nunca referiu a Scheler em suas publicaes, e o tom sempre foi repreensivo sobre o modo scheleriano de utilizar o que este chamou de enfoque fenomenolgico. Mesmo depois da morte de Scheler, segundo o citado historiador do Movimento Fenomenolgico, Husserl referiu-se sobre este, em uma carta a um amigo, associando-o a Heidegger, como um de seus dois antpodas, algo como seus enfants terribles. Some-se a isto a direo intelectualista tomada por Husserl, atrado por um transcendentalismo kantiano, enquanto Scheler se interessava pelos aportes do vitalismo31 ao estilo de Nietzsche, Dilthey e Bergson, que lhe daria fundamento para sua noo de intuio de uma essncia pura que parte das bases mais materiais da vida, da qual mesmo o mais pretensamente puro idealismo racionalista emerge. Tanto que Scheler foi considerado o Nietzshe catlico. As divergncias de interesse, viso e temperamento so grandes entre os dois filsofos da fenomenologia. No prefcio primeira edio de seu O formalismo na tica e a tica material dos valores 32, em 1916, Scheler reconhece a Husserl a importncia de dar unidade e sentido conscincia metodolgica dos colaboradores do Anurio de filosofia e investigao fenomenolgica, organizado por este ltimo, uma vez que tinham entre si muitas disparidades em suas opinies filosficas e concepo de mundo. Porm, Scheler adianta que exige para si uma autoridade e responsabilidade exclusivas sobre o conceito mais exato em que compreendeu e aplicou a postura fenomenolgica, e na aplicao desta temtica prpria que se props. A questo da experincia original que d o dado conscincia reflexiva, e que jaz no fundo das cosmovises (Weltanschauung), para ele muito mais importante do que este dado traduzido como objeto.
30 31
Ibid. Cf. Ensayos de una filosofia de la vida. 32 ET,p.10
26
Vai ainda mais alm a diversidade da motivao filosfica de ambos. Para quem olha desde fora, a posio de partida e afinidades j indicam um rumo de interpretao; ou, como diz Stein, na filosofia se busca, em um autor, aquilo que, de algum modo, j se encontrou33. Husserl, como dissemos, era atrado por um interesse mais intelectual, emparelhado com o idealismo neo-kantiano. Scheler tinha como motivao principal a tica, e uma antropologia filosfica conseqente. Seus interesses eram a vida prtica, cotidana, do homem total. A filosofia uma maneira de ajudar a compreender o sentido desta vida. Mesmo a obra de Husserl, e seu mtodo, se tornam nas mos de Scheler no mais que um instrumento entre outros; isto o que parece mais ter aborrecido o primeiro e seus seguidores mais comportados. Pintor Ramos asseverava que o interesse central a antropologia; esta que funda a tica34. Porm Spiegelberger, orientando-se por Manfred Frings, que detm os direitos sobre as Gesammelte Werke e grande especialista em Scheler, em sua pesquisa sobre a relao deste com a fenomenologia, insiste que a tica o eixo para o seu filosofar, sendo que tica e antropologia filosfica (esta em conseqncia daquela), constituem os seus principais interesses35. A pergunta pelo sentido do humano s tem seu sentido para a construo do humano concreto. pergunta explicitada em A posio do homem no cosmos, o que o homem?, seguem-se implicitamente o que fazer?, como ser humano?, ou, parafraseando algum que j disse algo semelhante no campo moral, o que devo fazer com estes braos e pernas que no me pertencem? Diziam filsofos ticos antigos que a primeira pergunta que os homens se fazem no o por qu? ou o que o ser?, mas o que devo fazer?. A primeira pergunta pela tica no significa que o fundamento do humano seja a tica; ao contrrio, o fundamento da tica a antropologia. Assim como a fsica a primeira cincia em ordem de questionamento natural ou espontneo, mas a metafsica a filosofia primeira em ordem de fundamentao, assim a tica a primeira pergunta que o homem se faz na ordem da cosmoviso natural, sendo que a pergunta pelo prprio ser do homem vem da resistncia que a pergunta tica oferece a uma soluo facilmente acessvel ao entendimento, resistncia que provoca um retorno do ato do entendimento para sua origem, reflexo antropolgica. No orculo de Delfos, como em todos os orculos, os homens vm primeiramente procurar saber o que devem fazer, que rumo tomar em suas vidas. A resposta era desconcertante, pois aparentemente no condizia com o
33 34
Stein. p.123. Pintor Ramos, p.73. 35 Spiegelberger, p.272.
27
motivo que os levava at l: conhece-te. O que move inicialmente os homens so questes prticas, no metafsicas. A dificuldade de uma resposta, a resistncia, que os faz refletir. De todo modo, ambos autores concordam que, para Scheler, o homem uma ponte entre dois mundos, tenso. Voltando para a tica, no h uma posio fixa de dever moral para o homem, a tica est em posio de relatividade s esferas do humano; a tica est por fazer-se, em constante evoluo com o homem. tica, sociologia, pedagogia, poltica, religio, todos so campos onde Scheler tomou suas intuies sobre o humano e onde colocou suas proposies. Porque so campos onde o homem se faz, se constri. So a esfera do real de onde emerge o humano. Seguindo a teoria da realidade de Scheler, mesmo a conscincia se constitui, reflexivamente, a partir do choque com a realidade36. o fenomeno de resistncia que desperta a percepo do eu sobre o qual se constitui a conscincia, que antes da posio do eu um saber ekstatiko, um saber que simplesmente tem seu objeto, mas que no sabe que o tem para si. Mas ainda assim, um saber, apenas que no de algo como algo. A vida humana se perfaz sobre uma ampla gama destas esferas de saberes. Somente quando este saber sofre a resistncia do objeto e volta-se para si que se d o saber de algo como algo e a conscincia de si como presena. Portanto, os fenmenos originais da concretitude da vida so para Scheler importantes mesmo quando a temtica o objeto para a conscincia, porque seu dado possui uma maior riqueza de contedo do que o dado reduzido a objeto da consincia. O modo como entendemos que Scheler procura mostrar o acesso fenomenolgico ao dado original a experincia vivida reflexivamente, mas no reduzida, o que seria um ato contrrio, isto , o dado reduzido a puro objeto. No se trata de ter um puro objeto, mas o objeto que o dado neste instante. Trata-se antes de suspender o objeto ideal do qual o dado ordinariamente reduzido no processo de objetivao, e ficar com o dado da experincia no momento em que este passa a existir relativamente como objeto para a conscincia. Isto significa que a nica possibilidade de se ter acesso consciente ao dado original, como por exemplo o dado dos contedos emocionais, no momento em que se do, na experincia mesma, vivida de modo consciente. No se trata de suprimir a conscincia, mas de t-la presente no momento. Insistimos nisto para clarificar que o dado vivido na experincia emocional pode, sim, ser objeto da conscincia enquanto ele se d, em ato, mas no ser objeto ideal da qual pudesse ser suprimido o fenmeno concreto, como o melro da idia razo suficiente para a posse do melroconcreto. Se o dado original objetivado como uma
36
Cf. IR
28
idia e separado daquela experincia original em que se d, a conscincia j no est mais presente ao dado, mas apenas a uma idia. O modo de a conscincia poder estar presente ao dado no momentoda experincia. neste sentido que uma experincia fenomenolgica pode apenas ser mostrada, e todo o sentido de um texto filosfico de descrio fenomenolgica apenas o de apontar, mostrar, o caminho para que se possa repetir uma tal experincia. Somente neste sentido, uma cincia de rigor cartesiano, pois que o mtodo cartesiano supe a necessidade de que uma experincia seja possvel de ser repetida. Para por a. O mtodo cientifico tradicional supe ainda proposies explicativas e inferncias, mas estas no levam de volta experincia, j esto bem longe do dado. Quanto concepo scheleriana de fenomenologia podemos ainda dizer, seguindo a interpretao bem apoiada de Spiegelberger, que so trs as principais caractersticas da sua abordagem fenomenolgica: i) a experincia intuitiva vivida como tal, Erleben, em forma no meramente passiva, isto , vivida reflexivamente como intuio, de tal modo que deve dar reflexivamente acesso ao dado no momento em que intudo; ii) ateno ao qu, essncia, enquanto se suspende o isto, a posio de existncia; iii) ateno ao a priori, isto , s conexes originais entre essncias37. Sua fenomenologia tem ainda os seguintes enfoques: Segundo a doutrina da controvrsia fenomenolgica (Phenomenologischer Streit), o nico propsito da discusso fenomenologia de levar o interlocutor, seja ele um leitor ou ouvinte, a intuir aquilo que em concordncia com sua essncia acessvel somente intuio38, isto , num processo de mostrao; como no terceiro Stein, num convite que o filsofo faz quele que se aproxima para caminhar com ele, ou, mais ainda, a visit-lo em sua prpria casa39. Quanto evidncia fenomenolgica da percepo interna, enquanto Husser postulava a infalibilidade da percepo do ego transcendental, como evidncia imediata, para Scheler a percepo interna to suscetvel de iluso quanto o conhecimento exterior. Alis, segundo a teoria da realidade de Scheler, a percepo da realidade do mundo exterior tem aprioridade sobre a percepo da realidade do mundo interior40. Se tivssemos tempo para discorrer sobre outros assuntos nesta dissertao, valeria a pena ainda, a partir daqui, aprofundar as leis da datitude da realidade sobre as esferas de ser, no opsculo El problema de la realidad, pgs.
37 38
Spiegelberger, p.279. ibid, p.280 39 Stein, p.13;17. 40 IR,p.23
29
115ss., excerto de Conocimiento y trabajo (Erkenntnis und Arbeit; Gesammelte WerkeVIII), coisa que no o faremos por no ser o tema central deste trabalho. Vale porm destacar que apresentam interessantes relaes de aprioridade que permanecem ao longo das diversas obras de Scheler, sobretudo na aprioridade dos fenmenos da vida humana concreta, i.e., da realidade. Da decorre, como j dissemos, seu interesse por disciplinas aparentemente to dspares como sociologia, biologia, educao, poltica. Ou ao contrrio: sua postura filosfica decorre de seus interesses pelas coisas exteriores. Ou as duas coisas se do ao mesmo tempo. A chave que estas leis de relaes de aprioridade apresentam, para muitas de suas intuies, como a questo da aprioridade, i.e., prioridade de datitude, da intuio emocional do valor, e outras proposies, : respectivamente, as realidades menos relativas (ou o Real-Absoluto), exteriores, comunitrias, vitais-corporais, tem prioridade de datitude sobre as mais relativas, interiores, individuais, e inanimadas. A vida e a razo comeam desde fora. Neste sentido Scheler foi muitas vezes entendido como postulador de um objetivismo tambm no mundo dos valores. Mas esta interpretao no parece ser muito adequada, pois o valor se d como tal, como unidade cognitiva, somente na esfera emocional. Objeto em sentido estrito, Husserliano, o objeto da conscincia. Quando a conscincia objetiva o valor, j no tem mais diante de si o mesmo contedo que dado intuio emocional, e que somente nesta esfera imediatamente intudo, contedo de um saber de algo como algo pelo esprito. Ento, no seria o mais prprio falar de um objetivismo nos valores, sobretudo se for referido conscincia. A conscincia intencional, o entendimento como presena, o saber de algo como algo, no tem acesso direto ao valor, no pode capturar o valor como objeto, isto , como idia do valor. O valor somente sabido como tal na dimenso da experincia emocional, no mbito amplo de atos do esprito. Para estes outros atos sim, se pode dizer que o valor objeto, e por isto objetivo. Porm, seguindo Scheler, vamos continuar usando o termo objetivo para o valor, at podermos mostrar porque Scheler prope explicitamente uma tica material, e no objetiva, do valor. Scheler parece misturar os conceitos, mas preferir o ltimo sentido, porque, aps utilizar largamente o termo objeto, termina por propor uma tica material, fundada na materialidade do valor, mais condizente com a idia de que h atos intencionais, como o perceber afetivo, anteriores aos atos da razo teortica e prtica. Este o conceito-chave: o valor material. Matria, neste sentido, o contedo a priori que preenche uma inteno. O conceito de objeto que pode ser utilizado deve ser entendido alm do objeto para a conscincia; trata-se do objeto para qualquer inteno.
30
2.3. Gnosiologia
2.3.1 O ponto de partida: o objeto, o dado a priori, as essncias
A teoria do conhecimento de Scheler se caracteriza como uma participao do esprito ao ser do objeto auto-dado. Uma vez que Scheler d o acento maior para a materialidade, ou objetividade, no sentido de qualidade de ser contedo de uma intuio, prpria da essncia (pois o participar se orienta segundo o contedo da essncia originria41, vamos comear a exposio sobre a teoria do conhecimento de Scheler por sua definio de objeto em geral ou fato em geral, e os fatos especficos, os chamados trs fatos de conhecimento, as cosmovises, e o objeto prprio da filosofia. O objeto em geral do conhecimento so as essncias. As essncias podem ser essncias gerais, intudas por um ato categorial unificador da razo a partir de vrias intuies, ou essncias singulares, intudas mesmo em um nico ato de percepo, como por exemplo os atos emocionais. Uma essncia geral quando aparece idntica em uma multitude de objetos por sua vez diversos na forma: tudo o que tem ou leva esta essncia. Mas pode tambm constituir a essncia de um indivduo, sem, por isto, deixar de ser uma essncia42. Mas tambm os atos categoriais racionais objetivantes, como Husserl o demonstrou, tm em seu fundamento percepes singulares como dados evidentes, que podem ser acessadas por reduo. Aqui surge uma importante caracterizao do sentido de essncia que em muito o distancia de Husserl. Para Husserl, as essncia so entendidas num sentido platnico-idealista, como unidades ideais, e num sentido racionalista, como de existncia relativa para a conscincia como razo, sendo a essncia como um ser-assim. Para Scheler, o sentido vai mais alm: essncia o ser do qual a conscincia tem acesso somente como ser-assim; mas este ser originalmente muito mais rico do que o ser-assim dado conscincia. O esprito no o subsume; mas pode participar neste ser. Scheler ainda amplia a viso idealista de essncias nicas e universais at chegar cognio de essncias como ser-assim dadas nas experincias mais singulares, que brotam da materialidade e concretitude da vida. Em suma, postula que somos diferentes e temos, cada um, intuies muito concretas e particulares, que no entanto possuem elementos cognoscveis, ainda que no redutveis a uma idia nica e universal, e que podem ser comunicados, muito alm da idia.
41 42
EF,p.15.: la forma bsica del participar se orienta segn el contenido de la esencia originaria. ET-I,p.84: As, es general una esencia cuando aparece idntica en una multitud de objetos por otra parte diversos en la forma: todo lo que tiene o lleva' esta esencia. Pero puede tambin constituir la esencia de un individuo, sin, por ello, dejar de ser una esencia.
31
2.3.2. A doutrina dos trs fatos do conhecimento
Um dos fundamentos do enfoque fenomenolgico na filosofia de Scheler se baseia na doutrina dos trs fatos de conhecimento e no conceito de cosmoviso: o fato da cosmoviso natural, o fato da cosmoviso cientfica e o fato puro ou fenomenolgico. Somente o ltimo o que o objetivo final da filosofia. No entanto, os dois primeiros tm importncia fundamental, pois nos oferecem os contedos materiais que, no primeiro caso, sero reduzidos de todo elemento sensvel, e no segundo, de todo elemento simblico. So os objetos iniciais, matria de uma intuio inicial, que precisa ser reduzida para se acessar filosoficamente, isto , de maneira mediada, ao fato puro, a essncia, o fato que d sua ltima fundamentao a todas as classes de fatos43. a) O fato natural aquele que apreendemos como primeira percepo de um mundo ordenado. Este mundo colorido e sonoro que nos rodeia pelo menos medianamente concreto e se acha articulado em unidades de coisas e acontecimentos com cuja destruio inicia seu trabalho a cincia44; j no mais um caos, mas percebido como unidades distinguveis, como ordem intuitiva. b) O fato cientfico: sua diferena com respeito ao fato natural que a viso que o origina pode ser chamada de uma viso artificial. Para alguns, a viso cientfica em nada se diferencia essencialmente da viso natural, apenas as faculdades naturais de intuio do conhecimento humano so ampliadas. Mas, por outro lado, as complexas relaes e nexos percebidos no fato cientfico no residem no fato da viso natural; surgem como acrscimos da viso cientfica prpria, surgem como respostas a uma pergunta colocada ante o fato natural. O fato cientfico carregado ainda de progressiva transcendentalizao e simbolizao com respeito ao natural, que alcanar seu maior grau com o fato fenomenolgico. c) O fato fenomenolgico, ou puro, ns j o conhecemos a partir da doutrina husserliana da reduo. Scheler faz a sua prpria descrio. O fato fenomenolgico a
43 44
TH,p.169: hecho que da su ltima fundamentacin a todas las clases de hechos. TH,p.152. Este mundo coloreado y sonoro que nos rodea es por lo menos medianamente concreto y se halla articulado en unidades de cosas y acaeceres con cuya destruccin inicia su trabajo la ciencia.
32
reduo que resta aps a eliminao radical de toda configurao unitria que no se baseia nas coisas mesmas, isto , aqueles dados cuja unidade totalmente independente das unidades perceptveis pelas funes sensveis. Trata-se de uma unidade que pode ser intuda pela intuio essencial. Quatro notas ajudam a definir o fato puro45: 1) O fato puro deve poder conservar-se como unidade e identidade ao variar da funo sensvel atravs do qual foi efetivamente acessado; 2) deve ter o carter de fundamentao ltima dos componentes sensveis do fato natural, ou seja, ser uma varivel independente, uma vez que o fato natural sensorialmente misto; 3) tanto a identidade quanto a diferena dos fatos puros devem ser completamente independentes de todo smbolo; 4) os fatos puros podem ainda ser divididos em fatos inerentes essncia de um objeto, classe dos fatos fundamentais em sentido lato ou puramente lgicos; e fatos inerentes s diferenciaes relativas aos conceitos de objetos, fatos fenomenolgicos em sentido estrito. Nestes ltimos, tanto as diferenciaes de conceitos quanto seus nexos devem poder perfazer-se de modo necessrio e poder levar intuio de uma unidade. H pois, dois tipos de essncia: a essncia terica, acessvel mediatamente razo, aps reduo de todo elemento puramente sensvel ou conceitual, isto , subjetivo, formal e a posteriori frente ao contedo intuitivo material e objetivo. E h a essncia do valor, que unicamente por uma intuio emocional pode ser intuda imediatamente e que no de modo algum acessada imediatamente pela intuio racional, pois que no pode ser reduzida, no pode ser objetivada. Aparece imediatamente para o esprito em seus atos intuitivos emocionais, pelo que podemos encontrar conscientemente o valor, mas no para a razo terica, pois no podemos objetivar o valor. Para esta, somente aparece como o resduo fenomenolgico irredutvel da intuio sentimental. Porque o valor essncia pura, acessvel ao esprito, mas no objeto da conscincia.
2.3.3. A ordem das evidncias
Dado evidente ou a priori sempre a intuio primria e imediata do esprito, de carter cognoscitivo. H que distinguir, porm, entre o que evidente para o esprito segundo a intuio da razo teortica ou prtica, e o que intudo por uma percepo sentimental do esprito.
45
TH,p.146.
33
No domnio da razo, terica e prtica, prprios da cosmoviso natural e cientfica (a principal diferena entre as duas cosmovises que na cosmoviso cientfica j se opera uma reduo com vistas intuio de uma essncia geral e se significa a intuio desta essncia por uma mediao simblica), os valores somente nos so dados secundariamente, e somente acessveis indiretamente como resduo de reduo, mas nunca do mesmo modo como so intudos diretamente pela percepo sentimental.
Assim como na atitude natural nos so dadas no domnio teortico as coisas, assim tambm no domnio prtico nos so dados os bens. Somente em segundo lugar nos so dados os valores que sentimos nestes bens e por sua vez este sentir dos valores; totalmente independentes e somente em terceiro lugar nos dado o respectivo estado sentimental de prazer ou desprazer que referimos ao efeito dos bens sobre ns (...). Em ltimo lugar so dados os estados entretecidos com estes outros estados de prazer e desprazer do sentimento especificamente sensvel46.
O ponto de partida comum para todos os tipos de atividade espiritual (seja emocional, filosfica, teortica, prtica, etc. o fato que j est dado como objeto mesmo na atitude prpria da cosmoviso natural, o dado que nesta cosmoviso existe e j tem valor47 antes de ser constitudo como coisa, de maneira que nenhum ente totalmente livre de valor possa fazer-se originariamente objeto de uma percepo, recordao, esperana, e em segundo lugar, do pensamento e juzo, sem que sua qualidade de valor ou sua relao de valor no nos seja dada de algum modo de antemo frente a outra coisa48. H, pois, um primado dos atos emocionais de intuio de valor frente a todas as demais formas de atos espirituais, como representaes, juzos, querer objetivo, etc. Dentro do prprio grupo de atos emocionais, o amor e o dio so os tipos mais originrios e os que abarcam e fundam a todos os demais tipos de atos49. Sendo assim, constituem a raiz de todo ato da razo teortica e prtica. Desenvolveremos a aprioridade do valor logo mais adiante.
ET-I,p.96 As como en la actitud natural nosson dadasen el dominio teortico las cosas, a tambien en el dominio prctico nos son dados los bienes. Solo en segundo trmino nos son dados los valores que sentimnos en esos bienes y a su vez este sentir de ellos, totalmente independiente y solo en tercer lulgar nos es dados el respectivo estado sentimental de placer o desplacer que referimos al efecto de los bienes sobre nosotros (...). En ltimo trmino son dados los estados entretejidos com esos otros estados de placer y desplacer del sentimientoespecificamente sensible. 47 EF,p.41. 48 EF,p.31: de manera que ningn ente totalmente libre de valor pueda hacerse originalmenteobjeto de una percepcin, recuerdo, esperanza, y en segundo lugar, del pensamineto y juicio, sin que su cualidad de valor o su relacin de valor no nos haya sido dada de algn modo de antemano frente a otra cosa. 49 EF,p.35: el amor y el odio son los tipos de actos ms originarios y los que abarcan y fundan a todos los dems tipos de actos.
46
34
Em nossas prprias palavras, poderamos explicar a prevalncia do dado emocional a partir da noo original de filosofia da seguinte forma: o movimento da filosofia nasce no com um juzo, nem sequer com uma pergunta, mas com uma admirao, e no podemos sequer dizer que se trata j de uma admirao ao ser, mas somente a algo que nos tocou. Pelo que a filosofia uma espcie de amor ao saber. Mas o que este saber? Originalmente no ainda um ente, no tem contedo para a conscincia; para a conscincia, s conscincia da admirao. Primeiramente, ento, neste sentido, temos mesmo um ato emocional que intui um contedo que ainda no acessvel razo, que dirige a intencionalidade da conscincia para seu contedo. Algo se mostra como algo para a conscincia porque no ficamos indiferentes perante ele, porque primeiramente temos dele um sentimento de amor (que nos atrai), ou de dio (que nos repulsa). Ambos os casos despertam admirao, isto , chegar junto para olhar. Algo simplesmente nos desperta um sentimento de admirao. Este vazio de contedo racional nos desperta uma pergunta, e nos move a penetr-lo com o entendimento, para por fim possu-lo, contendo-o com nossos juzos. Assim, o primeiro objeto da filosofia dado para uma intuio emocional.
2.3.4 Cosmovises
Faremos aqui um parntese para explicar o conceito de cosmoviso associado doutrina dos trs fatos, que constituem parte importante da teoria do conhecimento de Scheler. O conceito de cosmoviso, muito utilizado por Scheler, derivado de Humboldt, e desenvolvido por Husserl, significando formas fticas de ver o mundo. Scheler considera cosmoviso uma conduta ou atitude prpria, um modo de se posicionar do esprito perante o seu mundo de objetos. Neste sentido, a cosmoviso est dentro de uma teoria metafsica natural50 da atitude do homem ou grupos de homens frente a um mundo estruturado por este grupo. H assim basicamente duas cosmovises: a cosmoviso natural e a cosmoviso cientfica. As cosmovises, por sua vez, surgem a partir da estruturao da conscincia de valor51, a essncia pura acessvel a qualquer cosmoviso. A filosofia, porm, jamais pode ser uma cosmoviso, mas, no mximo, uma teria das cosmovises52. Porque as cosmovises so
50 51
EF,p.27 EF.p.32 52 EF,p.27
35
miradas53 particulares circunscritas a uma atitude determinada e um determinado mundo de objetos. So miradas relativas, com vistas a objetos relativos, no absolutos ou puros, como so as essncias puras, objeto da filosofia. A cada cosmoviso corresponde como objeto um fato prprio, como mtodo uma atitude prpria, e constitui assim o seu mundo prprio de objetos. Assim, h um fato natural, objeto da cosmoviso natural, e um fato cientifico, objeto da cosmoviso cientfica, construdo por esta. Porm, anterior a estes, h o fato puro, ou fenomenolgico, que so as puras essncias, fundamento de qualquer possvel objeto cognoscitivo de qualquer cosmoviso. Este, o fato puro, o objeto, para usarmos uma analogia, prprio da filosofia. No um objeto como o objeto da cosmoviso cientfica porque este uma criao simblica, ao passo que o fato puro assimblico, intuio em puro ato. Scheler no se contenta com a cosmoviso natural, que apegada ao valor presente nos entes, no consegue abstrair, no consegue chegar intuio de essncias e nexos essenciais, seno muito primitivamente ao nomear objetos, mas no consegue chegar s puras essncias e nexos essenciais. Apesar disto, Scheler tem como certo que no possvel chegar a uma viso filosfica sem o dado mais evidente da cosmoviso natural, que d a primeira aproximao essncia, a primeira essncia acessvel a qualquer cosmoviso, a constituio de um objeto. A cosmoviso natural capta o que de mais simplesmente acessvel h nas essncias, o valor em sua relao com a vida e os portadores de valor. As cosmovises, portanto, sem dvida possuem um valor cognoscitivo, mas a filosofia vai alm das cosmovises e busca o fundamento de todo possvel conhecimento das cosmovises, as essncias puras.
2.3.5. Meio e mundo circundante
Surge ainda a noo de mundo circundante, prpria de uma cosmoviso. O mundo circundante o meio objetivado, constitudo j como um mundo para a pessoa. constitudo por um crculo de objetos primrios de determinada cosmoviso objetivante. O meio original, do qual faz parte o ser psco-fsico, porm, no tem objetos e portanto no constitui um mundo54. o correlato do impulso afetivo ekstatiko,55 isto , direcionado simplesmente para
53
Voltaremos a utilizar este termo em seu sentido vernacular, no em referncia ao sentido espanhol, nem a um simples ver passivo sem objeto, mas para reforar o sentido de um ato intencional dirigido a uma unidade mentada, 54 PH, p.37
36
fora, que constitui o primeiro impulso de qualquer forma individual vivente, compartilhado tanto pelo vegetal como pelo animal. Se for possvel falar de um meio humano, a este corresponde o eu, a dimenso do indivduo que pode ser objetivvel, com tudo o que contm de vital, biolgico, fsico e psquico. O que objetivvel fica daqui para trs. O mundo circundante, por sua vez, no constitudo simplesmente por uma dimenso psico-fsica, mas por uma pessoa. o mundo da pessoa, rico de significados pessoais, particulares e comunitrios. o correlato objetivo externo da pessoa, assim como os objetos so os correlatos dos atos espirituais; o mundo constitudo de coisas, acontecimentos e intuies s quais corresponde o sistema de formas de percepo e as demais formas de atos espirituais prprios de uma cosmoviso, isto , significativos para uma determinada cosmoviso. Assim, o mundo circundante da cosmoviso natural composto dos objetos significativos prprios desta cosmoviso. Este mundo de objetos significativos diverso no somente em relao ao mundo de objetos da cosmoviso cientfica, mas tambm em relao a outras cosmovises naturais. Porque caracterstico das cosmovises e do mundo circundante ser relativo a uma singular organizao das funes perceptivas e aos modos de organizao dos grupos humanos em suas relaes com o meio em seu estado natural56. Podemos verificar a relatividade do mundo pessoa nos seguintes fatos. Diferentes povos, culturas e pessoas tm diferentes cosmovises naturais. Porm, no um mundo como o meio para o animal, mas um mundo constitudo simbolicamente. O mundo circundante da cosmoviso cientfica, por sua vez, cria novas relaes simblicas, circunscreve novos grupos de objetos, cujo substrato material pode ser o mesmo das diversas cosmovises naturais. Assim, por exemplo, as mesmas estrelas possuem significados simblicos diversos, conforme a cosmoviso cientfica da fsica, ou da qumica, ou a cosmoviso natural dos indgenas, ou de povos nmades, ou para os antigos egpcios, ou para navegantes como os fencios, e constituem assim uma parte de mundos circundantes diversamente constitudos. O mundo circundante de um indiano diverso do mundo circundante de um gacho; basta pensarmos no significado de um mesmo ente real destes dois mundos circundantes como, por exemplo, a vaca. E uma vez que o fundamento de constituio do mundo e de toda significao so as intuies sentimentais primrias e assimblicas, cada pessoa, cada indivduo, inclusive dentro de uma mesma cultura, necessariamente tem o seu prprio mundo circundante, nunca totalmente idntico ao de qualquer outro indivduo. E o mundo de um mesmo indivduo no
55 56
PH,p.15 EF, p.43
37
o mesmo em diferentes fases de sua vida. O mundo da criana constitudo de objetos diversos, ordenados de modo diverso, do que aqueles do mundo do adulto. Podemos chegar seguinte concluso: ora, se o ponto de partida da filosofia so as intuies que constituem o mundo circundante das diversas cosmovises, sobretudo a cosmoviso natural, cujos contedos significativos tem o sentido da doxa platnica, mas tambm o mundo da cincia, o mundo da episteme, que j realiza uma reduo sobre o contedo da cosmoviso natural ao mesmo tempo em que a recobre com simbolizaes, e considerando que cada indivduo ainda tem um mundo prprio, e uma vez que o conhecimento filosfico aponta para uma esfera de ser completamente distinta do que se encontra fora e mais alm da mera esfera do mundo circundante57, de qualquer mundo circundante, isto , para alm de todo ser relativo, ento a filosofia tem como matria um sem fim de intuies, sobre as quais a tarefa de realizar reduo se mostra como tarefa sempre continuada, enquanto houver um esprito ligado vida para intuir algo do real.
2.3.6. O objeto filosfico: a essncia pura como dado a priori
O objeto de interesse especfico ao qual tende a atitude filosfica so as essncias e os nexos entre essncias. Vimos que todo conhecimento se dirige a essncias, seja na cosmoviso natural, seja na cosmoviso cientfica. Mas o que interessa filosofia a essncia pura, a essncia originria de todas as essncias, o dado a priori de todo conhecimento. Neste sentido, no so grupos ou espcies de objetos empiricamente determinados, como os objetos da cincia, que constituem o foco intencional peculiar da atitude filosfica.
Designamos como a priori todas aquelas unidades significativas ideais e as proposies [conexes essenciais] que prescindindo de toda classe de posio dos sujeitos que as pensam e de sua real configurao natural, e prescindindo de toda ndole de posio de um objeto sobre o qual sejam aplicveis, chegam a ser dadas por si mesmas em um contedo de uma intuio imediata. Por conseguinte, se h de prescindir de toda sorte de posio. (...) Uma intuio de tal ndole uma intuio de essncias. Ao contedo de uma intuio de tal ndole, chamamos fenmeno; assim, pois, o fenmeno no tem minimamente nada que ver com apario (de algo real) ou com aparncia. Uma intuio de tal ndole intuio de essncias [Wesensschau], ou tambm como preferimos chamar intuio
EF,p.44 El conocimiento filosfico ms bien apunta a una esfera del ser completamente distinta que se encuentra afruera y ms all de la mera esfera del mundo circundante del ser.
57
38
fenomenolgica [phnomenologische Anschauung] fenomenolgica [phnomenologische Erfahrung] 58.
ou
experincia
Prescinde, por enquanto, do carter de existncia ou no existncia. Para Scheler, o dado a priori a essncia pura dada por si mesma em uma intuio, neste sentido coincidindo o dado com o mentado nada mentado que no seja dado e nada dado fora do mentado59 , isto , trata-se de um a priori como imanente intuio, nunca como anterior a esta. Na definio da essncia como objeto da filosofia, Max Scheler parte de uma ordem de evidncias, constituda por trs evidncias fundamentais60, que no desenvolveremos aqui em sua longa argumentao, mas apenas tomaremos em conta para explicitar que so pressupostos da filosofia e da teoria do conhecimento de Scheler. 1. evidncia de que algo absolutamente, e que o nada no ; no est se falando ainda de existncia ou no. Constitui o primeiro assombro filosfico. 2. evidncia de que, se realmente existe algo, mesmo em tudo o que h de relativo nos entes, seja relativo a ser mentado, ser ideado, ser constitudo, etc., nada pode eliminar o ser, portanto h um ser absoluto. 3. todo existente possui necessariamente um ser de essncia ou um ser quiditativo (essncia) e um ser-a (existncia); mas o conhecimento da essncia totalmente distinto do conhecimento da existncia. Estas evidncias constituem o fundamento da convico filosfica sobre a evidncia de seu objeto, a essncia. Scheler evita o qualificativo de verdade ou falsidade, que restringe ao mbito lgico dos juzos, e usa o termo convico para um ltimo complemento definio da essncia da filosofia: Podemos dizer que a filosofia , por sua essncia, convico rigorosamente evidente, no multiplicvel nem revogvel por induo, vlida a
58
ET-I,p.83: Designamos como a priori todas aquellas unidades significativas ideales y las proposiciones que, prescindiendo de toda clase de posicin de los sujetos que las piensan y de su real configuracin natural, y prescindiendo de toda ndole de posicin de un objeto sobre que sean aplicables, llegan a ser dadas por s mismas en el contenido de una intuicin inmediata. Por conseguiente, se ha de prescindir de toda suerte de posicin. Como tambin de la posicin realy no-real, aparencia, realidad, etc. aun cuando, por ejemplo, nos engaamos tomando por vivo algo que no lo es, debe sernos dado tambin en el contenido de la ilusin la esencia intuitiva de la vida. Al contenido de una intuicin de tal ndole lo llamamos fenmeno; as, pues, el fenmmenono tiene que ver lo ms minimo con aparicin(de algo real) o con apariencia. Una intuicin de tal ndole es intuicin de esencias, o tambin como nos place llamarla intuicin fenomenolgicao experiencia fenomenolgica. 59 ET-I,p.86: nada es mentado que no sea dado y nada es dado fuera de lo mentado. 60 EF,p.46ss.
39
priori para todo o contingente existente, convico de todas as essncias e complexos de essncias do acessvel para ns em forma de exemplos, a saber, na ordem e na hierarquia em que se encontram em sua relao com o ente absoluto e sua essncia61. O conhecimento do ser relativo prprio do conhecimento das cincias, isto tanto do ser relativo ideal intra-mental, como o objeto da matemtica, quanto do ser existente como real, objeto das cincias empricas, cujo mtodo ou acesso o modo teortico da razo, um modo de intuies categoriais no sentido fenomenolgico, sobre aqueles objetos. O ser absoluto, a essncia pura, o objeto prprio da filosofia, e pode ser intudo por outros meios alm do conhecimento teortico, por um saber de participao. por isto que o resduo da reduo fenonemolgica de Scheler vai mais alm daquilo que Husserl alcanou. Scheler considera como atos objetivadores do pensamento, isto , capazes de intuir essncias objetivas, no somente as representaes, juzos, significaes, etc., como ainda as intuies sentimentais ou emocionais (ET-II,p.30), como o amor, a simpatia, o desejo, o querer.
Reflexes
Na teoria do conhecimento, de tudo o que possamos conhecer em qualquer campo, seja no campo da experincia emprica, seja do conhecimento da razo teortica ou prtica, a priori o dado primordial, o objeto de intuio que se mostra como auto-dado62, com sentido para a conscincia intencional., o dado intudo como evidente por si mesmo, uma datitude mostrvel na intuio pura e direta. No estamos ainda falando de material ou formal, de uma constituio do objeto sob formas da razo, ou de uma simbolizao, mas sim do objeto que se d como uma unidade cognoscitiva, objeto do qual j podemos ter conscincia como datitude pr-simblica. A priori dado intudo, no constitudo. A intuio, por sua vez, toda experincia na qual o dado surge ou se mostra pela primeira vez. No se trata, pois, de um objeto definido conceitualmente. A este primeiro objeto que intumos em qualquer experincia de intuio espiritual, que pode ser tanto uma intuio emocional quanto
racional, pois sendo ambas atitudes intencionais pois, evidente, como demonstrou Husserl,
EF,p.57: Podemos decir que la filosofa es porsu esencia convicin rigurosamente evidente, no multiplicable ni revocable por induccin, valida a priori para todo lo contiongentemente existente, convicin de todas las esencias y complejos de esencias de lo existente accesibles para nosotros en forma de ejemplos, a saber, en el orden y en la jerarqua en que se encuentran en su relacin con ele ente absoluto y su esencia. 62 ET-I,p.84
61
40
que, sendo intencionais, tanto os atos emocionais quanto os atos racionais possuem como correlato um algo a que intencionam, a este objeto, este algo intencionado, chamamos o dado a priori, que essencial e objetivo, a essncia como objeto de uma intuio preenchedora de inteno de um ato objetivante. Em qualquer ato objetivante h uma intuio que preenche uma inteno, h uma matria intuda, a essncia objetiva, e no apenas uma pura forma categorial que constituiria do nada um objeto de conhecimento. neste sentido que Scheler diz que a fenomenologia se mostra como um empirismo radical na teoria do conhecimento, pois mostra que por trs da constituio de sentido universal h sempre j um primeiro sentido mesmo na mais singular intuio. aqui que Scheler comea a alargar as investigaes de Husserl sobre os atos intencionais objetivantes. Ao falar de atos emocionais como atos objetivantes do esprito, Scheler vai mais alm do campo dos atos racionais fundadores de conhecimento. Porm, ainda estamos no campo da intuio de essncias puras, ou seja, daquilo que nosso esprito pode intuir e receber como dado imanente em uma intuio, e no no campo da posio de uma existncia ntica fora da experincia. O significado ntico63 das essncias e nexos essenciais, para Scheler, dado por estas enquanto dados a priori em uma intuio, no constitudos, nem anteriores experincia intuitiva64. Em outras palavras, o a priori de qualquer experincia intuitiva espiritual uma essncia onticamente objetiva, porque objeto de uma intuio. S podemos falar de a priori como dado na experincia, ou seja, auto-dato, nunca como algo anterior a esta experincia. A essncia a priori um dado imanente conscincia, um dado ideal. Neste sentido, Scheler fiel ao espiritualismo idealista da tradio alem, segundo o qual realidade e esprito formam uma unidade, princpio de compreenso gnosiolgica pelo qual o semelhante pode conhecer o semelhante, isto , o esprito pode compreender o real porque este manifestao daquele. O a priori o que surge para o esprito, se mostra como essncia, como matria de uma intuio espiritual. Se mostra como um algo evidente, que j pode ser mentado65, o que no significa ainda ser conceituado ou simbolizado. Apenas significa que a essncia a priori um dado intra-mentis de carter assimblico. Scheler mostra que a intuio do dado a priori de toda experincia espiritual, inclusive das intuies emotivas ou sentimentais alis, esta a experincia primordial de toda possvel ulterior inteno teortica e signitiva se mostra filosoficamente acessvel graas ao processo de reduo fenomenolgica desenvolvido por Husserl. A mudana de enfoque
63 64
FG,p.86 ET-I,p,87 65 ET-I,p,86; FG,p.89
41
simples. Se Husserl aplicou a reduo aos atos objetivantes e preenchedores de significao do pensamento teortico e, aps reduzir toda conceituao, toda posio de existncia e de realidade de um mundo, toda subjetividade do eu pensante, para chegar ao puro quid como objeto do ato intencional puro, a pura intuio da coisa, pelo que chega concluso de que todo ato da conscincia intencional, tem um objetal que a sua intuio preenchedora, no sendo apenas uma vazia forma categorial que cria objetos do nada, e que portanto, h um algo a que mira a conscincia, e este algo, este quid a pura essncia intuda, a coisa mesma ideal para Husserl, essncia auto-dada como primeira evidncia, imanente ao ato de pensamento, Scheler apenas aplica o mesmo processo de reduo a outros atos espirituais longamente esquecidos pela tradio filosfica desde a virada racionalista sobretudo a partir da modernidade, os atos emocionais do esprito. Tais atos so, por exemplo, o amar, o desejar, o preferir, o admirar, o aspirar, anelar, etc., atos que j possuem um objeto de vivncia. H aqui uma importante distino a fazer: entre atos emocionais e estados emocionais. Dizemos que so atos espirituais no sentido de que so intencionais. Alm disto, porque no so simples estados psquicos objetivveis, observveis e passveis de conceituao desde o exterior. Os estados podem ser objetivveis, podem ser objeto de investigao teortica. Porque no ato, no uma percepo, no tem objeto. A percepo emocional, no entanto, tem seu objeto, seu contedo material no formal. No , pois, estado, mas sim ato puro, como os atos espirituais racionais. Apenas que, diferentemente dos objetos da intuio preenchedora da inteno racional de significao, os objetos destes atos emocionais no podem ser demonstrados nem conceituados definitivamente dentro de nenhum sistema. Apenas podem ser mostrados para que sejam intudos pela intuio emocional. A razo pura, por no compreeender ou intuir diretamente os objetos destes atos, relegou-os para fora de todo campo de cognoscibilidade. O esprito e a conscincia objetiva ficaram reduzidos ao racional. No entanto, no inicio no era assim, sempre se reconheceu que tais atos tinham um objeto. Apenas que a racionalidade pura no os alcanava. Mas a filosofia mais do que racionalidade pura. A filosofia surge com o assombro, por isto h espao, sim, na filosofia, para o indefinvel, que mesmo o seu ponto de partida. O que o racionalismo puro fez foi criar seus prprios objetos e fechar os olhos matria original da filosofia, justamente aquela admirao inicial. Tais atos podem ser para a razo um conceito vazio, mas no so uma idia vazia, sem sentido. H um preenchimento, ainda que no acessvel ao conceito. evidente que sabemos o que amar, sabemos quando amamos, sabemos o que amamos, mas no sabemos definir o que o amor, nem a idia universal de seu objeto a
42
idia universal do objeto de amor, nem o quanto amamos e at que ponto. Ou nos evidente, ou no . Mas no podemos ter o apoio da certeza de um conceito, apenas o apoio da intuio emocional. Ao reduzir os atos emocionais Scheler encontra a mesma intencionalidade de conscincia dos atos racionais de significao, uma ordem ao objeto. O correlato destes atos emocionais intencionais o dado a priori material (no formal, como o objeto constitudo no conceito) a pura essncia intuda anterior a qualquer ato de inteno de significao, isto , de conceituao. O ato mesmo se nos torna evidente somente em ao. No podemos paralizar o ato para demonstr-lo, pois que j no seria mais ato. Sendo ato puro no objetivvel, mas sendo intencional, tem seu objeto.
2.3.7. A distino entre a priori formal e material
Talvez a questo mais importante para caracterizar a intuio scheleriana de uma tica material dos valores esteja na nova compreenso e distino dos conceitos de a priori formal e a priori material66. Para Scheler existe, sim, um a priori material, que mesmo o ponto de partida de todo possvel conhecimento, toda objetivao mais elementar e mesmo da objetivao sob formas categoriais universais. a partir desta compreenso que se constri toda a fundamentao da tica sobre a materialidade e objetividade dos valores. Na viso fenomenolgica, o formal e o material constituem a adequao da relao de preenchimento entre inteno e intuio, a coincidncia do mentado com o dado. Ambos podem ser a priori, isto , dados em uma intuio. Para Scheler, Kant excluiu o material do fundamento de todo conhecimento por confundi-lo com a posteriori, e identificando o a priori somente com o formal67. A rejeio do dado material a priori parte de uma atitude integral de Kant frente ao universo, uma atitude de hostilidade inteiramente primitiva ou tambm desconfiana de todo dado como tal, angstia e medo ante a ele como ante o caos68; o dado do mundo a fora o inimigo da verdade que precisa ser dominado. Mas na verdade, a anttese a priori - a posteriori no representa necessariamente a relao formal-material. Trata-se de duas relaes diversas. Frente ao dado a priori formal, porm, o material tem prioridade. A essncia formal concebida como constituda; o
66 67
ET-I, seo II ET-I,p.90 68 ET-I,p.106: hostilidad enteramente primitiva o tambin desconfianza de todo lo dado como tal, angustia y miedo ante ello com ante el caos.
43
material, porm, pode ser auto-dado, dado por si mesmo anterior a toda constituio de objeto, ou dado constitudo, no caso em que o formal se torna matria de uma intuio. Portanto, o nico que pode ser absolutamente a priori o material auto-dado, nunca o formal. Com exceo do a priori formal puramente lgico, que no dado, mas ato, frente a todo dado formal, sempre possvel encontrar uma intuio material anterior. O a priori material pode ser relativo tanto a proposies, isto , atos signitivos da razo terica, quanto a essncias puras intudas singularmente por uma percepo emocional assimblica anterior a toda generalizao:
A priori material todo conjunto de proposies que, em relao com outras proposies apriricas - por exemplo, as da lgica pura tm validez para uma esfera mais especial de objetos. Mas tambm possvel pensar conexes apriricas entre essncias, que somente acontecem em um objeto individual e faltam, de modo geral, em todos os demais objetos69.
Na viso objetivista das essncias, o a priori formal, por sua vez, sempre a posteriori em relao ao preenchimento intuitivo material; exceto o a priori formal das conexes lgicas, correlato das conexes essenciais do puro ato racional (no do lgico no sentido de aplicao das formas lgicas a proposies e raciocnios, o que j pressupe um contedo material intudo como conceito), o formal uma constituio sobre o dado material. Os valores, intudos como essncias pela intuio emocional, mesmo em uma nica intuio direta e simples, sero, pois, o a priori material e objetivo de todo conhecimento terico e, conseqentemente, tambm da tica.
Exceto os chamados a priori formais dos fatos bsicos intuitivos da lgica pura, resulta que cada matria, como ser, a teoria dos nmeros, a teoria das quantidades, a teoria de grupos, a geometria, geometria das cores e dos sons, a mecnica, a fsica,a qumica, a biologia, a psicologia, em cada caso revelam para uma mirada muito penetrante todo um sistema de proposies materialmente a prioristicas e baseadas sobre a intuio de sua essncia que contribuem para uma evidente ampliao do a priorismo. Em todos estes casos o a priori em sentido lgico conseqncia do a priori dos fatos concretos, que constituem os objetos dos juzos e proposies70.
69
ET-I,p.90: A priori materiales todo conjunto de proposiciones que, en relacin com otras proporsiciones apriricas por ejemplo, las de la lgica pura tiene validez para una esfera ms especial de objetos. Mas tambin es posible pensar conexiones apriricas entre esencias, que slo acaecen en un objeto individual y faltan, generalmente, en todos los dems objetos. 70 FG,p.68: Excepto los llamados a priori formales de los hechos bscos intuitivos de la lgica pura, resulta que cada materia, como ser, la teora de los nmeros, la teora de cantidades, la teora de gruops, la geometra, la geometra de los colores e sonidos, la mecnica, la fsica, la qumica, la biologa, la psicologa, en cada caso revela a una mirada muy penetrante todo un sistema de proposiciones materialmente apriorsticas y basadas sobre la intuicin de su esencia las que contribuyen a una evidente ampliacin del apriorismo. En todo estos
44
2.4. O mtodo filosfico como ato de participao no ser
2.4.1 Participao do ser da pessoa no ser essencial
A partir da idia de filosofia como atitude, e do objeto como a pura essncia, a concluso seguinte : se desejamos conhecer a essncia pura do ser que no imediatamente conhecida pela atitude natural, precisamos de um certo ascetismo, um desprendimento das atitudes naturais que permita elevar a alma. Assim, para Scheler, a filosofia conhecimento de essncias que no so diretamente acessveis na atitude da cosmoviso natural, mas so acessveis por um ato determinado pelo amor de participao no ncleo de uma pessoa humana finita no essencial de todas as coisas possveis71. O que move a atitude filosfica um desejo de participao na essncia; mas a filosofia no em absoluto o modo mais imediato de participao na essncia. Ela , antes, um modo intelectualista de participao72; salientamos, um modo sem dvida eficiente de participao, porm circunscrito a esta modalidade. A essncia da atitude filosfica, pois, uma participao total do ncleo da pessoa como centro de atos espirituais, de todo seu ser, no ser essencial de todas as coisas possveis. O desejo de participao no ser parte do primeiro ato do esprito que amor. por isto que sempre o amante precede o conhecedor73. Mas esta participao no significa uma unio esttica, e o ser ao qual se deseja uma participao no um simples objeto, mesmo que de amor, mas antes uma participao no ser que no me pertence, do qual eu mesmo sou parte. Neste sentido, o homem conhecedor , para Scheler, uma espcie particular da vida universal74. Esta atitude exige uma postura moral, caracterizada por aquela profunda admirao a todo ser, um desejo moral e asctico de desprender-se, de sair de si, de vencer suas prprias resistncias, para unir-se ao ser amado. Uma caracterstica fundamental desta atitude filosfica na viso fenomenolgica de Scheler que est em relao de dependncia a seu objeto, as essncias.
casos el a priori en el sentido lgico es consecuencia del a priori de los hechos concretos, que constituyen los objetos de los juicios y proposiciones. 71 EF,p.14: acto determinado por el amor de participacin del ncleo de una persona finita en lo esencial de todas las cosas posibles. 72 EF.p.15 73 EF,p.32: Siempre el amante precede al conocedor. 74 EF,p.43: especie particular de la vida universal.
45
neste sentido que se estabelece o que Scheler chama de empirismo radical da filosofia fenomenolgica75, e que outros chamam de um objetivismo. A fenomenologia empirismo radical porque no aceita que seja determinada de antemo por um conceito racional que delimite previamente um mtodo e objetos, mas antes, pretende deixar-se determinar pela mais primria intuio das coisas tal como se apresentam, como autodadas. certo que se busca um critrio, assim como um mtodo no sentido de um modo de comportar-se, de dirigir de modo ordenado os atos do esprito, e de modo adequado ao dado do mundo objetivo das essncias. Mas, como o primado das essncias, o mtodo e o critrio devem ser determinados a partir do modo como o autodado das essncias se apresenta intuio. Da mesma forma a questo do critrio. Todos os critrios somente se deduzem ao tomar-se contato com as coisas mesmas76. O a priori, portanto, a essncia como a coisa mesma, o dado material da intuio, o fato, aquele fornecido pelo objeto tal como se mostra intuio. Todo o trabalho racional de teorizao que feito sobre a intuio da essncia uma construo a posteriori.
2.4.2. A condio moral da atitude espiritual do filosofar
A partir da definio da filosofia como atitude, surge a dimenso da sua natureza moral. Para Scheler, esta atitude exige um comportamento determinado, uma postura adequada. atitude unnime dos filsofos pretender construir sua obra livre de preconceitos, livre de proposies no evidentes. Isto mostra que, apesar de os filsofos dirigirem o movimento de seus pensamentos ou para objetos diversos, ou ainda de modos diversos, h uma atitude comum de fundo no filosofar. preciso um esprito desprendido de todo apego a mitos, a idias provisrias. A filosofia, no seu alvorecer, desenvolveu esta idia de desprendimento como a idia de um elevar-se, desapegar-se das vises naturais de mundo, num alar-se a alma a um outro mundo, o mundo das idias, sobretudo nas correntes idealistas de linhagem platnica. Esta idia muito presente na filosofia nos leva a duas concluses: primeiro, significa que a razo est como que dividida em dois mundos e, em segundo lugar, que est como que espontaneamente mais apegada ao mundo natural, ou melhor, numa mirada inversa, que est mais apegada a uma sua atitude natural confortavelmente acrtica. Da que a anlise do impulso moral que constitui o surgimento do filosofar pode ser compreendida como parte importante da teoria do conhecimento intuda por Scheler, pois caracteriza o prprio mtodo de abordagem do objeto.
75 76
FG,p.64 FG,p.65: Todos los criterios slo se deducen al tomarse contacto con las cosas mismas.
46
Os atos reflexivos bsicos pelos quais o esprito abandona todo ser relativo so o que Scheler chama de atos morais bsicos77, mostrando-se como correlatos reflexivos dos atos emocionais primrios. Numa analogia bastante perceptvel, representam o modo scheleriano de interpretar os atos de reduo fenomenolgica propostos por Husserl. 1. O amor de toda a pessoa, isto , que envolve todas as suas esferas de ser, de sensibilidade, de emoes e de atividades intelectivas, ao valor e ao ser absoluto, que rompe o limite do ser relativo e do mundo circundante; 2. A humilhao do eu (psquico) e do ego natural, que quebra o apego s categorias de modos causais de existir e das relaes fticas com o mundo; 3. O autodomno, isto , a objetivao possvel e redirecionamento dos impulsos naturais que condicionam as percepes naturais em sua base somtica, que permite a abertura livre do esprito a uma adequao ao dado da essncia, sem impor condicionamentos a este auto-dado. Tais atos esto intimamente ligados s trs medidas de todo conhecimento, independentes entre si78: 1. O tipo e grau de relatividade do ser de seu objeto; 2. Conhecimento evidente da essncia ou conhecimento indutivo da existncia 3. Adequao do conhecimento A noo do critrio de adequao entendida como o contato da pessoa com as coisas mesmas, mas como dadas no interior da conscincia. O auto-dom de algo mentado na imediata evidencia da contemplao o nico, com o mesmo significado da palavra verdadeiro, que se eleva por cima da oposio falso-verdadeiro, pertencente somente ao mbito das proposies79. Esta adequao em Scheler compreendida como participao do esprito na essncia, regida em ltima instncia pela essncia auto-dada. nestes sentido que o mtodo filosfico reconhecido como uma atitude moral integral da pessoa como esprito e centro de atos, no sentido de que a pessoa deve se posicionar adequadamente respeitando a automostrao do objeto.
77 78
EF.p.44 EF,p.46 79 FG,p.65: el auto-don de algo mentado em la inmediata evidencia de la contemplacin es lo nico, con el mismo significado de la palabra verdadero, que se eleva por encima de la oposicin verdadero-falso, pernteneciente slo al mbito de las proposiciones.
47
2.4.3. O mtodo filosfico e o enfoque fenomenolgico
A filosofia deve poder dedicar-se a todas as reas do conhecimento humano que necessitem de uma fundamentao ou de um esclarecimento racional mais consistente. Por isto, a questo metodolgica em Scheler esteve subordinada aos seus diversos interesses temticos. Ou seja, o mtodo se adaptava s diversas ontologias regionais, falando em linguagem husserliana, ou s diversas esferas do ser que interessaram a Scheler, contando com o aporte do conhecimento de vrias cincias, sem tirar o valor de profundidade filosfica com que tratava de seus temas. Porm, segundo Pintor Ramos, por vezes a falta de pacincia com temas puramente especulativos leva o filsofo a adotar formulaes e postura excessivamente rgidas e dogmticas80. Poderamos dizer, no entanto, que Scheler foi um dos primeiros filsofos a utilizar temas transdisciplinares para elaborar uma completa antropologia de carter filosfico, porm sustentada pela efetividade das diversas esferas de ser presentes no homem e suas relaes internas. Teve por isto que dialogar com o mtodo e os conhecimentos adquiridos nas diversas cincias particulares sobre o homem, como a medicina, a biologia, a psicologia, e a sociologia. De fato, hoje impossvel fazer antropologia filosfica querendo caracterizar o homem somente do ponto de vista do logos. um logos essencialmente encarnado e vivente, e por isto o grande achado de uma filosofia da vida e das vivncias. Por isto, segundo o mesmo comentarista, desde o horizonte aberto com a revoluo copernicana de Kant, foi somente com Scheler que a atual antropologia filosfica adquiriu sua maturidade inicial81. Se por um lado toma em grande considerao o significativo aporte que trazem as diversas cincias, por outro lado, fiel ao mtodo filosfico, Scheler no deixa de dialogar com os filsofos que lhe precederam na busca de uma resposta pergunta pelo homem, em um plano estritamente racional. Porm, este estritamente racional, desde a compreenso vivencial da fenomenologia e de seus desdobramentos existenciais, no pode mais considerar uma discusso filosfica como ao nvel de uma improvvel razo pura segundo a compreenso kantiana. A razo no to pura quanto Kant supunha. Antes, est irredutivelmente ligada a vivncias e relaes que, para ser autntica e adequada sua prpria condio de razo humana, no pode negligenciar. mtodo comum em Max Scheler expor lado a lado os inmeros pontos de vista filosficos e teorias sobre os temas que aborda. Alguns ele rechaa totalmente, outros
80 81
Pintor Ramos, p.16. Pintor Ramos, p.8
48
parcialmente. Seguindo a postura fenomenolgica, as diversas vises filosficas que aparecem na histria no so necessariamente contraditrias e mutuamente excludentes desde que no apresentem problemas de fundamentao internamente contraditrios; contribuem, portanto, para a descrio dos fenmenos abordados. H casos, claro, em que determinadas fundamentaes filosficas so definitivamente rejeitadas. Mas procura-se ver os problemas com o aporte de diversas miradas, sem procurar fechar de uma vez o sistema. Por exemplo, mesmo a tica kantiana puramente formalista, que Scheler pretendeu superar com uma tica material dos valores (ou melhor, no seu dizer, seguir mais alm), considerada por ele at ento a doutrina mais acabada em matria de tica filosfica82. Scheler na verdade apia-se na conquista da crtica kantiana como superao da tica de bens e fins como era proposta desde Aristteles e que fundamentava o tradicional objetivismo esttico dos bens, prprio da escolstica catlica. Juntamente com Kant, rejeita definitivamente toda tica baseada na tica aristotlica de um mundo essencial de bens absolutos e um mundo de finalidades objetivas. Para Scheler, estas ticas no fazem a devida distino entre os conceitos de bens, fins e valores. Porm, por outro lado, avana mais alm da viso kantiana, pois esta se assenta em ltima instncia sobre um humanismo de carter exclusivamente racional, enquanto Scheler percebe no homem diversas esferas de ser, ou estratos, aos quais devem-se referir valores correspondentes. No se pode, pois ver a tica simplesmente como advinda de um a priori formal cuja origem e finalidade exclusivamente a dimenso da razo. A finalidade da tica fundamentar um agir racional concreto na materialidade, como realizao de valores no mundo. O homem no s razo e, portanto, no tem valores s racionais; mas esprito que perpassa todas as esferas de ser em que se estrutura o ser humano, e cada uma tem valores prprios na constituio do homem. Husserl debruou-se sobre o fenmeno do conhecimento para mostrar que nele est a evidncia de um caminho de acesso ao fenmeno da objetalidade, a intuio da unidade essencial. Mas, como dissemos, um caminho. por isto que a fenmenologia para Scheler um enfoque, e no um mtodo. Porque em um mtodo, caminho para chegar a algum lugar, j est pressuposto o estabelecimento do ponto de chegada. De alguma forma j se sabe onde se quer chegar. O mtodo estabelece seu fim. O enfoque no estabelece um fim. O enfoque um ato de focalizao, uma mirada voltada para determinado objeto, como j explicamos anteriormente; neste caso, para os fatos fenomenolgicos. Mas apenas uma entre tantas miradas possveis e qualitativamente diversas, como as derivaes histricas do movimento
82
ET-I,p.8.
49
fenomenolgico o demonstraram. O enfoque um ato circunstancial, menos determinante do que um mtodo.
Em primeiro lugar, fenomenologia no o nome de uma cincia nova, nem um termo substitutivo de filosofia, mas o nome dado a um enfoque peculiar da contemplao espiritual atravs da qual se obtm uma viso ou uma vivncia que permaneceriam ocultas sem este enfoque. Se trata, pois, de um reino de fatos de ndole particular. Digo enfoque e no mtodo, porque este ultimo um procedimento do pensar, com vistas a um fim, e versa sobre fatos, como sucede por exemplo, com a induo e a deduo. Mas em nosso caso se trata, primeiro, de novos fatos prprios, anteriores a toda fixao lgica, e segundo, de um procedimento de contemplar. Os fins a que tende este enfoque so oferecidos, no entanto, pela problemtica filosfica do universo tal como tem sido formulada em sua maior parte pela filosofia atravs de um trabalho milenar. Com isto no se afirma, por outro lado que, ao exercer-se este enfoque, a formulao mais precisa destes problemas no possa sofrer, todavia, mltiplas modificaes83.
Os temas e fins no so estabelecidos unicamente pela filosofia ou pelas cincias particulares, apesar de em grande parte o serem. Podem haver surpresas no caminho que solicitem uma mudana, uma alterao de abordagem, que levem a uma viso do todo de forma diversa do originalmente esperado. preciso estar aberto e no se deixar confundir pelos pressupostos e preconceitos de outras formas de conhecimento. Husserl se props a atingir a essncia eidtica da objetalidade transcendente, as coisas mesmas, como que a atender s exigncias finais das cincias naturais e positivas. Com isto, por um lado, j se props um fim, e por outro, excluiu-se outros fins como sendo de antemo inacessveis. O seu fim a essncia, mas como dado imanente, e seu mtodo a reduo sobre o transcendente. Somente a objetalidade imanente pode ser imediatamente evidente conscincia, como momento ingrediente da cogitatio, o dado objetal como ato da conscincia. Ao mirar o objeto das cincias, termina por no atingi-lo, e fica somente com a evidencia reflexiva e interna do ato de conhecimento na conscincia. Mas e a coisa mesma? O equvoco, para Scheler, o estabelecer-se um fim, ao invs de estar aberto a qualquer fim a que o caminhar venha a conduzir. Esta a atitude do fenomenlogo: o caminho se faz ao
83
FG, p. 62: En primer lugar, fenomenologa no es el nombre de una ciencia nueva, ni un trmino sustitutivo de filosofa, sino el nombre dado a un enfoque peculiar de la contemplacin espiritual a travs del cual se obtienen una visin o una vivencia que quedaran ocultas sin este enfoque. Se trata, pues, de un reino de hechosde ndole particular. Digo enfoque y no mtodo, porque este ltimo es un prcoedimiento del pensar, con arreglos a un fin, y versa sobre hechos, como sucede por ejemplo, con la induccin e la deduccin. Pero en nuestro caso se trat, primero, de nuevos hechos proprios, anteriores a toda fijacin lgica, y, segundo, de un procedimiento del contemplar. Los fines a que tiende este enfoque, los ofrece, empero, la problemtica filosfica del universo tal como ha sido formulada en su mayor parte por la filosofa a travs de una labor milenaria. Con lo cual no se afirma, empero, que al ejercerse esto enfoque la formulacin ms precisa de estos problemas no pueda sufir, todava, mltiples cambios.
50
caminhar, o fim se apresentar por si mesmo, no deve ser posto de antemo. como uma viagem em que tudo novo, no se sabe o que vir pela frente. Exige uma atitude radicalmente aberta, mesmo quanto aos mtodos empregados. Em meio s investigaes de Husserl, muitas coisas novas apareceram que o prprio filsofo no pode investigar suficientemente, como o caso de descrever mais profundamente as possibilidades de conhecimento que oferecem outras vivncias da conscincia, alm dos atos objetivantes, uma vez que estava por demais focado sobre o problema da fundamentao do conhecimento sob a perspectiva dos atos objetivantes da conscincia. O enfoque como mirada tem um carter de contemplao, mais aberto, portanto, do que o carter diretivo de um mtodo. Scheler pretende assim lanar o foco da mirada fenomenolgica mais diretamente sobre o ponto de contato das vivncias com o dado transcendente do mundo mesmo a fim de alcanar uma maior objetividade.
Uma filosofia fundada na fenomenologia deve possuir, em primeiro lugar, e como caracterstica fundamental, um contato vivencial com o mundo mesmo, ou seja com os objetos em questo. Este contato h de ser vivo, intensivo e imediato em maximo grau, e se realiza com respeito aos objetos tal como se oferecem em forma muito imediata na vivncia, ou seja no ato da vivncia, e tal como eles mesmos existem neste ato e somente nele. Sedento de encontrar o ser contido na vivncia, o filosofo fenomenolgico tratar de beber em toda parte nas fontes mesmas nas quais se revela o fundo do mundo. Ao faz-lo, sua mirada reflexiva se detm somente no ponto de contato entre a vivncia e o mundo como objeto, e no importa se trata-se de coisas fsicas ou psquicas, de nmeros, ou de Deus ou de outro algo. O raio da reflexo haver de cair somente sobre aquilo que existe neste contato mais estreito e mais vivo, e enquanto existe nele84.
Assim, se Husserl foi o descobridor do novo mundo das coisas mesmas como essncias, diz-se que Scheler foi o seu conquistador, aquele que, mais do que todos os filsofos que partiram das descobertas de Husserl se dedicando a analisar profundamente temas especficos, procurou adentrar por todas as sendas deste novo continente das essncias, e libertando a fenomenologia do carter excessivamente imanentista e idealista em que a havia encerrado seu fundador85. Sem se igualar a Husserl em preciso e exatido, nem a Heidegger em profundidade de anlise e construo sistemtica, Scheler se dedicou a investigar, apontar e descrever o maior
84
FG, p.63: Una filosofa fundada en la fenomenologa debe poseer, en primer lugar, y como caracterstica fundamental, un contacto vivencial con el mundo mismo, o sea con los obetos en cuestin. Este contacto ha de ser vivo, intensivo e inmediato en sumo grado, y se realiza con respecto a los objetos tal como se ofrecen en forma muy inmediata en la vivencia, o sea en el acto de la vivencia, y tal como ellos mismos existen en ese acto y slo en l. Sediento de hallar el ser contenido en la vivencia, el filsofo fenomenolgico en todas partes tratar de beber en las fuentes mismas en las que se revela el fondo del mundo. Al hacerlo, su mirada reflexiva se detiene slo en el punto de contacto entre la vivencia y el mundo como objeto, y no imorta se se trata de cosas fsicas o psquicas, de nmeros, o de Dios o de otro algo. El rayo de la reflexin habr de recaer slo sobre aquello que existe (da ist) en este contacto ms estrecho y ms vivo, y en cuanto existe en l. 85 Colomer, p.407.
51
nmero de dimenses possveis das vivncias humanas, compondo assim uma viso assaz integral - se bem que, para muitos intrpretes, em alguns pontos no suficientemente aprofundada - de todos os aspectos e estratos que encontrou no ser humano, e por isto mesmo por muitos considerado aquele que estruturou e consolidou a atual antropologia filosfica tal como hoje compreendida. como a tarefa de um minucioso anatomista, ao elaborar um fundamento para as demais reas da biologia e da medicina, de tal modo que outros possam aprofundar o estudo sobre as estruturas j descobertas. Scheler faz com a diversidade de atos intuitivos e esferas estruturais do esprito humano o mesmo que Husserl fez ao investigar as atividades do pensamento a partir da descrio das vivncias: apontadas as diversas dimenses, campos, regies e estruturas, outros podero aprofundar as investigaes.
2.5. O conhecimento do valor
A partir da noo de desejo de participao no ser surge a intuio original de Scheler sobre o valor como primeiro objeto de desejo do conhecimento. O primeiro sentido que surge nesta relao o do valor. O ser humano est primariamente imerso em um mundo circundante de valores e coisas, nesta ordem, do qual vai progressivamente se aproximando, sob atitudes diversas, seja de admirao, de dominao. O ser humano dirige sua inteno de conhecer para aquilo que no mundo circundante intuiu imediatamente como um valor objetivo. A primeira inteno objetual se dirige a um valor, ou melhor, atrada por um valor. Somente depois isto vai se tornar um objeto de uma viso teortica. O dado do valor , pois, imediatamente evidente e possui uma aprioridade objetiva frente todo ato da razo prtica como o querer prtico, o agir; por outro lado possui aprioridade subjetiva frente a todo dado de ser da razo terica86. H um primado dos atos emocionais bsicos do esprito, os atos de amor e de dio, frente aos demais atos, como os atos da razo teortica, como o representar, o julgar, etc, bem como frente a todo querer de uma razo prtica87. A racionalidade apenas uma entre as modalidade de ser do esprito. Aqui cabe introduzirmos uma passagem chave da sua ...tica material dos valores, talvez a mais significativa, a respeito da legitimidade do conhecimento a priori dado pelo perceber emocional:
Pois o sentir, amar, odiar, e as leis que entre eles existem, e as que se referem a suas matrias, so to pouco especificamente humanas como os atos de
86 87
EF,.p35 EF,p.35
52
pensar (...). O que aqui, pois, exigimos decididamente frente a Kant um a priorismo do emocional (...). tica emocional, diferentemente de tica racional, no necessariamente empirismo, no sentido de uma tentativa de deduzir os valores morais a partir da observao e induo. O perceber sentimental, o preferir, o amar e o odiar do esprito tm seu prprio contedo a priori, que to independente da experincia indutiva como o so as leis do pensamento88.
a partir desta atitude emocional, ou sentimental89, do esprito que se tem acesso ao dado mais fundamental, o a priori material de toda possvel objetivao, o valor e, a partir deste, a todo contedo inteligvel. Toda nossa vida e condutas teortica e prtica tm seu fundamento e sua ltima unidade nestes atos de vivncia emocional do esprito. Tambm na tica a intuio emocional do valor tem um primado frente a toda generalizao racional, que por sua vez a tarefa mesma da tica enquanto disciplina filosfica. Aqui est o cerne da intuio tica de Scheler.
Uma tica material dos valores a priori frente a todos os contedos de imagem da experincia, porque os contedos de imagem de uma inteno se
ET-I,pgs.102-103: Pues el sentir, amar, odiar y las leyes que entre ellos existen, y las que se refieren a sus materias, son tan poco especificamente humanas, como los actos del pensar (). Lo que aqui, pues, exigimos decididamente frente a Kant es un apriorismo de lo emocional (). tica emocional, a la diferencia de tica racionl, no es necessariamente empirismo, en el sentido de un intento de deducir los valores a partir de la observacin e induccin. El percibir sentimental, el preferir, el amar y el odiar del espirito tienen su proprio contenido a priori, que es tan independiente de la experiencia inductive como son las leyes del pensamiento. 89 Aqui cabe uma observao quanto compreenso dos termos sentir, estado, sentimental e emocional, usados na traduo espanhola, sua referncia ao original alemo, e o sentido em portugus. Em espanhol, so usados os termos percepcin sentimental, sentirou percibir sentimental para traduzir o simples termo alemo Fhlen, com o sentido de um ato intencional (isto , que nunca pode ser objetivado nem confundido com um simples estado); e os termos sentimiento e estado sentimental para traduzir Gefhle e Gefhlszustnden, com o sentido mesmo de estado que, este sim, pode ser objeto daquele ato de sentir (ET-II,pp.24, 26 e nota p.28; cf. Gesammelte Werke-II,pp.259, 261 e nota p, 262). Em portugus o termo percepo, ou melhor ainda, perceber sentimental, portanto, est referido ao ato intencional do puro sentir. Por outro lado, no trecho citado logo acima, no original alemo, Scheler, prope enfaticamente uma Emotionale Ethik, traduzida literalmente no espanhol por tica emocional, fundada no referido Fhlen, traduzido por percibir sentimental ( ET-I,p.103; Gesammelte Werke-II,p.84). Vemos, assim, que o termo sentimental introduzido no espanhol para reforar o sentido de ato intencional de Fhlen, que no alemo se referia a emotionale. Sobretudo em lnguas neo-latinas, o termo emocional tem uma conotao mais prxima de estado ou reao, e portanto um sentido de a posteriori em relao ao ato original de puro sentir, para o que o espanhol parece ter preferido introduzir sentimental. Como Scheler usa tambm emotionale, a verso espanhola traz algumas vezes os dois termos associados: emocional e sentimental, o que gera alguma confuso. No trecho de EF,p.35, o espanhol mesmo obrigado a empregar a traduo tipos especficos emocionales de actos de nuestro espritu. De todo modo o mais importante que sempre que os termos emocional ou sentimental se referirem ao ato de sentir, perceber, ou mesmo intuir (para Fhlen), nunca podem ser confundidos com sentimentos ou estados sentimentais ou emocionais (Gefhle). Em portugus, preferimos perceber sentimental ante sentir emocional; mas, para evitar maiores confuses do que as j existentes, nos manteremos fiis verso espanhola na traduo das citaes.
88
53
regem pelos valores materiais, e suas relaes se regem, por sua vez, pelas relaes que existem entre os valores materiais90.
2.5.1. A aprioridade do perceber sentimental
Meu paladar no poder distingir o mal? (J 6,30) caracterstico do perceber sentimental, ou perceber emocional, ser um ato intencional do esprito e, portanto, possuir um objeto que seu recheio intuitivo91, matria de intuio preenchedora. Por possuir um objeto j percebido como objeto, este ato tem uma funo cognitiva. H modos diversos de relacionamento do esprito com os vrios estratos da vida, mas o que garante o acesso diversidade de contedos cognitivos dos vrios atos do esprito que todos os atos, tanto os emocionais quanto os racionais tericos e prticos tm sua origem no esprito como pura objetividade92, no sentido de abertura ao ser que se apresenta tal como .
(...) os tipos especficos emocionais dos atos de nosso esprito, que tambm constituem as fontes para todos os juzos secundrios de valor e para todas as normas e princpios do dever ser, e em virtude dos quais os valores nos so dados, constituem o lao comum de unio tanto para toda nossa conduta prtica como para nosso conhecimento e pensamento teortico93.
O ato de perceber emocional, como ato intencional que se desenvolve de modos diversos nos diferentes estratos ou funes emocionais, est intimamente ligado intuio de uma hierarquia material dos valores, a base da tica scheleriana que fundamenta racionalmente a possibilidade de um conhecimento do valor moral dos atos humanos, pois os estratos de sentir tm como objeto as diversas modalidades materiais de valor, com veremos no captulo sobre os valores e a tica. Quando falamos em um perceber emocional no tratamos de estados emocionais, se bem que entre ambos h uma ligao, como veremos no tem seguinte. O perceber um ato intencional prprio do esprito, que tem uma objetividade e uma matria
90
ET-I,p.74: Una tica material de los valores es a priori frente a todos los contenidos de imagen de la experiencia, porque los conetnidos de imagen de la tendencia se rigen por los valoores materiales, y sus relaciones se rigem, a la vez, por las relaciones que existen entre los valores materiales. 91 Llambas, p.80. 92 PC,p.36. 93 EF,p.35: los tipos especficos emocionales de los actos de nuestro espritu, que tambin consctituyen las fuentes para todos los juicios secundarios de valor y para todas las normas y principios del deber ser, y en virtud de los cuales los valores nos son dados, constituyen el comn lazo de unin tanto para toda nuestra conducta prtica como para todo nuestro conocimiento y pensamiento teortico.
54
intuitiva. Os estados so contingentes e empricos, podem ser observados, podem ser matria de um ato de intuio; so importantes como indicadores do grau de unidade entre o ato de intuio de valor, o sentido de dever, o ato de realizao do valor e o sentimento do estado de felicidade, pois que, apesar de independentes, no so dimenses alienadas umas das outras. Uma percepo de um valor no necessariamente se concretiza numa realizao de valor, nem por outro lado produz os mesmos estados emocionais; nem entre pessoas diversas, nem na mesma pessoa em momentos distintos da vida. O perceber puro ato de intuio, que enquanto ato no pode ser imediatamente e ao mesmo tempo observado por si mesmo; seu dado objetivo evidente e necessrio, uma essncia a priori no sentido de que se revela no momento mesmo da experincia do sentir, antes de qualquer outro ato espiritual. H basicamente trs tipos ou modalidades de sentir intencional como ato do esprito94: 1) o sentir dos prprios sentimentos ou estados interiores, como alegria, tristeza, etc; 2) o sentir de contedos emocionais exteriores, como a desolao de uma paisagem, a tranqilidade de um rio; 3) o sentir de valores, intudos neste ato de sentir como contedos materiais, como objetos de um puro sentir antes que objetos de teorizao. O valor imediatamente evidente somente para o ato do puro perceber do esprito, que percebe este sentir, mas no para a razo terica. Porque a conscincia do esprito anterior e fundamento dos atos da razo terica, isto , esta apenas um dos modos de conscincia intencional. Para a razo terica, a essncia pura somente ser acessvel reflexivamente, via reduo fenomenolgica, portanto, de modo mediado. A raiz tanto dos atos emocionais quanto dos atos racionais est no esprito que a todos os atos tem acesso imediato. Porm, como h atos que intuem essncias de modo imediato, os atos emocionais, e outros que intuem de modo mediado, os atos racionais, o esprito somente tem uma participao imediata ao ser da essncia via intuio emocional. Dissemos que trs so as modalidades bsicas de atos emocionais, mas vrios so os atos. Entre outros, so atos emocionais do esprito, por exemplo, o gozar, sofrer, amar, o odiar, preferir, postergar, e, diferentemente da compreenso kantiana, o querer. Se Kant somente compreendia o querer como relativo esfera contingente da vida, que devia ser submetida ao campo de aplicao do a priori da razo, ou seja, na razo prtica a vontade orientada desde cima pelo a priori formal, assim como na razo teortica o conhecimento orientado por categorias formais a priori, para Scheler o fundamento do querer prtico, assim como de todo conhecimento terico, um ato de intuio emocional que lhes anterior, o ato de amor ou de
94
ET-II,p.28, nota de roda-p 17; LL, p.78
55
dio que aponta para um contedo original, o valor querido. Segundo Meister, o ato de amor que fundar qualquer juzo, percepo, representao, recordao, e intenes significativas dirigidas ao objeto95. O querer, por sua vez, no simplesmente atrelado a um contedo contingente, uma tendncia que para ter uma ordem necessria precisa receber uma forma dada pela razo; o querer tambm tem uma ordem, uma intencionalidade, tem uma matria emocionalmente definida, mas que no pode ser objetivvel e deduzida de uma lei da razo prtica. indispensvel na vida sabermos claramente o que queremos, mas nem sempre sabemos conceituar a causa, o porqu. Por exemplo, sabemos que queremos determinada profisso, ou que estimamos e queremos a companhia de determinada pessoa, mas dificilmente sabemos exatamente porque, e muitas vezes jamais conseguimos mesmo definir conceitualmente ou causalmente. Podemos encontrar claramente um valor como objeto do querer, mas no defini-lo. claro para nosso esprito como objeto de uma intuio emocional; mas no claro como objeto conceitual ou lgico. Se no nos perguntam, sabemos o que , sabemos quando encontramos. Mas se nos perguntam, j no sabemos dizer, apenas mostrar. Assim, primeiro intumos o valor como evidente para o esprito no ainda para o ato racional do esprito , como auto-dado, imediatamente reconhecido como objeto de amor ou de dio, sem que se possa definir ainda a causa disto; junto com o valor ou desvalor intumos seu portador como um algo apenas, um objeto sem conceito. apenas algo valioso, pois estamos no campo emocional. Somente aps encontrar valor em um algo valioso, um portador ou depositrio do valor, que a razo se dirige a este algo que pode ser objetivado, por vezes esquecendo at o valor que sobre ele repousa. Este algo valioso, ento, se torna objeto intencional da razo, seja de uma representao, de um juzo, etc., para a razo teortica, ou de um querer, escolher, ou fazer da razo prtica, como quando vemos um ato valioso e sentimos a inclinao para realiza-lo tambm. Scheler considera fenomenologicamente duas dimenses do querer: um querer emocional a priori fundado em matrias, o verdadeiro querer puro, que no necessariamente cont em si a determinao de realizar-se, e um querer prtico, que o querer determinado formalmente como dever de modo a posteriori pela razo prtica96; ainda assim, este o querer realizar-se matria original do querer puro. O querer emocional, o querer puro, no determinado por uma lei formal da razo, somente o querer da razo prtica. O querer prtico, o querer de realizao se torna matria de um querer puro, pelo que o querer puro sempre livre e indeterminado pela razo. Deixa-se determinar apenas pelo seu objeto no momento mesmo de intuio. Sou livre para querer. Quantas vezes dizemos: agora estou com
95 96
Meister, p.38 ET-I,p.97 e 100.
56
fome e cansado de caminhar; h vrios restaurantes por aqui, mas no quero parar agora, vou continuar. Nada, nenhuma idia, nem mesmo o impulso mais primitivo da natureza bruta, determina necessariamente o que quero. Mas quando encontro o que quero, meu querer se deixa determinar. No h uma lei racional que determine o querer, se houvesse uma lei, seria uma lei das possveis matrias do querer, mas esta tambm no pode ser determinada como lei porque no podemos conhecer todas as possibilidades de matria de querer; podemos vir a querer algo que ainda no existe, como um bem que ainda no foi criado. Em resumo, o querer somente se determina no encontro de seu objeto. Este o a priori puro: o momento de adequao no encontro do esprito com o objeto dado por si mesmo. Bens, fins, meios, tudo aquilo que pode ser conhecido como unidades identificadas e conceituadas pela razo, sejam coisas reais ou ideais, atos concretos, atitudes, e mesmo o puro dever ser, somente so constitudos como objetos racionais, conceituados, aps serem reconhecidos como portadores de valor para um ato emocional. Do mesmo modo um dever. Algo bom no porque um dever, mas sim um dever porque bom. O bom a causa de todo cognoscvel. Somente depois de ver passar diante de si todo ser que era bom, o homem a todos deu nome. Este o sentido do a priori da intuio ou do perceber emocional do valor.
Reflexes
Scheler procura abrir todas as portas da percepo do esprito a um pleno vivenciar de atos de intuio, numa viso mais ampla, alm atos lgicos significativos e signitivos investigados por Husserl. At ento a filosofia havia feito uma ciso entre razo e sensibilidade97. Abre-se assim um mundo de objetos intudos evidentemente por uma percepo consciente, sensvel ou emocional. Objetos intencionais que podem ser sentidos como unidades de essncias intudas por uma experincia ainda que singular, uma essncia que pode ser acessvel sem a necessidade de um ato unificador de vrias intuies. Scheler cita algumas experincias singulares que mostram que uma essncia pode ser evidentemente intuda, sem necessidade de atos racionais de unificao, por exemplo a experincia do Buda: em uma nica experincia de ver um homem pobre, intui imediatamente o valor negativo da dor, da pobreza, intui a pobreza como um mal, como portadora de um valor negativo; o valor negativo j est imediatamente intudo nesta nica experincia; da mesma forma intui um valor negativo da dor
97
ET-II,p.24.
57
ao ver um homem doente, e ainda ao ver um homem morto. O valor negativo intudo imediatamente. Somente depois, por um ato de ideao, constitudo, por exemplo, o conceito geral de dor. Ou ainda em um nico ato de bravura podemos intuir o valor positivo da bravura. O modo como Scheler descreve o ato pelo qual se nos faz acessvel a essncia dos valores segue o mtodo da reduo fenomenolgica. Aplica-o antiga intuio de que h uma ordem nos atos de percepo sensvel, ou atos emocionais do esprito, como o ordre du coeur de Pascal. Para Scheler, no somente os atos racionais podem ter contedo cognoscitivo. H tambm uma ordem no dado intudo por uma espcie de sensibilidade espiritual consciente, irredutvel a um puro dado racional. Porm, para este dado ser acessvel filosoficamente, preciso aplicar a reduo at mostrar o momento em que ele se mostra como auto-dado evidente para a conscincia, como um objeto evidente de uma percepo sensvel da conscincia intencional. Inicialmente preciso fazer a distino entre a percepo sensvel como ato, como um sentir, e o correlato estado sentimental 98. O ato puro do perceber independente do estado sentimental, nunca pode ser objeto. Inicialmente, so duas as possibilidades de objetos da intuio sensvel ou emocional (os termos se mostram muitas vezes equivalentes). Objetos podem ser o estado sentimental, ou, como vamos ver o algo a que intende o ato puro do perceber. Os objetos, ao serem objetivados, podem ser reduzidos fenomenologicamente. O resduo fenomenolgico da reduo dos objetos do puro ato do perceber, portanto, aquilo que sobra, que no pode mais ser objetivado e reduzido. O resduo da reduo fenomenolgica o ato puro, resduo porque no pode ser demonstrado. O que a reduo fenomenolgica faz demonstrar e reduzir tudo aquilo que no o ato, de modo que reste o ato puro como resduo indemonstrvel. Por outro lado, antes de chegarmos ao ato puro, mas j tendo reduzido o estado sentimental que no tem nenhum objeto porque no ato, sobra o ato e ainda um algo a que intende, que o correlato objetivo do ato. O objeto do ato de pura intuio sensvel a essncia pura do valor. Mostraremos mais adiante os vrios estratos de percepo sensvel da vida emocional do esprito. Em cada estrato, a percepo sensvel sempre intui um valor. Somente para antecipar, no estrato mais inferior, a percepo do sentir sensvel, surge como objeto de intuio o valor do agradvel ou o desvalor do desgradvel. Octvio Derisi, porm, no aceita a aprioridade do perceber emocional para a intuio dos valores e bens. Para ele, aqui est um dos graves erros de Scheler: no distinguir
98
ET-II, p.27
58
corretamente entre o apetite ou sentimento, e a apreenso, o que tem como resultado o irracionalismo emocional da tica de Scheler. Segundo este crtico, a apreenso sempre efetuada pela inteligncia. O sentimento ou apetite nunca cognoscitivo, nem mesmo intuitivo. Somente o conhecimento apreende o ser objetivo: o conhecimento sensvel, os seres concretos e corpreos, e o conhecimento intelectivo, o ser formalmente tal99. Quando Derisi coloca o acento sobre o contedo cognoscitivo do sentimento, e no sobre o ato de sentir, e ainda interpe o conceito de apetite, percebemos que no ficou clara para ele a distino entre o sentimento e o sentir dos estados sentimentais. Por causa deste tipo de interpretaes equivocadas, no prximo item procuraremos clarear um pouco mais a relao entre o sentir e os estados sentimentais, que so apenas um dos objetos do sentir, como acima descrevemos. Interessa salientar que chegamos aqui ao valor como matria ou contedo objetivo de uma intuio. Contedo de valor evidente e necessrio, se bem que pr-racional e assimblico. H uma relao intencional objetiva. O ato objetivo do perceber ou percepo sentimental est dirigido ao seu objeto concreto, o valor 100, que constitui matria desta intuio, assim como o ato racional da representao se por um lado se constri com base em uma formalidade, por outro est dirigido a uma matria de intuio, como o demonstrou Husserl. Lembramos que por isto que Scheler considera a fenomenologia como um empirismo radical, no como uma negao do formal, mas como um retorno sua intuio material. Assim, Scheler no somente agrega a sensibilidade, o pr-racional e o pr-simblico filosofia, como na origem mesma da filosofia sempre esteve presente o assombro como dado prvio, evidente e objetivo, porm indefinvel, mas ainda considera esta dado algico do perceber sentimental, como o puro amar, sentir, tender, como sendo o dado prvio, anterior a toda inteno racional101. O assombro original da filosofia, intudo sensivelmente, o que move a razo teortica a procurar investigar e conceitualizar este objeto j dado como evidente anterior ao conceito. Portanto, na raiz das atividades da razo, teortica e prtica, na raiz de uma tica absoluta, necessria e apririca, deve haver um dado a priori material que dado primariamente em uma intuio sentimental, e que ser o objeto material de uma inteno de fundamentao
99
Derisi, p.164: El sentimiento o apetito nunca es cognoscitivo, ni menos nituitivo. Slo el conocimiento aprehende el ser objetivo: el conocimiento sensible, los serees concretos, y el conocimiento intelectivo, el ser formal tal. 100 ET-II, p.28 101 ET-II,p.24
59
racional da tica102. sobre este dado material que a tica, como fundamentao racional de uma atividade da prtica, poder encontrar adequao; de outro modo, uma tica racional puramente formal seria uma tica vazia ou arbitrria. Para compreender como o dado de um ato de intuio sentimental do esprito pode se tornar fundamento de uma atividade da razo terica e prtica, Scheler segue ainda a intuio de Spinoza. A Pessoa de scheler uma integrao de esprito e vida, assim como esprito e corpo, no homem spinoziano, so os correlatos finitos dos modos infinitos e imediatos, o modo material e o modo mental ou pensante. O homem spinoziano no um ser unicamente pensante ou racional. H, pois, uma integrao entre pensamento e materialidade, com igual valor de dado imediato. Scheler, porm, constata diversos estratos de intuio no esprito humano. O elemento integrador do dado dos diversos estratos o prprio esprito. O esprito integra tanto os estratos vitais humanos, como o impulso sensitivo, a memria associativa, a inteligncia prtica, e o ato peculiar do esprito, o ato de ideao, configurando a unidade corporal-espiritual da pessoa, como integra este ato de ideao com os demais estratos da vida espiritual mesma, como os atos emocionais ou sentimentais. O esprito a dimenso integradora. Todos os atos apresentam dados para o esprito. A todos os estratos o esprito tem acesso, porque o esprito que perpassa todas as dimenses da vida. Assim, o dado objetivo para um ordre du coeur acessvel, por reduo fenomenolgica, ao ato espiritual da razo terica; mas acessvel como resduo fenomenolgico e no como objeto racional, como aquilo que sobra aps a reduo de tudo o que pode ser objeto da razo. Sobra aquilo que no pode ser objetivado pela razo, mas que objeto de intuio sentimental, o valor. A reduo fenomenolgica que opera sobre a percepo sentimental, de modo a trazer evidncia, descritivamente, o processo de acesso desta intuio ao seu objeto, que a essncia do valor, reduz todo simbolismo e conceituao arbitrariamente aplicados essncia inconceituvel do valor, pelo que se desmonta toda tica nominativa, assim como todo ente real ou portador associado ao valor, pelo que se desmonta a legitimidade da tica de bens e fins. Reduzindo-se ainda o estado emocional associado percepo do valor, tira-se de campo a possibilidade de uma tica simplesmente eudemonista, fundada na busca de estados sensveis ou de apreciaes. Mostram-se como ticas a posteriori. O resduo final desta reduo o puro ato intencional de sentir ou perceber sentimental do esprito, tambm um ato objetivador103, e portanto perceptivo, ato que no pode mais ser objetivado e portanto no pode ser reduzido, mas
102 103
ET-II,p.25 ET-II,p.30
60
que tendo uma intencionalidade, tem como correlato objetivo uma matria de intuio, a essncia pura do valor. A intuio, como ato, parte sempre do esprito, mas participa ou tem acesso aos diversos estratos, no que Scheler chama de uma funcionalidade diversa dos mesmos atos puros de intuio relativamente ao estrato. O ato o mesmo ato puramente objetivante, capaz de obter um dado cognoscvel, dado de conscincia. Mas a funcionalidade, ou o modo de seu funcionar, adapta-se aos estratos humanos. Todos os estratos esto ligados ao esprito. Somente como exemplo, o mtodo da introspeco psicolgica uma aplicao cientfica que, apesar de mediada por simbolismos e esquemas padronizados de interpretao, demonstra o acesso que tem a conscincia tanto aos estratos mais profundos quanto aos estratos mais superficiais da pessoa. O esprito perpassa e tem acesso a todos os estratos humanos e sensveis, pelo que possvel uma percepo interior, uma conscientizao, tanto dos estados interiores relacionados a estes estratos, como de essncias intudas objetivamente. Scheler no ope, assim, a subjetividade do dado vivenciado no perceber sensvel, uma experincia singular, objetividade deste dado como acessvel a um ato intencional da pessoa, que no simplesmente ato de um eu transcendental. A percepo j independente do eu. O contedo intelectual da experincia subjetiva , pois, obtido por uma atividade de reduo prpria da conscincia. A subjetividade da referncia do sentir ao eu reduzida junto com o eu, pelo que resta a objetividade da conscincia intencional. Com isto Scheler rechaa toda doutrina da subjetividade dos valores104. Assim como a essncia de certos objetos ideais de conscincia, como os nmeros, no depende da posio de um eu, tambm a essncia pura do valor no depende da subjetividade. Os valores so objetivos, porque so essncias puras, objeto ou contedo, matria de uma percepo intencional.
2.5.2. Estratos da vida emocional
Os estratos da vida emocional105 so sentimentos de estados relacionados intuio sentimental do valor. Constituem a origem da possibilidade de relao entre a felicidade e a moralidade. Os estratos da vida emocional so o fundamento antropolgico da relao entre a felicidade e a tica material de Scheler. Apesar de a tica no estar fundada em sentimentos,
104 105
ET-II,p.38. ET-II,p.114ss.
61
mas sim no sentir, os sentimentos no podem ser simplesmente excludos da vida tica; so indicadores do grau de integrao espiritual entre os estratos de atos de intuio e os estratos de estados afetivos, e do grau de satisfao ou preenchimento da inteno espiritual mais profunda. So caractersticas destes estratos do sentimento emocional uma maior referncia ao eu (psquico, corporal) do que vida intelectual106. o que caracteriza a subjetividade ou relatividade do objeto da vivncia107, que por sua vez constitui o substrato de uma hierarquia de objetos conforme sua relatividade ou absolutidade. A referncia ao eu diversa, variando conforme os estratos sentimentais. A referncia pessoa se d nos estratos mais profundos pelos quais possvel intuir o valor absoluto da pessoa mesma. O importante considerar que os contedos da vivncia so inteligveis, so objetivamente acessveis ao esprito, mas sempre relativos a uma vivncia subjetiva. O esprito humano, em seu o puro ato de sentir espiritual, como ato mais original de intuio, somente tem acesso aos valores que aprecem nos portadores a partir dos estratos sensveis que ligam o esprito constituio psico-fsica do homem, pelo que mesmo os contedos intelectuais devem ser sustentados pelo eu referncia vivida ao eu. Uma importante conexo essencial que a intuio da hierarquia material dos valores est intimamente relacionada profundidade dos estratos emocionais. O outro lado desta importante conexo essencial entre a intuio da hierarquia dos valores e os estratos emocionais, ou de sentimentos, que estes correspondem estrutura mesma de toda nossa existncia humana109. A altura do valor intudo, do mais relativo e inferior ao absoluto e superior, est relacionada funo que intui conforme esta esteja vinculada mais para o lado da dimenso do vital, e conseqentemente a um maior grau de relatividade s dimenses contingentes dos estratos de ser da pessoa, e esta por sua vez vinculada profundidade do sentimento do estado emocional, ou mais para o lado da dimenso do espiritual, e portanto com menor relatividade ao existente mais prximo da intuio do valor absoluto totalmente independente do existente. intuio est relacionado um determinado sentimento de um estado emocional. Descrevemos agora os estratos da vida emocional porque estes esto ligados compreenso antropolgica de Scheler e so fundamento da sua teoria do conhecimento, e para que, ao tratarmos da tica material dos valores mesma, no captulo correspondente, possamos
106 107
108
. Constituem uma
Llambas, p.158 FG,p.90. 108 ET-II,p.114: Los contenidos intelectuales deben ser sostenidos por el yo. 109 ET-II,p.113 e PC.
62
compreender porque a compreenso tica do valor moral tem como matria os valores materiais ou extra-morais intudos segundo os diversos estratos emocionais. 1. Em primeiro lugar, no estrato mais inferior da vida emocional se acha o sentimento sensvel ou sentimentos da sensao, com as seguintes caractersticas: 1) Est diretamente ligado ao corporal e localizado em uma parte especfica do corpo. 2) Est vinculado a contedos sensoriais correspondentes, tem um objeto, mas no o tem de modo intencional, como quando digo sinto dor nas costas. Est dado como estado, mas nunca como funo ou ato. Pode ser objeto de um ato. O sentimento sensvel est fora mesmo da mais primitiva intencionalidade. 3) Carece de toda referncia pessoa e s de modo duplamente indireto se refere ao eu psquico: sinto-o no como desvinculado do orgnico, como o a melancolia, mas sim na unidade orgnica, e no como um todo, mas de modo localizado. 4) sempre atual, sempre novo, no se representa. 5) puntiforme, carece de durao e de continuidade de sentido. 6) o menos perturbvel pela aplicao de ateno racional sobre ele, diferentemente de todos os sentimentos vitais, que resultam estorvados pela ateno e desenvolvem-se melhor quando sob uma certa penumbra em relao ateno racional. 7) So os que mais diretamente podem ser causados pela vontade; por este motivo, todo eudemonismo prtico supe uma conduta tica orientada para a obteno de prazer sensvel, e isto significa uma conduta hedonista, no porque no haja outras formas de prazer que no o sensvel, mas porque o prazer sensvel o nico que pode ser imediatamente causado de modo prtico. 2. Sentimentos corporais ou vitais. 1) No possuem uma localizao peculiar no corpo, mas referem-se vitalidade da unidade orgnica como um todo, como o bem-estar e o mal-estar corporais, o esgotamento, etc. 2) Constituem um fato unitrio, no uma atualidade sempre nova de fatos separados entre si como o sentimento sensvel. 3) Podem ter uma direo positiva independente da direo do sentimento sensvel: podemos estar de tal modo esgotados que no notamos mais uma dor. Possuem um carter funcional e intencional. So sentimentos mais destacados do aqui e agora, apontam para o devir: indicam a significao valiosa vital dos acontecimentos e processos dentro e fora do corpo. 3. Sentimentos anmicos ou psquicos. 1) Desligam-se dos sentimentos sensveis e corporais. So como a melancolia, a alegria, que podemos sentir independente de estarmos bem ou mal corporalmente. Podemos estar esgotados, mas alegres. 2) Podem ser percebidos ainda como estados por um ato de percepo. 3) Podem ser motivados, mas no necessariamente causados por uma inteno prtica.
63
4. Sentimentos espirituais. 1) Nunca podem ser dados como estados, mas somente como funes de sentir (veja-se o captulo anterior). 2) Neste grau fica reduzida toda referncia ao eu psquico ou um estado anmico. Surgem do centro original de atos espirituais que a pessoa mesma. 3) Penetram todos es estratos emocionais em profundidade. O sentimento espiritual, como a beatitude, a desesperana, a paz de alma, prevalecem sobre os demais estados da vida emocional, sem lhes tirar ou inverter o contedo. Uma dor no deixa de ser dor, mas a felicidade atingida pela beatitude mais profunda e prevalece sobre uma dor. 4) So independentes das mudanas psquico-scoporais. 5) So sentimentos absolutos: ou tomam conta de nosso ser ou no so sentidos.
2.5.3. Os valores
a) Uma objetividade do valor?
A objetividade dos valores somente pode ser entendida no sentido de que so objetos de um ato intencional objetivante, uma inteno do esprito que tem como preenchimento uma intuio onde se d um dado evidente e objetivo para esta intuio. So objetos de uma percepo sentimental. Mas no significa que os valores so objetivveis no sentido de se tornarem objetos da razo teortica, como coisas que possam ser deduzidas de um conceito geral e empiricamente observadas. Nos bens onde unicamente os valores se fazem reais. No o so ainda nas coisas valiosas. Mas no bem objetivo o valor (o sempre) e ao mesmo tempo real 110. Precisamos examinar um pouco mais este sentido de objetivo no contexto da filosofia de Scheler, porque, por outro lado, na mesma pgina, pouco antes da referida citao, explica que o que pode se tornar objetivo, nos valores, est referido a objetos ideais: as qualidades valiosas so objetos ideais. Assim, portanto, o valor sempre objetivo, mas nem sempre real. Pode ser real, como o valor de um bem, ou ideal, como pura essncia ou qualidade valiosa. Na mesma pgina citada Sheler faz uma observao sobre o sentido de objeto: pode chamar-se [s coisa naturais da percepo que no esto constitudas por qualidades valiosas e portanto no so bens] neste caso objeto, palavra com que designamos as coisas enquanto so
110
ET-I,p.49: En los bienes es donde nicamente los valores se hacen reales. No lo son an en las cosas valiosas. Pero en el bien es obetivo el valor (lo es simpre) y al mismo teimpo real ; las qualidades valiosas son objetos ideales.
64
objetos de um referncia vivida e fundada em um valor a um poder dispor por virtude de uma capacidade volitiva111. Como j dissemos, Scheler preferir o conceito de material para os valores, na tica, antes que objetivo, para reforar o sentido de contedo cognitivo. Ento, seguindo o raciocnio do prprio Scheler, se tudo o que objetivo, isto , tudo o que pode ser intudo, dando-se como objeto para um ato do esprito, o em funo de um valor, ento no que os valores sejam objetivos; antes, os objetos que so valiosos ou valorativos; o objetivo que valorativo. Scheler parece ir um pouco mais alm do conceito husserliano de objeto, e por vezes misturar as duas idias, de um objeto para a conscincia, por um lado, e de um objeto para um ato intuidor do esprito, por outro. Mas o sentido prevalecente, quando usa o termo objeto, objetivo, objetivao, este ltimo. Por isto, nota-se que, sobretudo em suas ltimas obras prefere mesmo evitar estes termos, procurando usar ato do esprito, ato intuidor, participao, percepo, sentir ou perceber (o termo mais caracterstico, do alemo Fhlen), etc. Podemos dizer ainda que os valores so essncias puras, como o so, por exemplo, as cores. Ou voc v a cor e a partir da intui a sua essncia, ou no v e jamais poder ter acesso a esta essncia. Porm diversamente das cores, no podem ser unificados como essncia por um ato da razo teortica. Podemos objetivar a cor como dado da sensibilidade visvel, como qualidade visvel de uma coisa, e chegar por reduo do sensvel essncia teortica de cor, defini-la, e ainda criar smbolos e escalas espectrais para cada cor. Os valores, porm, somente so acessveis como pura essncia na intuio sentimental. Para a razo, sero sempre o resduo fenomnico no objetivvel. No se pode definir conceitualmente os valores sem que se escape seu contedo. A intuio da essncia do valor se d na experincia vivida da intuio sentimental, ainda que seja em uma nica experincia. No passvel de uma observao emprica. Na forma de ser de uma essncia empiricamente observada como a cor, por exemplo, j est previamente intuda a cor como essncia e sua manifestao: somente podemos observar empiricamente a cor aps ter a intuio da cor como uma essncia e de sua forma de manifestao material que queremos observar, por exemplo, como qualidade de cor sobre uma superfcie. A observao emprica, portanto, pressupe o conhecimento prvio da essncia a ser observada. Este o retorno fenomenolgico coisa mesma como a intuio originria. Porm, os valores so intudos de um modo mais essencial e menos relativo ao ente existente do que o modo de intuio da cor.
111
Ibid: Puede llamarse en este caso objeto, palabra con la que designamos las coas en aunato son objetos de una referncia vivida y fundada en un valor a un poder disponer, por virutd de una capcaidad volitiva.
65
Os valores somente podem ser entendidos como objetivos porque o perceber sentimental um ato objetivador: No curso do perceber sentimental abre-se-nos um mundo dos objetos, mas somente pelo lado dos valores. Precisamente a freqente falta de objetos de imagem no sentir intencional mostra que o perceber sentimental por sua parte um ato objetivador que no necessita nenhuma representao como mediadora112. Estamos bem longe do sentido hussserliano de ato objetivador e, portanto, tambm, de objetividade. Neste sentido scheleriano, as percepes sentimentais, como as percepes em geral, so atos objetivadores da razo, e portanto seus objetos intencionais so objetivos, e a hierarquia dos valores tambm objetivamente intuda a partir de certos atos do esprito. Estes atos so os atos de preferir e de postergar113. Se preferimos ou postergamos um valor em relao a outro, porque intumos imediatamente uma diferena de magnitude valorativa entre eles, e que portanto h uma hierarquia entre os valores.
b) A materialidade do valor
O valor matria de uma intuio originria, a primeira que surge dentre todos os possveis atos objetivantes do esprito, aqueles que preenchem uma inteno objetivante como uma intuio objetiva e material, os atos nos quais so intudas as essncias e conexes essncias, onde so constitudas idias como objetos e idias de essncias puras. Os valores so essncias puras. No so essncias de objetos reais ou sensveis, como a idia de pssaro, ou mesmo a idia de cor em geral, porque esta intuda por um ato objetivante que executa uma reduo sobre a intuio sensvel, portanto de modo mediado. A essncia do valor dada de imediato. A materialidade dos valores significa, em Scheler, que so matria ou contedo que preenche um ato de intuio espiritual: Todos os valores (inclusive os valores bom e mau) so qualidades materiais(...)114. A intuio sensvel de um valor somente aparece sobre um ente real, mas anterior experincia intuitiva de qualquer ente real. J se sente de antemo o valor sobre um algo, antes de se ter acesso a este algo como ente definido.
112
ET-II,p.30: En el curso del percibir sentimental bresenos el mundo de los objetos, mas slo por el lado de los valores. Precisamente la frecuente falta de objetos de imagen en el sentir intencional muestra que el percibir sentimental es por su parte y de suyo un acto objetivadorque no necesita ninguna repersentacin como mediadora. 113 ET-II,p.31 114 ET-I,p.45: Todos los valores (incluso los valores buenoy malo) son qualidades materiales.
66
c) A aprioridade da intuio do valor
importante destacar que o primeiro acesso a qualquer essncia objetiva em geral se d atravs de uma intuio de valor. H uma distino bsica e ao mesmo tempo uma relao de ordenao entre conhecimento de valor e conhecimento de ser em geral. Em ordem do possvel dado [de ser] no mbito objetivo em geral, as qualidades de valor e as unidades de valor, pertencentes a esta ordem, esto dadas previamente a tudo o que pertence ao estrato de ser alheio aos valores, ou em outras palavras,
todo ser alheio ou indiferente ao valor um ser somente com base em uma abstrao mais ou menos artificial, em virtude da qual prescindimos de seu valor, no sempre dado concomitantemente [ao ser], mas dado sempre de antemo115.
Assim, a todo conhecimento objetivo possvel de ser em geral, a toda objetivao, precede um ato de intuio do valor que destaca o objeto como objeto de valor ao qual o conhecimento intencional da razo se dirige. Porm o primado do dado do valor sobre o dado do ser no implica uma existncia em si do valor precedente ao ser116. Estamos falando aqui de intuio de essncias. O valor no corresponde ao ser objetivvel como existente ou real. captado inteligivelmente apenas sob forma de qualidades valorativas. Ora, se com diz Aristteles, que a toda qualidade corresponde um ser subsistente, ento qualidade do valor corresponde o ser do valor, apenas que no inteligvel diretamente como ente real. Scheler quer mostrar que, ao se falar de prioridade objetiva do valor, no estamos tratando do plano do coisal, do real, ou do existente, mas da objetividade do dado intuitivo. O apriorismo emocional ou sentimental significa que a primeira intencionalidade da conscincia no teortica nem prtica, mas de um puro ato de sentir dirigido ao seu objeto. A aprioridade dos valores significa que a primeira inteno da conscincia no visa a coisa, mas o bem, isto , a coisa como um algo valioso antes de ser coisa. Somente depois de encontrar um algo valioso que a razo teortica se aplicar a objetivar e conceituar este algo. O valioso j objeto de um saber por intuio antes do algo ser objeto do conhecer terico.
EF,p.31: Todo ser ajeno o indiferente al valor es un ser slo en base a una abstraccin ms o menos artificial, en virtud de la cual prescindimos de su valor, no siempre dado concomitantemente, sino incluso dado siempre de antemano. 116 EF,p.34
115
67
Assim, todos os objetos do mundo relativo de nossas cosmovises so somente objetivados a partir de uma primeira intuio de valor. Aquilo que para o ser humano (ainda) no tem significado valorativo, muitas vezes permanece oculto e desconhecido por sculos. Para o animal, segundo Scheler, j h um sentido na relao ekstatica entre indivduo e meio; nesta relao, por exemplo, a fruta elemento do meio que tem sentido para o animal. Mas ainda no se fala de valor. rvore e semente nada significam, so o fundo indiferenciado do meio. Para a cosmoviso natural do homem primitivo, por exemplo, fruta, rvore e semente, e suas conexes essenciais, j se tornam essncias, primeiros objetos, devido ao seu valor para o homem. Porm, as estruturas orgnicas, as funes biolgicas, os tomos, etc, no so ainda objetos para o homem da cosmoviso natural, porque ainda no foi percebido o seu valor como objeto cientfico. Um mesmo depositrio de valor ser objeto de diferentes cosmovises. A razo no cria nossos primeiros objetos. Quando ela chega, os objetos j esto ali, como contedos de intuio valorativa. A razo somente se debrua ou persegue aquilo que primeiramente j nos interessou de algum modo pr-racional, aquilo que nos atrai emotivamente, que desperta uma sensao de assombro, aquilo que mexe com a pessoa inteira antes que saiba exatamente do que se trata. Scheler quer destacar que antes de aplicarmos o uso teortico da razo, ou a atividade objetivante do pensamento para destacarmos essncias do meio, antes disso alguns elementos do meio j nos saltaram aos olhos por serem depositrios de valores, antes que tenhamos elevado estes elementos categoria de objetos. sobre estes depositrios de valor que aplicamos os atos objetivantes. Mas porque antes de serem objetos de atos objetivantes, foram objetos de uma intuio sentimental de valor. Intumos os objetos por causa de seu valor, intumos o valor antes dos objetos. O valor a intuio original de qualquer ato do esprito: no somos atrados primeiramente pelo bem, mas antes o bom nos atrai. A reside tambm a base da diferena entre a intuio da essncia e da existncia do valor. Intumos antes a essncia do valor, independente da existncia ou da materializao do valor. A existncia do valor depende do seu depositrio. O valor aparece na existncia sobre um depositrio real. Mas como a essncia precede a existncia para Scheler, o valor pode ter seu modo de ser somente como essncia. Assim, o valor absoluto, ou bem absoluto, absoluto porque no est condicionado existncia, totalmente independente e no relativo, diferente dos demais valores que so relativos a seus depositrios materiais.
68
Reflexes
O a priori material da intuio sentimental o ponto de partida para qualquer outra modalidade de conhecimento. Ele o dado da primeira inteno. Para Scheler, anterior a todo conhecimento formal propositivo h uma intuio material assimblica. O dado formal da universalizao, que segundo Husserl parte de intenes categoriais, somente tem sentido como predicado sobre um a priori material. O que Scheler quer mostrar que, antes de constituirmos um objeto ideal de carter universal, o que envolve uma srie de mediaes de atos unificadores pelos quais surge a essncia ideal preenchedora de significao, como Husserl demonstrou, anterior a tudo isto a primeira essncia captada e percebida conscientemente um valor, um quid que como que atrai a inteno antes de qualquer ato conceitualizador, antes de qualquer definio do objeto e de sua posio de existncia ou de realidade. antes de algo ser coisa, algo valioso, nos atrai sem que saibamos ainda o que . A primeira intuio a intuio sentimental da essncia pura de um valor que surge sobre um portador ainda no definido. O portador do valor somente nos desperta a ateno porque primeiramente se nos mostra o valor que sobre ele repousa. Podemos tentar dar um exemplo. Ao nos deparamos com um fruto desconhecido, que ainda nem sabemos que sequer um fruto, a primeira intuio que temos do valor que sobre ele h, que surge no momento em que experimentamos este fruto. Com uma nica experincia, intumos imediatamente a essncia do valor, por exemplo, o valor do agradvel. Porm, o conceito deste fruto somente nos acessvel aps a reduo e unificao de vrias experincias intuitivas, como por exemplo, para chegarmos ao conceito de ma. Antes de tudo isto, j se nos mostra numa nica intuio a essncia do bom em si, independente do objeto portador. Isto bom. Independente, porque o valor no est aderido ao portador como qualidade inerente e necessria a este. Se a maa estiver bichada, ou verde, continuar sendo uma maa, porm o valor do agradvel, ou do vital para a alimentao, no repousa sobre ela. A reduo fenomenolgica essencial de onde surge o sentido do conceito ma pressupe ao menos mais de uma experincia intuitiva desta objetalidade, pelo que sua essncia possa ser abstrada por reduo do contedo emprico. A intuio do valor, porm, anterior a tudo isto. Em uma nica experincia intuitiva a essncia do valor j pode surgir como dado a priori auto-evidente. Dizemos pode, porque assim como o surgimento da essncia cor somente surge se temos olhos abertos para ver, a intuio do valor somente surge se no somos cegos para a intuio sentimental.
69
Este o sentido da aprioridade da intuio emocional ou sentimental para Scheler, e da aprioridade do contedo material destas intuies, isto , o valor, frente aos demais atos espirituais. O objeto do conhecimento cientfico, constitudo por um a priori formal, j possui anteriormente um dado primordial sobre o qual se inclina ou intende, um objeto surgido assimbolicamente e pr-conceitualmente como portador de um valor. A matria da intuio sentimental, o valor percebido como essncia auto-dada de modo completo e evidente, o dado a priori; junto com este surge o portador como uma unidade ainda no objetivada teoreticamente, matria intuitiva da razo teortica, o portador apenas como um algo portador de valor, no ainda como essncia evidente, matria intuitiva sobre a qual posteriormente sero aplicadas as categorias a priori formais da razo que constituiro o sentido do objeto, a essncia ideal teortica. Portanto, temos dois tipos de dado a priori, cada um referente a um domnio de atos espirituais: um a priori material, o dado essencial primordial, objeto auto-dado de qualquer intuio, dado evidente at mesmo para uma intuio singular, sendo portanto uma datitude com menor caracterstica de generalidade do que as essncias ideais da razo teortica; e por outro lado, o a priori formal, que tem como dado a intuio da generalidade, o preenchimento intuitivo do conceito, as conexes essenciais que nunca podem ser intudas num nico ato, pois sendo conexes entre essncias somente podem ser intudas como relao entre essncias, necessitando portanto de mais de uma intuio original. O a priori formal tem carter de aposterioridade em relao ao a priori material., pois tem sua origem num ato intencional da razo teortica que mira a generalidade. O a priori material da intuio sentimental, por seu lado, o dado da nica essncia pura imediatamente intuda sem necessidade de generalizao, auto-dada evidentemente como uma essncia mesmo a partir de uma intuio singular: o valor. por isto que para Scheler o objeto da intuio tem significao ntica, tem primado de ser, como ser que surge ou se mostra como essncia objetiva, filosoficamente acessvel a partir da reduo fenomenolgica do mundo de objetos constitudos pela razo, do eu e dos atos objetivantes formais. O resduo fenomenolgico de essncias puras tem valor ntico objetivo, porm no anterior experincia de intuio, mas sim como dado nesta. So objetivos enquanto objeto acessvel conscincia intencional, e materiais enquanto matria de uma intuio preenchedora desta intencionalidade. A significao ntica tem o sentido de essencialidade, no posio de existncia. O significado ntico que Scheler procura na essncia da filosofia117 o primado de ser das essncias puras como datitudes frente a qualquer modo de ser ou
117
EF,p.58
70
positividade. A existncia real um modo de ser da essncia. Uma essncia pura pode ter modo de ser apenas ideal, e nunca ser intuda como existente ou como coisa real, e no entanto ser evidentemente cognoscvel. Assim so os valores. O valor mais evidente e absoluto o menos relativo existncia, o valor do bom em si118, o valor pessoal, o bom como bom, que no depende de definio baseada em representao de coisas ou em conceitos. No se trata de uma coisa como portador do bom pelo qual o bom absoluto possa ser definido, nem um conceito que determine necessariamente o que o bom. Ao contrrio, o bom ou intudo de modo independente e antes da coisa e do conceito, ou no intudo. O valor do bom intudo imediatamente, por exemplo, no momento em que encontramos uma ma saudvel quando estamos com fome, porm no pode ser definido a partir deste depositrio, pois este perece, contingente, ao passo que o bom em si continua sendo; a essncia pura do valor , pois, independente do depositrio. As essncias com generalidades ideais so encontradas a partir da reduo do existente, mas podem ser demonstradas com recurso ao existente. O valor no, pois pura essncia. Apenas repousa sobre o existente. No pode ser demonstrado nem compreendido por um conceito, no podemos demonstrar a algum a necessariedade de um valor a partir de um conceito ou de coisas valiosas, mas podemos apenas mostrar o valor que repousa sobre os portadores, isto , pode-se conduzir a pessoa para que faa a experincia sentimental imediata do valor. A aprioridade material e objetiva significa que cai por terra a distino entre coisa em si e fenmeno119; coisa e fenmeno esto unidas no dado mentado, so dois lados de uma mesma interface, a intuio. No a razo separadamente que acrescenta algo, que constituiria penas o objeto formal. Por isto, o a priori no pode ser equivalente a uma forma especial do pensar, pois a forma no significa preenchimento, a forma pura vazia. No entanto, todo pensamento tem um contedo que o pensamento mesmo no pode criar simplesmente do nada. Mais alm de Kant, seguindo os passos das Investigaes Lgicas de Husserl, Scheler reconhece um a priori material anterior ao formal, mesmo no campo da razo teortica, que so os contedos intuitivos de qualquer ato de pensamento; mais alm de Husserl, estes contedos intuitivos, para Scheler, so objeto no somente de atos espirituais racionais, tais como atos objetivantes de representao, juzo, atos signitivos, etc., mas ainda, ampliando o campo da conscincia intencional, considera os atos sentimentais e o valor cognoscitivo de seus objetos. Amplia ainda, assim, o conceito de essncia entendido por Husserl. A essncia no somente o
118 119
ET-II,p.292 ET-I,p.86
71
dado evidente da generalidade, mas tambm pode ser dada na intuio singular. A primeira consitituda, somente acessvel em modo puro aps a reduo da mediao de atos unificadores. A segunda pode ser intuda de modo puro em um nico ato. Tanto os atos sentimentais como os racionais so pensamento, isto , so atos intencionais, possuem contedos mentados, objetos de inteno. Para resumir, duas caractersticas podemos salientar como essenciais na descrio do a priori absoluto: primeiramente, que anterior ao lgico, ao formal, a toda simbolizao; puramente intuitivo e assimblico. Neste sentido, a reduo fenomenolgica pela qual tal dado pr-simblico se mostra filosoficamente um processo de dessimbolizao120 e desconceitualizao. Em segundo lugar, este dado a priori puro pura essncia imanente ao ato intencional, e nisto reside seu significado ntico, no em uma posio de existncia. O dado, na experincia fenomenolgica, coincide com o mentado121. Para a fundamentao da tica, esta conceituao do a priori de capital importncia. Para Scheler, permanece vlida a superao definitiva, tal como demostrada logicamente por Kant, de todas as ticas a posteriori, como a tica de bens e fins, a tica de rsultados, o nominalismo tico no qual bom e mau so termos arbitrados a coisas ou atos concretos, e no intudos -, ou ainda como a tica da apreciao, ou a tica do eudemonismo. Todas estas so ticas indutivas, em que bom e mau so conceitos, e so obtidos a partir do contingente, sendo portanto criaes humanas sem valor universal, e no intuies puras. Kant tem razo somente ao rejeitar toda tica a posteriori. O problema que confundindo o material como a posteriori, deixa de lado o dado material da intuio dos valores, e tenta conceitualizar o valor a partir da noo de dever. Mas sem a matria intuitiva sentimental, no se pode chegar essncia moral, o valor do bom e do mau. Para Scheler, uma tica que pretenda considerar com objetividade a essncia do valor moral do bom e do mau, no pode pretender ter acesso a esta essncia a partir de formas categoriais da razo, que so construes conceituais a posteriori em relao matria de intuio sentimental, porque esta matria no pode ser reduzida a conceito. Portanto, deve partir da essncia mesma do valor acessada na pura intuio sentimental. A filosofia, do mesmo modo, no pode se limitar ao conceituvel, ao objeto da razo teortica, mas precisa estar aberta ao incompreensvel no conceito, como o a pura intuio de essncias, ao inefvel, ao assombro original que foi o primeiro objeto de inteno da razo, ao
120 121
FG,p.69 ET-I,p.86
72
que intudo como objeto de uma intuio sentimental. Por outro lado, nunca pode se furtar tarefa de tentar expressar em palavras, se no as mais puras intuies mesmas, ao menos o modo ou a indicao de como chegar s puras intuies.
2.6. A tica e o interesse antropolgico
A tica, por tratar de investigar os fundamentos racionais do agir humano e as vias de conhecimento deste fundamento, est sempre fundada em uma antropologia filosfica, um modo de compreender o homem, ou mesmo de ver de modo estruturado, que o ponto de partida de tudo. A filosofia sempre procura um conceito puramente racional e universal de homem. Porm, em todos os conceitos de homem j surgidos na filosofia, se h pontos universais e definitivos, h outros que no o so, de modo que no h um conceito absolutamente definitivo e abrangente de homem. Logo, uma tica conseqente deve buscar como fundamento as notas universais e definitivas do conceito de homem; mas mesmo assim no ser nunca uma tica definitiva. A tica de Scheler parte de uma noo de estratos, de conexes estratificadas de essncias. Estratos de ser no homem, estratos de percepo, estratos de estados emocionais, estratos hierrquicos de valores. Para alguns, interpretando a inteno de Scheler explicitada em A posio do homem no cosmos, a obra de Max Scheler, de modo geral, gravita em torno do eixo da construo de uma antropologia filosfica. Esta seria sua inteno filosfica de fundo, que perpassa as maiores indagaes e investigaes de sua vida. Esta inteno aparece explicita em muitas de suas ltimas obras, e talvez mais implicitamente em obras de outras pocas. Obviamente no teramos condies neste trabalho de analisar toda a obra de Scheler para confirmar esta chave interpretativa; no o propsito deste trabalho. Esta a chave de leitura inicial de Pintor Ramos122, em seu o humanismo de Max Scheler. Evidentemente no a nica maneira de interpretar a obra de Scheler. Como dissemos anteriormente, para Spiegelberger, por exemplo, e para outros, o eixo principal da obra de Scheler a tica123, e a antropologia o segundo tema central, em conseqncia daquela. Para este comentador, tica e antropologia so como os dois focos de uma elipse em que gravita Scheler. Mesmo Pintor Ramos, ao concluir sua obra, termina por admitir que a antropologia emerge de uma preocupao tica124. Para ns, neste
122 123
Pintor Ramos, p.9-10 Spiegelberger, p.272. 124 Pintor Ramos, p.393.
73
trabalho, a chave antropolgica servir, neste momento, para lanar luz sobre a fundamentao da tica material dos valores, que o interesse especfico deste trabalho, procurando entender como isto se relaciona com as diversas esferas nas quais se estrutura a antropologia proposta por Scheler. No prefcio de 'A posio do homem no cosmos(1928), sua ltima obra, elaborada poucos meses antes de morrer, Scheler cita oito trabalhos de sua vida que desenvolvem perspectivas que comporiam seu projeto de desenvolver uma elaborada antropologia filosfica, desde a chamada segunda fase ou fase mais fenomenolgica, ou ainda fase catlica ou catolicizante, em que se dedica a tratar de vastos exerccios de fenomenologia descritiva, que vai de cerca de 1906 a 1920, como O ressentimento na moral (1912), passando por partes do Formalismo na tica... (1913/16), e o breve mas integradamente sinttico Para a idia do homem (1915), em que caracteriza o sentido do homem como uma unidade de dimenses, uma ponte ou tenso entre as esferas naturais e a idia de pessoa perfeita em Deus (o homem no tem um lugar fixo; o homem esprito que perpassa e se movimenta entre todas as esferas do ser, por isto microcosmo; mas ainda o nico ser que pode chegar a ser pessoa, e por isto tambm microtheos). Ainda vrias obras da terceira fase, dita de carter mais metafsico e antropolgico, ou fase de inspirao pantesta spinoziana, que vai de 1921 at sua morte, como a vida afetiva em Essncia e formas de simpatia (1923), Formas do saber e a cultura(1925), Formas do saber e a sociedade(1926), O homem e a histria (1926), e O homem na era da conciliao(1927). A centralidade que a questo antropolgica teve como aglutinadora da produo scheleriana ele mesmo aponta em A posio do homem no cosmos, deixando a a linha para encontrar os pontos de costura entre os diversos temas por ele abordados ao longo de sua produo filosfica, como transcrevemos abaixo. Praticamente a mesma idia j aparecia no citado Para a idia do homem, em 1914.125
Desde o primeiro despertar de minha conscincia filosfica, as perguntas: o que o homem? e qual a sua posio no interior do ser? me ocuparam mais essencialmente do que qualquer outra pergunta filosfica. Os esforos de muitos anos, em meio ao qual circundei o problema por todos os lado, resumiram-se desde 1922 elaborao de uma obra maior, dedicada a este questionamento. (...) Tenho a satisfao de constatar que os problemas de uma antropologia filosfica ganharam hoje o ponto central de toda a problemtica filosfica na Alemanha e que, muito para alm do crculo dos especialista em filosofia, h bilogos, mdicos, psiclogos e socilogos trabalhando em uma nova imagem da constituio essencial do homem126.
125 126
IH, p.91-92. PC, p.1-3.
74
O esquema fundamental para entender a antropologia proposta por Scheler, primeira parte de um projeto antropolgico amplo que o autor no conseguiu chegar a desenvolver devido a sua morte prematura, baseia-se na compreenso dos estratos ou esferas do ser, compartilhados pela estruturao prpria do ser humano127. Por isto o homem um microcosmo. O homem o nico ser no qual todas as estruturas objetivveis do universo esto presentes, e ainda com um algo mais. Desde a esfera do mundo material inanimado, a esfera atmica, molecular e elemental, passando pela estruturao orgnica da matria que perfaz a vida, as dimenses de vida vegetativa e anmica, a vida psquica emocional, a dimenso afetiva valorativa, e por fim a ligao de todos os elementos vitais esfera espiritual e a ligao do esprito singular da pessoa humana ao esprito supra-singular ou absoluto, fundamento de todo ser, tudo isto perfaz as diversas esferas microcsmicas da pessoa. Ainda poderamos considerar como esferas as dimenses de mundo interior, mundo exterior, mundo comunitrio e social. O ser humano no , portanto, apenas um animal racional, mas um esprito que perpassa todas estas diversa esferas e que se atualiza no ato livre do ser pessoa, a pessoa como centro de vontades, intenes, valores e sobretudo de atos, pois que o esprito, para Scheler ato puro e por isto impotente, s se realiza na pessoa como centro de atos. O esquema dos estratos de ser de fato bastante simples e intuitivo. A genialidade da intuio scheleriana reside justamente na simplicidade de ver aquilo que no se via at ento, ou foi ocultado por inadequadas vises filosficas e monismos sobre a essncia do ser humano. A simplicidade de perceber o ser humano no como um ser fundamentalmente acima, superior, altivo, como que fundamentalmente desligado dos mais simples estratos de ser. Esta a fonte das grandes quedas e fracassos: as grandes pretenses advindas do julgar-se demasiado acima e alm do mundo das coisas, do mundo orgnico, animal, etc, ou demasiado raso, ao mesmo nvel de todo o cosmos. Muitos pensamento filosficos sobre o homem, no decorrer da histria, inclusive e sobretudo certas tentativas de constituio metafsica, de carter dualista e opositivo, contriburam muitas vezes por fragmentar ou isolar o homem de sua ligao com as diversas estruturas daquilo que ele de fato . Ao destacar apenas uma de suas dimenses, seja a dimenso racional-espiritual, seja o carter natural, seja a dimenso tcnico-prtica da era moderna, o homem se distancia do cuidado com suas outras dimenses, e invariavelmente termina prejudicado. Como um reino divido e em luta contra si mesmo, no subsiste. O homem pode colocar-se acima e alm, e de fato pode colocar-se onde quiser, pois que no tem uma nica e exclusiva posio definida no cosmos; se quiser colocar-se em uma mais elevada
127
Pintor Ramos, p.79ss.
75
posio, porm, no pode faz-lo atravs de luta ou desprezo aos demais estratos de ser, pois seria colocar-se em luta contra si mesmo. As estruturas precisam estar integradas e em cooperao. Trata-se antes de, atravs do centro de decises e atos que a pessoa, canalizar as energias que perpassam entre as diversas esferas e dirigi-las para o valor positivo mais adequado para cada esfera de ser. Scheler se dedicou ainda a aprofundar as relaes do conhecimento com diversos aspectos da vida humana, como a cultura, a sociedade e seu fundamento filosfico sobre os valores. Husserl mesmo j apontara estas relaes nos Anexos ao final das Cinco lies de A idia da fenomenologia:
No conhecimento, est dada a natureza, mas tambm a humanidade nas suas associaes e nas suas obras culturais. Tudo isto se conhece. Mas ao conhecimento da cultura, enquanto ato que constitui o sentido da objetalidade, pertence tambm o valor e o querer128.
O sentido da objetalidade, do conhecimento do objetal, constitudo no somente por atos internos da conscincia, mas ainda por afetos e aes valorativas do eu e do contexto humano em geral. O sentido de uma objetalidade, apesar de lingisticamente compreensvel e, portanto, evidenciando uma dimenso de unidade, tambm culturalmente e afetivamente variante. A partir das significaes expressivas que perfazem o conhecimento no apenas se conhecem as coisas, o objetal, mas tambm o contexto humano, seus valores e preferncias. A prpria filosofia est impregnada de valores e preferncias que revelam conhecimento no somente sobre as coisas, mas sobre o homem que as pensa. Scheler um ardente investigador de tudo o que se refere essncia do humano, lhe interessam todas as dimenses antropolgicas e, na brevidade de sua vida, tem pressa em ampliar seu conhecimento. Segundo Pintor Ramos, sobre a estruturao (ou inteno de estruturao) do pensamento de Scheler em torno do interesse antropolgico em geral e a proliferao de investigaes que realizou em diversas reas do humano, se no se captam estas estruturas bsicas em seu verdadeiro alcance, o pensamento scheleriano um verdadeiro formigueiro de contradies no qual o mais importante seriam intuies soltas que se devem isolar de seu contexto129. Para alguns, sua obra tem mais significao pela riqueza temtica do que pela profundidade130. Mesmo os que admiraram, entre os quais o prprio Husserl, apesar
Husserl. A idia da fenomenologia, p.111 Pintor Ramos, p.11: Si no se captan esas estructuras bsicas em su verdadero alcance, el pensamiento schaleriano es um verdadero hormiguero de contradiciones. 130 Colomer, p.411
129 128
76
das divergncias metodolgicas, e ainda Hartmann, Heidegger, Edith Stein, Ortega, reconhecem, mesmo com a amplitude de investigaes, o pouco sucesso na tentativa de sistematizao. Pelo que Ortega o chama um embriagado de essncias, em obra homnima, assim como Pascal fora um embriagado de Deus. Para alguns crticos, o pensamento de Scheler interpretado como rico tanto em variedade de intuies e em amplitude de temas tratados como, para muitos, rico em caoticidade e contradies, pela profuso de idias e digresses, pelas variaes de concepes no decorrer da vida (haveria que examinar se trata-se de contradio ou de evoluo) e por no ter o filsofo se ocupado muito de explicar claramente a conexo entre os diversos temas tratados. As contradies apontam muitas provavelmente para uma relao com fases do pensamento scheleriano mais ou menos associadas evoluo de suas crenas religiosas e s preocupaes vitais que o filsofo tinha, de encontrar uma explicao tica para a relao entre os estados afetivos e o comportamento moral do ser humano, temas que refletem preocupaes muito prprias de sua histria de vida. Como de resto parece corresponder, primeira vista, intensidade vivencial e experimentativa, e aparente dificuldade de colocar ordem em sua prpria vida pessoal. Mas tarefa da filosofia justamente procurar uma ordem no caos (e por vezes mesmo arbitrariamente o impe), considerando-se caos aquilo que ainda no encontrou suficiente inteligibilidade, e partindo-se do pressuposto de que mesmo o caos pode ser inteligvel (h uma idia para represent-lo) e que possa trazer alguma espcie de conhecimento. A morte prematura de Scheler no lhe permitiu deixar explicitamente claras as conexes entre suas obras anteriores, isto , mostrar claramente e discriminadamente a conexo entre os diversos temas das obras anteriores em torno do eixo antropolgico, como parecia ser sua inteno, desde 1922, de elaborar uma obra maior que integrasse tudo em torno do eixo de uma antropologia filosfica, que no chegou a acontecer. Apesar de no ter organizado explicitamente as conexes dos diversos temas abordados com a antropologia, Scheler deixou isto explcito como inteno central em suas obras finais131. Na ampla anlise de Pintor Ramos132, os ltimos escritos de Scheler, ainda que em geral mais breves e concisos, apresentam uma maior coerncia sistemtica do que suas primeiras e mais famosas grandes obras. De fato, isto confirma a tese de que a elegncia de um filsofo no est na prolixidade, mas em sua simplicidade. Os ltimos escritos importantes de Scheler so os mais breves e os mais estruturadores de seu pensamento.
131 132
Vide sobretudo a j citada Posio do homem no cosmo. Pintor Ramos, p.18.
77
Recordamos ainda que, no entanto, em sua maior e mais conhecida obra, O formalismo na tica e a tica material dos valores, no segundo tomo, surgido em 1916, dedicara quase metade do volume ao tema da pessoa, pelo que, no prlogo segunda edio, de 1921 chega a subtitular este trabalho como Novo ensaio de um personalismo tico, fundamentando a tica e a intuio dos valores em uma nova antropologia. Assim, concordamos parcialmente com Antonio Pintor Ramos133, avanando no sentido de que a questo antropolgica, que aparece explcita nas ltimas obras de Max Scheler, na verdade uma das duas principais chaves de leitura de seu pensamento, ao lado e como fundamento para a central preocupao tica.
2.7. Racionalidade e Esprito
A partir ainda das reflexes sobre o conceito de atitude filosfica, podemos interpretar a racionalidade mesma, uma vez que um modo de ser do esprito como atitude no o nico modo de ser. A razo se comporta mais como um ato, um agir, um movimento, como um processo que se desenrola no tempo, do que como uma postura esttica, como uma posio fixa e eternizada de uma improvvel razo pura, em uma atemporal universalidade. Esta intuio sobre o modo de ser da razo mesma como constitudo de vrios atos relacionados entre si, como um processo, prpria da herana fenomenolgica, sobretudo a partir das Investigaes Lgicas de Husserl. Isto abre um campo enorme de compreenso da racionalidade a partir da diversidade de modos comportamentais de ser. Assim como os comportamentos humanos, se bem que sejam igualmente delimitados pelas mesmas capacidades de movimentao do substrato corporal, no entanto divergem amplamente no modo de estruturarem estes mesmos movimentos entre si e no tempo, o que constitui a diversidade de comportamentos culturais expressos no modo de comer, sentar, danar, etc,. assim tambm as atitudes do esprito, entre elas a razo mesma, como a entendemos em nossa cultura, podem ser entendidas como movimento, e assim compreendidas em sua evidente diversidade. A razo, se bem que conserve claramente traos semelhantes, pode se comportar de maneiras diversas, conforme as pocas, as culturas, e as peculiaridades de cada ser pensante. Porque a razo pode ser entendida como movimento, como um modo de comportamento, um modo de ser em atos. E de fato a razo se comporta de formas diferentes. por isto que as culturas so diferentes, e os modos de pensar, as significaes, os interesses, so diferentes. por isto, tambm, que nenhuma pessoa pensa
133
Pintor Ramos, p.9.
78
exatamente igual outra: porque as pessoas conduzem a razo de modos diversos. A razo dinmica, movimento e no estaticidade. O que esttico o produto da razo, suas obras como positivaes de conceitos. E ainda assim podem estas ser constantemente criticadas e reelaboradas como qualquer outra obra do agir humano. Esta essncia dinmica da razo como movimento, processo, o que intui precisamente a fenomenologia e muitos antes dela, sob outras formas com a teoria da intencionalidade da conscincia e dos atos intencionais e intuitivos do pensamento. Isto abre uma possibilidade dinmica de compreender a racionalidade e as diferenas entre as racionalidades a partir da compreenso de movimento e comportamento. Assim como compreendemos as diversidades de modos de agir entre as diversas culturas e pessoas segundo seus comportamentos, as diferenas de racionalidades tambm podem ser compreendidas como modos diversos de conduzir os movimentos da razo. No poderia, ento existir um nico modo de conduzir a razo, do mesmo modo como no existe um nico modo de sentar, de comer, ou de danar. As culturas e as pessoas desenvolvem modos diversos de articular seus movimentos no tempo, assim como desenvolvem modos diversos de articular os movimentos da razo, se bem que conservem certas estruturas e possibilidades fundamentalmente idnticas. Uma racionalidade nica e final to inverossmil quanto um modo de agir nico global. O erro do racionalismo dos ltimos sculos foi confundir a obra da razo com o operar mesmo da razo. Podemos distinguir trs elementos relacionados ao ato espiritual: o ato puro da razo, como o ato de ver, ou o ato puro de caminhar; a estruturao do ato, isto , o modo, a direo, a inteno, o sentido deste ato; e a obra do ato. no sentido de ato da razo como ato estruturado temporalmente que, por exemplo, ao mesmo tempo que todas as pessoas, de um modo geral, tm as mesmas possibilidades de movimento das pernas, ou movimentos puros, no entanto cada pessoa caminha, senta, ou joga futebol de modo diferente. As possibilidades racionais podem ser as mesmas poderia at se especular se so, de fato, as mesmas; as pernas, no entanto, no so nunca umas iguais s outras. Assim como so infinitamente diversos os modos de agir, muito diversos podem ser os modos de estruturar os atos racionais no tempo e na sua relao aos seus objetos. A obra da razo, por sua vez, pode ser um sistema, que tem a aparncia de algo esttico. Porm, a razo mesma, a razo pura, no um sistema, no uma obra, mas ato permanente. H, pois, pelo menos, dois tipos bsicos de atitude da razo: uma atitude de objetivao, de representao, de apreenso e dominao do ser; e uma atitude de abertura, que poderamos tambm chamar de atitude crtica, de acolhimento permanente ao ser que se revela de modo
79
sempre renovado, atitude que, para superar aquela anterior, precisa incorporar uma atitude de crtica de si mesma, crtica tica de suas prprias atitudes. So dois possveis estados da razo: um estado esttico, da razo que quer permanecer, sedentarizar-se, e um estado dinmico, itinerante, desinstalado ou nmade da razo. Na verdade, essencialmente o estado esttico do sistema , por assim dizer, uma iluso, uma cosmoviso, um mundo de objetos simblicos criado pela razo que no aceita a provisoriedade e a contingncia do conhecimento. O amor, nunca falta.(...) Quanto cincia, desaparecer. Pois o nosso conhecimento limitado, e limitada toda nossa proposio (1 Cor 13,9). Por isto que, para Scheler, a filosofia no cincia, mas a atitude espiritual bsica, atitude moral de amor de participao do ncleo de uma pessoa humana finita no essencial de todas as coisas possveis134, participao espiritual cognoscitiva mas no necessariamente de um conhecimento da conscincia135; neste sentido que sempre o amante precede o conhecedor136. Atitude que no pretende dominar ou condicionar, mas d liberdade ao amado de se revelar por si mesmo. Mesmo nos processos internos da razo, a fenomenologia j o demonstrou, o tempo, o movimento, variadas ordenaes e sucesses de atos esto presentes. Na verdade, o estado fundamental da razo o dinmico, o movimento inerente razo. Por isto, a autntica atitude filosfica uma atitude tica, que reconhece a razo como um agir constante, sempre renovado.
Tentar faticamente desprender o centro de atos do prprio esprito de sua relao psicofsica e biolgico-humana, mediante um ato sempre novo no s mediante um prescindirabstrativo-teortico ou um simples no ter em conta esta relao -, e incorpor-lo ao centro universal de atos que corresponde `a idia de Deus, para efetuar uma mirada sobre o ser de todas as coisas a partir deste centro de atos e, diramos, em sua fora; isto constitui, enquanto tentativa sempre renovada, um carter essencial do impulso [filosfico e moral do esprito] que investigamos137.
Por isto, um saber inconcluso no simplesmente no saber; conforme a intuio socrtica e de muitos outros , o saber inconcluso , na verdade, um preciso e seguro saber da provisoriedade de uma razo em processo de desenvolvimento.
134
EF,p.14: Amor de patricipacin del ncleo de una persona humana finfita en lo esencial de todas las cosas posibles. 135 EF,p.16; p.36 136 EF,p.32: Siempre el amante precede al conocedor. 137 EF,p.40: ntentar fcticamente desprender el centro de actos del propio espritu de su relacin psicofsica y biolgico-humana, mediante un acto siempre nuevo de este centro no slo mediante un prescindir abstractivo-teortico o un simple no tener en cuentaa esta relacin -, e incorporarlo al centro universal de actos que corresponde a la idea de Dios, para echar una mirada sobre el ser de todas las cosas a partir de este centro de actos y, diramos ensu fuerza; esto constituye, en tanto que tentativa siempre renovada, un rasgo esencial del impulso que investigamos.
80
O campo de uma pr-compreenso da diversidade dos modos de ser da razo como diversidade de articulaes de movimentos da razo, ou como comportamentos da razo, no tema para este trabalho. So apenas algumas especulaes que, para alm da fixidez da razo pura e do finalismo racionalista prprio da filosofia ocidental dos ltimos sculos, suscitaram as investigaes fenomenolgicas sobre os atos do pensar a partir de Husserl, por um lado, e que a proposta de Scheler sobre a atitude filosfica e a condio moral do filosofar por outro lado ampliou, libertando novamente a filosofia, como em sua origem, para um movimento dinmico, renovado, filosoficamente rigoroso e seguro.
81
3. VISO ANTROPOLGICA DE SCHELER: O PERSONALISMO HUMANISTA
3.1. As esferas de ser no homem
H duas formas bsicas de conceituar o homem: o conceito sistemtico-natural, que considera todos os estratos de ser presentes naturalmente no homem, e o define a partir de todos estes estratos, mesmo naqueles em que o homem semelhante aos demais seres viventes, acrescentando como distintivo as peculiaridades prprias somente ao homem, mas subordinando-o ao mesmo sistema de compreenso no qual se enquadram os demais seres; e aquilo que Scheler chama de o conceito essencial de homem, que ao contrrio do anterior, define o homem de modo contraposto ao conceito de animal em geral e a toda classificao do gnero animal, isto , a partir unicamente de uma posio peculiar do homem. Esta conceituao essencial a incgnita que Scheler se prope a investigar. Diversas so as conceituaes de homem que conhecemos na histria do pensamento, muitas delas incompatveis entre si. Uma viso filosfica do homem que supere as vises unilaterais precisa ter uma base maximamente ampla, e considerar todos os estratos de ser, e somente a partir da verificar se h algum estrato que peculiar ao homem. Esta base deve incluir todas as possveis esferas de ser ou modos de ser que esto essencialmente presentes no homem, que constituem a essncia mesma do homem. No decorrer da histria do pensamento, varias definies de homem foram propostas, todas elas insuficientes porque, se apontam verdadeiras essencialidades, excluem outras ao adotar miradas limitadas. Assim, h vrias idias de homem presentes na tradio ocidental: h uma idia religiosa de homem como ser criado, dependente de um criador; uma idia do homem como logos, como razo independente e autosuficiente; a idia do homem como resultado de processos evolutivos biolgicos; o homem tcnico-pratico, determinado a partir daquilo que faz, de suas obras; cada uma focando aspectos determinados e excluindo outros. Scheler aponta diversos estratos de ser presentes onticamente no homem, e os compara com os demais seres viventes. Sem dvida no esgota todos os possveis estratos de ser. Poderia-se desenvolver bem mais outros estratos, por exemplo, a esfera da materialidade inorgnica, bem como a esfera relacional da intersubjetividade e da sociabilidade; se bem que Scheler considere a primeira na constituio ntica do homem, mas dedica muito mais ateno s esferas do ser vivente individual. H uma enorme riqueza valorativa na
82
considerao mais ampla possvel de todos os estratos de ser. Mas no propriamente o que interessa para Scheler em uma conceituao essencial do homem, e sim se h um estrato ou uma posio de ser peculiar ao homem, e se somente esta que constitui o fundamento de um conceito essencial de homem. De todo modo, Scheler tem o mrito de reconhecer que em qualquer elaborao de uma antropologia filosfica, a mirada deve tomar em considerao os mais amplos estratos de ser e deixar-se orientar por estes, pelas intuies essenciais que apresentam, antes que adotar qualquer pr-conceito sobre o que o homem, ou ainda antes que simplesmente deixar de fora alguma dimenso significativa. Na considerao das esferas do ser vivente em geral, a primeira dimenso de estruturao a construo do mundo psquico ou individual, caracterizado pelo fato de tais seres j possurem um ser-para-si, que por sua vez se desenvolve em quatro dimenses evolutivas e subordinadas umas s outras. Estas etapas ou nveis so: 1) o impulso afetivo (ou sensitivo) j presente nas formas viventes vegetais; 2) o instinto animal; 3) a memria associativa presente em certos animais; 4) a inteligncia prtica. caracterstica de todos estes processos uma progressiva individuao e desprendimento em relao ao meio natural. O homem compartilha elementos de todas estas esferas. Porm, no somente o homem, mas tambm animais superiores. Descreveremos brevemente estes nveis.
1-O impulso afetivo Em portugus talvez pudesse ser melhor traduzido por impulso sensitivo. O ser afetado supe um sentir algo que afeta, e um sentido original na vida que est anterior ao ser afetado. Mas manteremos a traduo original para facilitar as referncias obra. Este impulso a primeira manifestao do surgimento de uma individuao, da constituio do ser intimo psquico como ser-para-si138 . J est presente no vegetal. Parte de um ser ntimo que se destaca de um meio, como um movimento de dentro para fora, um impulso para o crescimento e a reproduo139. O ato que caracteriza este ser-para-si o impulso afetivo ekstatico, um simples movimento de crescer, um padecer desprovido de objeto, um mero para l, ou para fora, sem conscincia, sem sensao, sem representao, e ao mesmo tempo sem escolha e portanto sem poder, mas no qual j se distingue um sentido ou direo essencial da vida140. Nos vegetais j h uma primeira forma de expresso do estado interno,
138 139
PC,p.8 PC,p.10 140 PC,p.11
83
estado que se expressa a partir de um sentir algo diferente, uma resistncia; no porm como funo informativa, como nos animais. O vegetal dirige-se para cima, para o sol, e para baixo, para a terra e para a gua e, muito limitadamente, at certo ponto, capaz de contornar obstculos em busca da luz e da gua. um impulso sensitivo porque envolve um sentir da resistncia do meio e um dirigir-se contra esta resistncia. Este impulso ekstatico porque um mero para-fora. a expresso da vivncia de resistncia do vivente que quer afirmar sua individualidade frente ao meio. No homem, esta intuio afetiva da resistncia o primeiro dado material para a percepo conceitual e formal da realidade. No vegetal, porm, no possvel a percepo de um mundo circundante pois que no h conscincia nem ao menos sensao, mas apenas o primeiro sentido desta vivncia de resistncia. Sendo assim, afirma Scheler, tambm inexiste uma centralizao de respostas da planta frente ao mundo circundante, no h um centro nervoso de respostas como nos animais, mas h apenas uma individuao e um sentido. A planta, nesta primeira forma de ligao teleoklina, isto , com sentido para o ser do indivduo, a dimenso do vivente que est mais intimamente unida ao meio, seja ao meio inorgnico, seja aos outros viventes, manifestando com isto em grau mais elevado a unidade da vida em sentido metafsico, da vida que se encontra por detrs de todas as manifestaes morfolgicas e imagticas, assim como o carter deveniente de todos os tipos de conformaes vitais141. Este impulso afetivo eksttico permanece presente nos demais viventes, inclusive no homem. Todas as formas viventes conservam estados vegetativos, como a vivncia original da resistncia. Segundo Scheler, nos animais, o sistema nervoso vegetativo, expresso, por exemplo, pelo estado de repouso do sono, pelo que cessa toda centralidade de resposta consciente ao meio, uma herana da forma primitiva de vida vegetal.
2-O instinto animal a segunda forma anmica, para Scheler definida a partir do comportamento, isto , das expresses de estados internos, externamente observveis, como movimentos e respostas do indivduo vivente frente a mudanas no meio. Alm de se tratar de um comportamento teleoklino como o impulso anmico vegetal, com sentido para o ser do indivduo ou de outros viventes (espcie), se caracteriza por um ritmo temporal relacionado a situaes significativas para a vida da espcie que se repetem. No se trata, porm, de uma relao mecnica com o meio, pois que no depende de aspectos corporais (podem mesmo faltar
141
PC,p.13
84
elementos corporais ou rgos enquanto permanece o impulso instintivo), mas da resposta de um centro anmico ao meio. Por outro lado, no depende de uma resposta individuada, isto , este comportamento no envolve escolha nem tentativas; est sempre pronto142. A relao do instinto como as sensaes que as sensaes esto subordinadas ao instinto, isto , o animal somente pode sentir aquilo que significativo para seu comportamento instintivo, que por sua vez est subordinado forma prpria em que se estrutura o ser vivente nesta espcie. O instinto caracteriza-se ainda como uma unidade inseparvel de saber prvio e ao, mas no como um saber de objetos ou de representaes, e sim de impresses valorativas, impresses originadas por um sentir resistncias que atraem ou que repelem, no contato das sensaes com elementos especficos do meio que ainda no podem ser representados como objetos. Se no podemos falar ainda do surgimento de representaes, podemos no entanto dizer que o instinto, diferentemente do impulso afetivo direcionado meramente para fora, est direcionado para determinados componentes especficos do meio. Estas resistncias valorativas representam j uma especializao crescente do impulso afetivo porque dirigem-se a elementos especficos do meio, e por isto mesmo, por serem elementos especficos j indicam no somente meras impresses, mas uma percepo que os distingue, a base para um possvel processo de representao. Em cada nova dimenso destes estratos de ser vital h uma progressiva separao do indivduo em relao ao meio.
3-A memria associativa Est associada ao surgimento de um centro de resposta capaz de se relacionar com elementos especficos do meio como unidades significativas com maior relatividade ao indivduo do que os elementos aos quais est relacionado o instinto. O individuo capaz de associar, a partir da experincia de tentativas bem sucedidas, suas atitudes com determinados acontecimentos. Tem por base aquilo que Pavlov chama de reflexos condicionados, mas vai mais alm. No se trata somente de reflexos, mas de atos aprendidos frente a acontecimentos do meio. O indivduo pode aprender uma atitude cujo sentido no estava diretamente condicionado pelo instinto. Surge com relao a uma necessidade vital instintiva, mas no est inscrita no instinto como ato. Assim, a busca de comida, tanto como evitar a dor, so movimentos instintivos, mas o ato de um animal que se pe em p sobre suas patas, ou rola sobre si mesmo para receber comida, ou evitar o aoite, um ato aprendido, guardado na memria e associado recompensa por comida e fuga da dor.
142
PC,p.17
85
4-Inteligncia prtica No depende de tentativas ou atos prvios bem sucedidos. O indivduo capaz de intuir uma relao entre elementos do meio e seus prprios atos de movimento corporal. assim que, por exemplo, um macaco pode, sem que ningum o ensine, sem castigo ou recompensa, pegar um graveto e introduz-lo no fundo do formigueiro para catar as formigas que pretende comer, desde que os encontre associados dentro do seu meio. No consegue, porm, (ainda?) objetivar estes elementos, nem seus nexos: o graveto, o formigueiro e a comida. Se no houver um graveto pelo cho, ou se no estiver de antemo na mo do macaco, mesmo que haja uma rvore diretamente ao lado do formigueiro, ele no capaz de deixar ali o formigueiro e ir primeiro quebrar um galho fino de uma rvore para fazer dele instrumento. A nova representao produzida pelas partes singulares percebida do meio umas com as outras, ligaes determinadas pela meta pulsional143. Cessada a pulso para comer, o animal no capaz de guardar o seu instrumento ou de objetivar graveto, rvore, e a relao entre a rvore e o graveto.
3.2. A diferena essencial do homem: o esprito, a pessoa e o ato de ideao
Trata-se da mxima separao em relao ao meio. O meio pode ser representado ou objetivado, a partir dos seus elementos originais que j se constituam como unidades de sentido teleoklino para o individuo ou a espcie, e se torna um mundo de objetos com sentido para a pessoa. O novo princpio que permite esta separao em relao ao meio est fora de tudo isto que podemos denominar vida no sentido mais amplo possvel144. o esprito, como objetividade, ou possibilidade de ser determinado pelo modo de ser das coisas mesmas145, isto , objetividade tem o sentido de primado da datitude do fenmeno mentado. A pessoa aparece como o centro de atos que une ou liga o esprito vida, o centro ativo no qual o esprito aparece no interior das esferas finitas do ser146. Porm, pessoa e atos so duas essncias distintas. Segundo Neusa Vaz e Silva, para Scheler a pessoa mais do que
143 144
PC,p.30 PC,p.35 145 PC,p.36 146 Ibid.
86
seus atos147. Este o motivo pelo qual o valor da pessoa absoluto e irredutvel, ao passo que o valor moral de seus atos pode mudar ao longo da vida (e no somente pode mudar, como efetivamente muda, pois que ningum nasce j tendo apreendido e realizado todos os valores). A pessoa o centro indeterminado de determinao a partir do qual existe a possibilidade de mudana de atitudes, de arrependimento, de converso. Ao falar de pessoa humana como ligao entre esprito e vida nas esferas finitas do ser Scheler usa um conceito mais restritivo de pessoa, que no aplicar pessoa infinita de Deus. Tudo o que vital ou relativo esfera psico-fsica do homem pode ser objetivado pela pessoa: o meio circundante, os elementos do meio, os atos do ser psico-fsico, movimentos, pulses, impulsos instintivos, estados afetivos, reaes emocionais. A tudo o esprito pode representar e tomar por objeto. O surgimento do homem a elevao at a abertura do mundo por fora do esprito148. o que permite ao homem poder se posicionar de modo aberto para o mundo. O ato de ideao o ato especificamente espiritual pelo qual o esprito se faz presente aos elementos do meio e os representa para si como essncias, desvinculando-os do meio e elevando-os a objetos de seu mundo, como idias suas. pelo ato de ideao que o carter de realidade das coisas pode mesmo ser suspenso149, e por isto o fundamento de toda atividade teortica, como a filosfica. o ato espiritual de constituio essencial do mundo150, que permite pessoa se desvincular das intuies originais e se elevar, se desprender em relao ao meio e a todo ser psico-fsico.
3.3. A posio do homem no cosmos
Se por posio entendermos estaticidade, o homem no tem uma posio peculiar no cosmos. Este, como mundo constitudo, que tem sua posio no esprito. O esprito puro ato intuidor. O fundamento da pessoa ser o centro destes atos, ligada vida. Ato movimento, no posio. Pode estar em qualquer posio. O esprito da pessoa trnsito livre e permanente,participao s diversas esferas de ser.
O erro das doutrinas do homem at aqui consistiu no fato de que ainda se pretendia introduzir entre a vidae Deus uma estao fixa, algo definvel como essncia: o homem. No entanto, esta estao no existe: justamente a
147 148
Silva, p.202 PC,p.38 149 PC,p.50 150 PC,p.48
87
indefinibilidade pertence essncia do homem. Ele apenas um entre, um limite, uma travessia, uma manifestao de Deus na corrente da vida e um eterno para almde si mesmo intrnseco vida151.
O homem no pode ser uma definio. Ele precisamente o ato definidor. Uma definio a obra do ato definidor. O ato no pode ser obra de si mesmo, o ato no pode ser moldado por si mesmo. O que pode ser moldado so as dimenses materiais do homem, pelas quais ele dirige as miradas do seu esprito em relao s funes psico-fsicas do sentir, e enriquece seu esprito com intuies e valores, e por outro lado o moldar o esprito que transforma a realidade existente e produz obras sobre o mundo. A alma, neste sentido, o resultado do trabalho humano acrescentado como intuio ao esprito, o contedo de valores que o esprito intui das essncias materiais de valor e que, por outro lado, intui a partir dos prprios atos concretos de realizaode valores orientados pelo esprito, os atos que so matria da intuio moral. Na base desta indefinio, permanece uma diviso, uma seco essencial no homem, no interior da humanidade, maior do que a diviso entre homem e animal. a diviso entre o vivente que busca a Deus, que quer transcender, e a dimenso vital de sua existncia152; ou, em outras palavras, a distino entre a essncia da pessoa e a existncia, motivo pelo qual cada homem essencialmente indefinvel. Muito mais ampla do que a distino entre a essncia da espcie humana e as demais espcies do gnero animal , pois, a distino entre a essncia de uma pessoa humana e as demais pessoas. Cada pessoa humana absolutamente indefinvel. por isto que permanece sempre uma diversidade de ser em todos os mbitos do humano, tanto entre as diversas culturas e modos de ser social do homem na histria, quanto dentro de uma mesma sociedade, e at em momentos diversos da prpria vida do indivduo. Mas onde, ento, est o fundamento de unidade do gnero humano? Para Scheler, a unidade est em sua vinculao com Deus, o esprito supra-individual, o mar para onde todos os rios tendem (e sentem que tendem), a pessoa infinitamente perfeita, modelo do que ele, homem, deve tornar-se153. O homem unidade entre esprito e vida pela qual o esprito se insere e se realiza na vida. A relao fundamental do homem com o fundamento do mundo reside no fato de que este fundamento se compreende e se realiza no homem154. Vida e esprito
151 152
IH,p.110 IH,p.114 153 IH,p.120 154 PC,p.88
88
(singularmente entendido) tm sua origem e unidade neste fundamento ltimo que esprito supra-singular155. aqui que aparece o chamado pantesmo, de linhagem hegeliana, na ltima fase filosfica de Scheler: a essncia e a existncia do homem aparecem como manifestao necessria para auto-compreenso e realizao do esprito absoluto. O homem essencialmente trnsito entre o reino da natureza e o reino de Deus, como uma ponte, movimento; s tem sua existncia como uma sada de um destes reinos, como preferncia entre valores, escolha e deciso. O fogo, a paixo para alm de si - quer a meta se chame super-homemou Deus- a nica humanidade verdadeira156. O sentido do ser do homem um sair-de-si, uma itinerncia, num impulso que ou se dirige para a natureza mesma, ou para Deus.
155 156
PC,p.46 IH,p.122
89
4. OS VALORES E A TICA
4.1. A obra O formalismo na tica e a tica material dos valores
A primeira grande obra da carreira de Scheler teve como foco o problema de fundamentao gnosiolgica e antropolgica da tica. Em O formalismo na tica e a tica material dos valores, Scheler desenvolve uma vastssima investigao sobre o fenmeno do valor, das essncias em geral, entre as quais se situa o valor com primeira intuio pura de essncia, anterior a toda posio de existncia e de qualquer delimitao de objetos; as relaes entre os conceitos de a priori, formal e material; os fundamentos antropolgicos da intuio sentimental do valor, situada entre os vrios estratos da vida perceptiva do esprito, as relaes de grau e hierarquia dos valores entre si, comparativamente, com o que desenvolve uma antropologia da pessoa, o seu personalismo tico157; tambm a relao de fundamentao do valor com os objetos chamados bens, com os deveres e finalidades, enfim, com uma ampla teoria do preferir e do agir humanos, e da caracterizao da pessoa moral. Scheler desenvolve esta investigao fazendo ao mesmo tempo uma crtica comparativa aos fundamentos de vrias ticas propostas na histria do pensamento, como a tica dos bens, a tica imperativa e formalista, a tica utilitarista. a partir deste confronto com as demais proposies de fundamentao tica que vai se delineando o primado do valor como fundamento de qualquer conhecimento, entre os quais o conhecimento da razo prtica ou tica. H uma peculiaridade muito interessante que aparece na comparao entre os trs prlogos da obra. Estes foram escritos pelo autor em pocas diversas de sua vida, e mostram progressivas e diversas releituras que o autor faz de sua prpria obra, em alguns aspectos numa verdadeira auto-compreenso, em outros numa re-interpretao do sentido de sua obra de vida que nem sempre condiz com o expresso. O sentido amplo da profuso de investigaes e intuies originais sobre a essncia dos valores, suas conexes essenciais e suas relaes com outras essncias parece somente ter sido cada vez mais amplamente compreendido, at mesmo pelo prprio Scheler, aps sucessivas releituras de sua prpria obra e do aporte de comentrios de contemporneos seus. No prlogo de 1916, aps a primeira edio completa das duas partes da obra, o autor manifesta que a finalidade da obra a
157
Costa, p.96
90
fundamentao estritamente cientfica e positiva da tica filosfica, seguindo uma motivao bem ao estilo do que Husserl quis fazer para a fundamentao da fenomenologia como cincia de rigor, e destaca que no se trata apenas do desenvolvimento de um sistema tico para a vida concreta, centrando sua prpria compreenso do seu trabalho sobre o foco do problema da discusso entre a priori formal e a priori material, de onde surge o problema da intuio de valor. Aponta ainda que sua inteno estabelecer esta fundamentao sobretudo a partir de uma reviso crtica da tica de Kant, e apresenta o plano geral da obra. No prlogo segunda edio, de 1921, aps o aporte crtico de vrios filsofos e cientistas, Scheler faz uma releitura da tica dos valores, e destaca que, de toda a obra, sobressai a importncia da compreenso de que os valores materiais, em sua hierarquia, esto subordinados ao valor da pessoa, mostrando sua guinada antropolgica que vai permanecer at o fim de sua vida, o que lhe move a fazer uma re-interpretao do sentido desta sua prpria obra no sentido da antropologia, pelo que acrescenta obra o subttulo de Novo ensaio de um personalismo tico. No no sentido de fundamentar um individualismo, mas sim no sentido de destacar a vinculao da pessoa com um mundo de valores que aparecem em sua relao consigo mesma, com Deus, com o outro, com a comunidade, sendo a pessoa a nica dimenso vivente capaz de intuir valores e de realiz-los. Manifesta a uma compreenso que transcende aquela preocupao inicial cientfica, mais focada na descoberta da verdadeira essncia do valor; agora, a leitura permite um enfoque mais prtico, mostrando a compreenso da relao entre a intuio material dos valores, o mundo pessoal e a dimenso de realizao concreta do ser humano. No prlogo de 1926, dez anos aps a primeira edio completa e dois anos antes de sua morte, Scheler consegue estruturar de modo mais claro e didtico uma viso ampla e profunda da ligao dos valores com uma compreenso antropolgica e de mundo, isto , mostrando que a partir de sua obra se pode intuir a ntima relao entre a hierarquia material dos valores, os estratos da vida sentimental pelos quais os valores so intudos e as diversas esferas de ser no homem, que constituem a viso antropolgica de Scheler, s quais correspondem as diversas esferas da hierarquia de valores, e todos os possveis bens e fins decorrentes, e por sua vez de onde sobressai a liberdade e o valor moral da pessoa. Comea a aparecer de modo mais acentuado, nesta sua releitura, a compreenso da relao das intuies de valores e a estruturao do mundo social, que sobressai nos textos de carter mais sociolgico, da terceira fase da atividade filosfica de Scheler, e que compem aquilo que o autor pretendia ser a base de uma sociologia filosfica, onde aparecem intuies profticas
91
sobre as tendncias de cosmovises valorativas de nossa era e sua relao com as formas de organizao social do ser da pessoa humana. O que queremos destacar que a compreenso progressiva que o prprio Scheler desenvolve acompanha as diversas fases da viso filosfica do autor, partindo de uma preocupao mais focalizada no puro fenmeno dos valores, passando pela compreenso da sua relao com a constituio da pessoa moral, at chegar a ser fundamento da constituio de cosmovises culturais de valores e da constituio mesma da sociedade como realizao de valores. Esta obra, como um todo, representa, para a investigao do valor e de seus fundamentos antropolgicos e cognoscitivos, o que representaram as Investigaes Lgicas de Husserl para os atos cognitivos do pensamento. Por sua vastido, se por um lado traz uma riqueza de mirada ao fenmeno do valor e de suas conexes essenciais com outros fenmenos, por outro lado torna muito difcil encontrar sempre uma clara conexo sistemtica entre as diversas investigaes abordadas. Scheler de fato, no incio da obra, declara no se propor a fazer uma sistematizao da tica, mas apenas desenvolver de modo claro a conceituao dos fundamentos da tica. Esta limitada tarefa, porm, ele desenvolve em mais de setecentas pginas. Nesta profuso de pensamentos e reflexes, bem caractersticos da tradio de investigao fenomenolgica de herana husserliana, aparece uma notvel desordem, e por vezes definies um tanto contraditrias, como alguns comentaristas consideram prprio da personalidade de Scheler. Assim, por exemplo, Llambas faz a ressalva: como surgiu de lies ditadas durante vrios anos e seu autor era, como j observamos, um tanto bomio, a obra apresenta uma desordem admirvel. Nossa exposio ter que alter-la para estabelecer uma ordem que respeite as conexes lgicas158. Isto obrigou os analistas de sua obra tarefa de tentar impor uma ordenao, ou tentar criar uma certa organizao didtica, para poder entender claramente as conexes entre os diversos conceitos. Some-se a isto o fato de que a postura fenomenolgica descritiva confundiu muito a mentalidade sistemtica de crculos de tradio tomista, de onde partiram os primeiros interesses e, em seguida, as maiores averses obra de Scheler. Na contradio mesma j aparece o valor filosfico da obra. No toa que despertou o interesse de personalidades de liderana como o jovem doutorando em filosofia Karol Wojtyla, que se dedicou em sua tese a investigar a possibilidade de interpretar a tica crist a partir do sistema de Scheler, e concluiu
158
LL,p.61. como surgi de lecciones dictadas durante vrios aos y su autor era, como hemos dicho, um tanto bohemio, la obra presenta um desorden admirable. Nuestra exposicin tendr que alterarlo a menudo para estabelecer un orden que respete las conexiones lgicas.
92
que: se a) por um lado este sistema no pode servir para fundamentar em modo absoluto uma interpretao adequada tica crist, b) por outro lado tem para esta grande utilidade como auxiliar para interpretar fenomenologicamente os fatos ticos, reconhecendo sobretudo o mrito indiscutvel de intuir que, para captarmos diretamente a experincia tica, precisamos capt-la como experincia vivida de um valor159. Das duas teses com que Wojtyla conclui sua obra, certos crculos filosficos tomaram apenas a primeira para exorcizar Scheler, portanto numa anlise nitidamente parcial do conjunto de sua obra, o que confirma mesmo a atualidade de suas intuies sobre o engano valorativo causado pelo ressentimento160, conforme a obra El resentimiento en la moral. o que d margem a divergentes e por vezes totalmente contraditrias compreenses de Scheler. Para alguns crculos catlicos de filosofia tomista, o autor caracterizado por vezes como um pantesta, ou como fundador de uma tica subjetivista travestida de objetivismo do valor, ao postular o primado de uma intuio sentimental objetiva do valor, anterior a todo dever. Mas isto no significa abolir o dever, apenas que no se admite mais simplesmente o dever pelo dever. Uma coisa pode ser um dever, mas somente porque essencialmente boa para o se humano, e no o contrrio; nisto consiste a razoabilidade do dever. Por outro lado, para crculos de fora da Igreja, Scheler visto como um moralista objetivista, um neo-tomista, um cristo disfarado, que subordina a autonomia do sujeito frente a uma pretensa objetividade dos valores. Um eterno incompreendido por seus pares. Apesar das diversas contradies a que sua obra foi submetida por crculos tomistas, sintomtico que, aps vrias dcadas de discusses em teologia moral, o princpio tico do dever fundado no reconhecimento do valor, isto , a partir do reconhecimento de que algo dever somente porque bom para a pessoa e no o contrrio, ainda que muitas vezes a primeira indicao no simplesmente imposio do que um bem venha de fora, o que exige da pessoa ao mesmo tempo autonomia e abertura, tal princpio incorporado teologia moral catlica como complementar ao princpio de uma autonomia tenoma. Sem dvida mostra um grande valor filosfico nesta teoria tica, valor que ainda tem muito por ser descoberto.
159 160
Wojtyla, p.165ss. RM,p.41
93
4.2. ticas materiais e formais a posteriori superadas
1- O valor da intuio kantiana: a superao da tica de bens e fins O grande debate que prope Scheler no que diz respeito fundamentao da tica inicia com a tica kantiana do imperativo a priori racional do dever, considerada por Scheler como a expresso mais perfeita de fundamentao cientfica da tica filosfica at ento161. Para isto, precisamos retroceder um pouco ao contexto kantiano. O problema central de fundamentao da tica, contra o qual Kant dirige o debate em seu sistema, eram as insuficientes justificativas objetivistas da moral normativa tradicional, que depositava o fundamento do valor moral de um ato, se ele bom ou mau, em bens e fins, portanto, em uma materialidade a posteriori, que no mais encontrava aceitao no esprito investigativo e de livre pensamento prprio do iluminismo. As morais normativas depositavam a justificativa para o dever numa qualidade material dos bens ou fins, e eram assim, com toda a razo, reconhecidas pelo esprito iluminista como ticas heternomas, fundadas num argumento a posteriori. Os bens ou fins a que se deveriam dirigir as atitudes morais, e portanto os deveres, so coisas ou situaes contingentes, circunscritos a um mundo de bens com sentido relativo ao momento histrico ou a determinado grupo social. Assim, o bem-estar individual ou social, a cultura, os bens comunitrios, etc., so conceitos que podem mudar com o tempo e com os diversos grupos humanos, e de fato mudam. Assim tambm a posteriori o argumento da finalidade boa ou m de uma ao, finalidade que nunca pode ser garantida de antemo na ao, mas reconhecida somente ao cabo desta. O resultado contingente, somente reconhecido na experincia mesma da ao finalizada, e nunca sabemos se atingiremos com certeza o fim que desejvamos com nossa ao. Por outro lado, os fins no justificam todos os meios. Um meio pode ser mau em si, mesmo que o fim fosse absolutamente bom. O fim tambm , pois, uma argumentao moral a posterori insustentvel para justificar a moralidade de uma ao. Em resumo, bens e fins so, respectivamente, coisas e fatos empricos valiosos; antes de ser coisas ou fatos, j so um algo valioso 162. Portanto, o valor precede o conceito da coisa como bem. Alm disto, os bens sofrem constante modificao, novos bens so descobertos. H coisas que continuam a ser a mesma coisa e no entanto deixam de ser bens. Assim, o valor no depende das coisas, mas ao contrrio, o conceito de qualquer coisa a
161 162
ET-I,p.8 ET-I,p.35
94
posteriori em relao intuio imediata do valor, e depende da intuio primria de um valor em um algo. Algo se torna uma coisa para ns porque se nos mostra primariamente seu valor; mesmo onde o objeto [independente da posio de coisa ou de realidade] todavia indistinto e confuso, pode j o valor estar claro e distinto163. Os fins, por sua vez, so resultados valiosos; como puras idias, podem ser essencialmente valiosos, mas somente podem ser verificados se de fato foram atingidos via observao posterior. Por outro lado, os fins no justificam todos os meios. Tal tica foi suficientemente rechaada por Kant. Porm, Scheler mostrar que o motivo autntico pelo qual sempre se pode rechaar tal fundamentao tica no por ser uma fundamentao material, mas sim por ser a posteriori.
2- A superao de Kant: o formalismo na tica tambm a posteriori Kant ainda herdeiro da metafsica tradicional164, e se rejeita a fundamentao objetivista do dever na materialidade de bens e fins simplesmente porque estes so argumentos no mais aceitos pelo esprito do racionalismo. Kant refunda a mesma moral tradicional numa tica imperativa, apenas mudando o enfoque, rejeitando a condio material e contingente de bens e fins, devido a sua dimenso a posteriori, e postulando o primado do formalismo lgico da razo. Para garantir a pureza e incontaminao do argumento lgico, todo elemento material rejeitado como contingente e a posteriori, contra o que Kant firma o postulado de um monismo racionalista como fundamentao de todo dever. O problema que, buscando a pureza, Kant confunde o dado material com a posteriori, erro que somente encontrar superao com o aporte da fenomenogia. Pois h intuies materiais de valor cognitivo que no so absolutamente racionais, e no entanto so o a priori mesmo de qualquer ato racional. Para Scheler, Kant acerta ao rejeitar definitivamente a justificativa tica fundada em bens e fins somente porque so efetivamente a posteriori, mas erra ao excluir do a priori todo possvel elemento material. Scheler mostra fenomenologicamente que h um a priori material que anterior at mesmo ao a priori formal da razo.
163 164
ET-I,p.46: Aun donde el objeto todava es indistinto y confuso, pueda ya el valor estar claro y distinto. Perine, p.60
95
3- tica de resultados ou do xito Uma tica que faz depender o valor da pessoa e do ato voluntrio da experincia sobre os resultados prticos165, isto , em que a matria dada somente pelo resultado da ao. Na crtica a esta tica, Kant exclui da pura disposio de nimo todo querer referido a algo, por considerar que o resultado o que determina a matria do querer, isto , o querer determinado pelo emprico. Scheler rejeita a tica de resultados, porque emprica e contingente; mas no rejeita o querer, pois o querer tem como matria o valor que est num bem, num fim, num xito ou num resultado, se este for objetivamente valioso. O resultado prtico est fundado num algo valioso, um bem ou um fim valioso, por sua vez fundado num valor mesmo.
4- ticas imperativas a)Teoria platnica: Para o idealismo intelectualista da tradio platnico-socrtica, o fato moral se oculta numa idia que precisa ser conhecida166. Conhecida a idia do bem, a ao necessariamente ser boa. Algum somente faz o mal por desconhecimento do bem. Esta tica otimista ignora as contradies internas no homem, e que no somente a razo comanda as aes. Por outro lado, sendo o bem ideal, nega o valor na existncia, como realizao; nega o fato do mal na existncia. O valor moral, porm somente surge como um ato concreto da pessoa, como realizao de um valor no mundo. b) tica nominalista: Segue sobretudo a interpretao de Hobbes e Nietzsche de que no h propriamente uma autntica experincia objetiva de intuio de valor, mas apenas interpretao moral, uma atitude intelectual frente ao fato natural amoral; o homem cria conceitos para os atos. O bom e o mau so palavras, conceitos arbitrados, invenes humanas. No h fatos morais. Scheler refuta mostrando o valor como preenchimento objetivo de uma intuio. c) Teoria da apreciao: Surge sobretudo dos estudos de Herbart, Adam Smith e Brentano. Tenta-se enquadrar em leis de carter psicologstico os atos, funes e sentimentos associados captao de valores, reduzindo o puramente intuitivo ao terico, desprezando a singularidade e a no-
165 166
ET-I,p.159ss. ET-I,p.219
96
obetividade do ato puro. Trata-se de uma formalizao cientificista ingnua, que pretende objetivar e reduzir a leis o ato puro que funda at mesmo a possibilidade da inteno cientfica. Na crtica de Scheler, esta teoria postula que o valor obtido a partir de um juzo, sendo que o juzo um ato a posteriori em relao intuio pura. d) ticas do dever-ser em geral: Como j foi dito, os valores so indiferentes existncia. So essncias puras. O dever-ser, por sua vez, est relacionado com o ser dos valores. O que deve ser aquilo que dado como no existente167. Somente os valores que devem ser. Por isto, para Scheler todo dever-ser est fundado em valores; ao contrrio, os valores no esto fundados, de nenhum modo, sobre o dever-ser168. H dois tipos de dever-ser: um dever-ser puramente ideal; e o dever-ser normativo. O dever-ser ideal aquele do sentido kantiano de dever. puramente formal, no tem existncia necessria, somente necessrio logicamente. No pode ser normativo, pois vazio. No manda nada, um dever sem contedo. No gera uma exigncia. Este dever-ser ideal j foi refutado por mostrar-se que lhe falta o contedo material tanto na origem, na intuio, quanto no fim, isto , na realizao. O dever-ser normativo o dever-ser ideal convertido em exigncia. Remete necessariamente esfera da existncia de valores, isto , est associado realizao dos valores. Supe um ato de ordenar e um contedo ordenado. Porm, como vimos, todo deverser tem sua origem num valor. Algo bom no porque pode ser mandado. Isto tornaria injustificvel o normativo169. Na verdade, algo somente pode ser mandado porque bom.
5- tica eudemonista A busca de um estado de felicidade somente se verifica de modo a posteriori, e no pode ser submetida a uma lei. O estado contingente, no necessrio. O verdadeiro sentimento de felicidade, para Scheler, pressupe a intuio de um valor ao qual est associado. Todos os sentimentos de felicidade e infelicidade esto fundados na percepo sentimental dos valores, e mesmo a felicidade mais profunda, a beatitude mais acabada, absolutamente dependente em seu ser da conscincia da prpria bondade moral. S o bom
167 168
ET-I,p.270 ET-I,p.270: Todo deber-ser est fundado sobre valores; en cambio, los valores no estn fundados, de ningn modo, sobre el deber-ser. 169 ET-I,p.279
97
ditoso.170. No pode haver felicidade sem um contedo predeterminado de valor pelo qual se possa busc-la objetivamente. Para buscar a felicidade preciso saber em que bens ou fins busc-la.
3.3. A tica material a priori dos valores
4.3.1. Fenomenologia do a priori na tica de Scheler
A intuio dos valores sempre o a priori frente a qualquer movimento da razo. Porm, dentro do a priori do valor, h um a priori formal e um a priori material. O a priori formal do valor pertence s conexes de essncia pura do valor, ao valor em si, independente do depositrio. Para que esta tica no seja puramente formal ou vazia, o valor possui ainda necessariamente, como fundamento material da tica, em relao s modalidades de funes intuitivas e s esferas de ser no homem, uma conexo material.
4.3.1.1. Conexes essenciais formais:
Conexes formais de valores so as primeiras evidncias obtidas a partir da evidncia da intuio da essncia pura do valor em geral. So conexes formais porque puramente lgicas. So essenciais, porque independentes de depositrio, de toda qualidade e modalidade de valores171, modalidade que como veremos constitui o a priori material de uma tica. Aqui no estamos falando de tica, ou seja, de realizao de valores, mas sim dos valores como essncias puras. Estas conexes existem entre os valores mesmos independentemente por completo de que estes valores existam ou no existam172. As conexes formais so relativas essncia pura ou geral do valor, a pura idia de valor, independente de sua realizao. So conexes formais as seguintes evidncias:
ET-II,p.145: Todos los sentimientos de felicidad y infelicidad est fundados en la percepcin sentimental de los valores, y la felicida ms honda, la beatitude ms acaabad, es absolutamente dependiente en su ser de la consciencia de la propia bondad moral. Solo el bueno es dichoso. 171 ET-I,p.123ss. 172 ET-I,p.124.: esas conexiones existen entre los valores mismos, independientemente por comlpeto de que estos valores existan o no existan.
170
98
a) Conexes formais da essncia mesma dos valores
1. Todos os valores - ticos, estticos, religiosos, etc,- ou so positivos (tambm chamados simplesmente valores), ou so negativos (ou desvalores); para cada valor positivo h um seu correlato negativo. o que tambm se chama a polaridade dos valores. Assim, h a relao de valor do bom-mau, belo-feio, justo-injusto, etc. Alm disto, um mesmo valor no pode ser positivo e negativo (mas, como veremos, apenas superior ou inferior em relao a outros valores, permanecendo no entanto positivo, se for este o caso). 1.1 A partir de Brentano, Scheler identifica quatro relaes essenciais fundamentais e necessrias na relao entre a pura conexo essencial da polaridade e a dimenso da existncia173: a) A existncia de um valor positivo , em si mesma, um valor positivo tambm; b) A existncia de um valor negativo , em si mesma, um valor negativo; c) A inexistncia de um valor positivo , em si mesma, um valor negativo; d) A inexistncia de um valor negativo , em si mesma, um valor positivo.
2. Alm disto, h uma relao essencial entre valor e dever-ser ideal. 2.1. Primeiramente, todo dever ser ideal est fundado num valor. Somente os valores que devem ser (valores positivos) ou devem no ser (valores negativos ou desvalores) 2.2. A partir da surge a relao entre o dever ser ideal e o ser justo. O ser justo o ser de um algo que tem sua origem em um dever ser positivo, isto o ser de um algo que tem sua origem na essncia do valor. por isto que o ponto de partida da tica no pode ser simplesmente um dever ser, seja um dever ser puramente ideal, como o imperativo formal que decorre de uma lei lgica da razo, muito menos um dever ser normativo ou prtico, isto , positivado. Porque o dever ser tem sua origem no valor. por isto que, na critica a Kant, Scheler observa que este desconhece que as leis [leis formais de onde Kant pretende tirar a idia de bom; aquilo que depois de Husserl se conhece como intenes categoriais, universalizantes, etc.]
173
ET-I,p.124.
99
descansam sobre conexes intuitivas de essncias (como tambm as leis lgicas)174. O valor que o fundamento da tica, que preenche materialmente a inteno formal.
b) Conexes entre as essncias dos valores e seus depositrios
Os valores do bom e do mau, em sentido moral, somente podem ter como depositrios originais pessoas ou atos, isto , os portadores que nunca podem ser objetivveis, como o so as coisas, bens ou fins175. Quando chamamos as coisas de boas somente o fazemos em relao mediada pessoa, mas no que as coisas tenham um valor moral. Somente podemos dizer que determinada coisa ou fim bom no sentido de que atravs dele se realizam valores materiais, da mesma forma que o ato moral da pessoa aquele que realiza valores materiais, e surge portanto da, por analogia, o valor moral da pessoa. Mas, como veremos, o valor moral do ato pode se bom ou mau; o valor da pessoa, no entanto, sempre positivo, bom. O bom, na coisa ou no fim, apenas indica por mediao algo que deve ser realizado para que surja o nico bom, que o valor moral da pessoa que realiza. A realizao da pessoa mesma. Valores que se referem mais propriamente s coisas so os do agradvel-desagradvel, e aos fins, valores como os do til-intil. Pessoas no podem ser depositrios destes valores, porque no so coisas. Da mesma forma, os seres vivos, para Scheler, no so coisas176. Por outro lado, no so pessoas. Por isto no se pode aplicar o valor de agradvel ou til aos seres vivos como seus depositrios, mas somente os valores de nobre-vulgar, no sentido de valores da vida ou vitais.
4.3.1.2. Conexes essenciais materiais: Relaes entre a hierarquia dos valores e o ato de preferir
A partir das esferas de depositrios e dos estratos sentimentais dos atos intuitivos surge a dimenso da hierarquia de valores. Estas relaes essenciais entre a hierarquia dos valores e
174
ET-I,p.125: esas leyes [formales] descansa sobre conexiones intutivas de esencias (como tambin las leyes lgicas). 175 ET-I,p.128. 176 ET-I,p.129.
100
os estratos sentimentais a parte mais difcil de encontrar, na argumentao de Scheler, uma sustentao absolutamente evidente, direta, e necessria, pois est relacionada com toda a compreenso antropolgica de Scheler. H muito de pressuposto antropolgico interpretativo na fundamentao da hierarquia essencial. A impresso que d que Scheler por vezes d saltos de compreenso, sem fundamentar passo-a-passo e com clareza todas as conexes essenciais que deseja evidenciar. Ainda que seja verdadeiro e objetivo aquilo que quer mostrar, no mostra claramente o fundamento ltimo destas relaes essenciais, o porqu da hierarquia se estabelecer de um modo frente aos estratos sentimentais, e no de outro. Para sair deste brete, o importante compreender que a hierarquia na intuio dos valores se refere profundidade dos estratos funcionais do sentir, e no no sentido de uma hierarquia dos valores como objetos ideais hierarquicamente (e arbitrariamente) organizados. O que est ordenado de modo a priori a funcionalidade dos estratos do sentir, donde decorre a hierarquia dos objetos correspondentes de cada estrato intuitivo. De todo modo, para Llambas, j so conexes materiais177. Pressupem a intuio de valores, e portanto a funcionalidade desta intuio; no so atos puramente lgicos ou formais relativos somente essncia geral do valor. A intuio da superioridade de um valor frente a outro, para Scheler, dada no ato de preferir178. Se por um lado diz que a hierarquia reside na essncia mesma do valor, isto quer dizer que a essncia o dado imanente que surge como mentado. No se fala de uma hierarquia essencial anterior intuio, mas que surge como evidente no ato de preferir. O valor superior para a pessoa o valor preferido no ato de preferir. neste sentido que a ordenao hierrquica dos valores nunca pode ser derivada ou deduzida179, somente se d no momento do ato, e cada vez precisamos preferir (e escolher praticamente) que valor mais alto. Scheler aponta uma ordenao intuitiva de evidncias de preferncias com relao experincia vital180, uma srie de relaes que em ltima anlise se reduzem ao grau de relatividade da percepo sentimental dos valores quanto posio ou modo de ser dos depositrios concretos de valores e suas estruturas intutivas, que procuraremos aqui descrever com brevidade, posto que o mais importante a chegarmos fundamentao tica do valor moral com a materialidade dos valores extra-morais:
177 178
Llambas, p.88 ET-I,p.130. 179 ET-I,p.133: la ordenacin jerrquica de los valores nunca puede ser derivada o deducida. 180 ET-I,p.133ss.
101
A) Extenso ou durao So superiores os valores duradouros em relao a outros valores, mas no em relao durabilidade dos bens ou depositrios em geral. A durao um fenmeno absoluto; no relativa, como o fenmeno da sucesso. duradouro o valor que pode existir paralelamente ao tempo, independente do tempo em que exista seu depositrio. Assim, por exemplo, independente do tempo o valor da pessoa, objeto do ato de intuio sentimental do amor. Se descobrimos o valor da pessoa, no podemos am-la por tempo determinado, pois que isto significaria que em determinado momento deixaria de haver uma valor na pessoa. Por outro lado, o valor de uma comida dura enquanto a comida estiver ntegra e for til vida. Ainda usando um exemplo de Scheler, o valor da alegria duradouro frente mudana do valor da comodidade. Assim, os valores mais inferiores so os mais fugazes e os valores superiores so eternos. certo, porm, que a durabilidade no pode ser intuda seno em uma vivncia; porm independe da capacidade ou de um embotamento emprico181 pertencente constituio psico-fsica da funo perceptiva dos depositrios concretos (as pessoas).
B) Divisibilidade Os valores so tanto mais altos quanto menos divisveis forem, isto , quanto menos necessitam de ser fracionados entre depositrios. Assim, o valor da comida diminui medida que a fracionamos entre diversas pores, isto , quanto mais pessoas participam de uma mesma poro que precisa ser dividida. Diferentemente, isto no ocorre com o valor do belo, ou o valor do conhecimento, da verdade. Uma obra de arte no tem seu valor diminudo com a apreciao de muitos. Porm, seu valor depende da durabilidade do depositrio. Se a obra de arte se estraga, perde seu valor. O valor no est mais nele. O valor do sagrado, no entanto, no diminudo quando mais pessoas participam de um culto, e por outro lado, tambm no depende de nenhum depositrio material182. Seu depositrio a pessoa infinitamente santa, o divino, que no depende de nenhuma posio de existncia.
C) Fundamentao
181 182
FEM,p.136. ET-I,p.138.
102
Os valores superiores so aqueles menos fundado em outros, e o valor superior absoluto o valor fundante de todo o mais. Assim, valor de um meio fundado no valor do fim. Da mesma forma, dentro dos valores vitais, por exemplo, o valor de uma parte, rgo ou funo do organismo est fundado no valor de manuteno da vida do organismo todo. A vida do organismo vale mais do que o valor da existncia de uma parte que no seja vital. A vida mesmo somente tem valor enquanto meio de realizao do esprito e dos valores do esprito. Portanto, todos os possveis valores se fundam no valor de um esprito pessoal e infinito e de um universo de valores que daquele procede183.
D) Satisfao A percepo sentimental de um valor acompanhada de uma satisfao, que no um simples estado. Satisfao uma vivncia de preenchimento184, isto , quando a apario do valor vem a preencher uma inteno que visa o valor. O valor tanto maior quanto maior for a profundidade de satisfao. Os valores mais superficiais e mais ingnuos nos satisfazem quando estamos plenamente satisfeitos nos estratos mais profundos. Por outro lado, quando no estamos satisfeitos em estratos profundos, aparece uma permanente insatisfao tambm nos valores mais superficiais, como os do gozo. No nos contentamos com nada. preciso um permanente preenchimento de satisfaes superficiais, por isto mesmo menos durveis, para aplacar o vazio da insatisfao profunda.
E) Relatividade Os valores so objetivos porque h um ato intencional que os intui como objetivos, como fatos; mas fatos puros, independente da posio de existncia. A objetividade diz respeito ao fato de ser objeto de um ato intencional, e no existncia como real. Portanto, a objetividade est em relao ao ato intuitivo. A principal conexo material entre as essncias de valor parte do princpio de que no podemos supor nenhuma existncia objetiva de valores ou modalidades (...) se no houver atos e funes correspondentes para viv-los185, intu-los. Assim, o valor do agradvel relativo ao ser dotado de intuio do sentir sensvel;
ET-I,p.140: todos los posibles valores se fundan en el valor de un espritu personal e infinito y de un universo de valores que de aquel procede. 184 ET-I,p.140: satisfacin es una vivencia de cumplimiento. 185 ET-I,p.142: no podamos suponer tampoco ninguna existencia objetiva de valores o clases de valor (prescindiendo por completo de los bienes reales, depositarios de valores de esa clase) en que no se hallen los actos y funciones correspondients para viviresa clase de valor.
183
103
porm, no seria percebido por um ser no dotado de sentimentos sensveis. Mas o valor absoluto, como o valor da pessoa e o valor moral do ato, o bom e o mau morais, no intudo por uma funo do sentir relacionado ao sensvel, nem depende em nada do sensvel ou do vital. Trata-se de um puro sentir, puro ato, como o amor e o preferir186, independente da funcionalizao do sentir em um ser vivo. A evidncia do valor absoluto, o valor da pessoa, no dada por uma funo do pensamento, mas pelo sentir puro: a absolutividade com que o percebemos imediatamente que nos faz sentir o pensamento de ceder ou renunciar a ele em favor de outros valores187. Deus no sente valores agradveis ou de prazer, mas apenas ama e sabe o que ama. O valor mais alto ser aquele menos relativo a uma funo (como por exemplo as funes teorticas da razo, atos de juzo, etc.) ou estrutura concreta de um depositrio, mas acessveis a um puro ato intuitivo de sentir.
4.3.2. A hierarquia a priori formal e material na tica
A tica trata dos valores em relao pessoa humana. Seu objetivo ordenar os valores em mais altos ou mais baixos, independente de todo sistema de bens e fins. Como j observamos, no se pode tomar em modo excessivamente rgido a descrio scheleriana de uma ordenao hierrquica apririca; ele mesmo se prope a caracterizar de modo apenas aproximado.188 Surgem basicamente duas ordens hierrquicas: uma ordem relativamente formal e uma ordem material. A primeira trata das conexes a priori entre a altura do valor e os depositrios puros ou essenciais. A ordem material trata da altura dos valores em sua relao com as modalidades de valor.
4.3.2.1. A hierarquia formal: as conexes entre a hierarquia e os depositrios
Scheler aponta a existncia de conexes apriricas entre a
altura do valor e os
depositrios puros que compem o material a priori da tica, mas que frente s conexes
186 187
ET-I.p.142 ET-I,p.144: sino que es la absolutividad con que le percibimos [el valor] inmediatamente lo que nos hace sentir el pensamiento de ceder o renunciar a l a favor de otros valores. 188 ET-I,p.145
104
apriricas materiais de modalidades, so relativamente formais189, algumas das quais descreve de modo mais profundo, enquanto outras explicitamente no se prope a desenvolver. O mais significativo que os valores mais elevados esto sempre em relao com a pessoa e com seu ato prprio realizador de valores. Assim, so valores da pessoa e os valores da virtude, isto , o valor dos atos da pessoa. Valores de coisa so os que se encontram nos bens. Podem ser bens materiais (do gozo ou da utilidade), vitais (por exemplo, bens econmicos), ou espirituais (cincia, arte, cultura, etc.). Os valores de pessoa so sempre superiores aos valores de bens. Por outro lado, no que diz respeito s conexes entre valores prprios e alheios, apesar de que ambos podem ter essencialmente o mesmo valor, vale mais a realizao do valor alheio do que o prprio. Assim, o valor mais alto no a realizao do valor pessoal como valor de si mesmo por si mesmo, o que seria a glorificao de si mesmo, orgulho moral, farisasmo, mas sim a realizao de valores fora da pessoa, os valores extra-morais que so a matria da moralidade. H ainda a conexo entre valores de atos, de funo e de reao. Todos esto subordinados aos valores pessoais, mas o valor de ato mais alto que o valor da funo que executa o ato (porque os atos so puros, mas as funes so relativas estrutura do ser que as possui), e ambos mais altos que as reaes, que so totalmente a posteriori em relao aos primeiros.
4.3.2.2. A hierarquia material o a priori material da tica: as relaes de altura entre as modalidades de valores materiais ou extra-morais
Finalmente chegamos ao autntico a priori material para nossa intuio de valores e preferncias190, que representa a ordenao hierrquica entre os sistemas de qualidades ou modalidades de valores. Llambas191 desenvolve um quadro bastante didtico que sintetiza as relaes entre as modalidades dos valores, as funes intuitivas, os estados relacionados, as reaes e os valores especficos a serem realizados. Trata-se de uma sistematizao geral, cujo objetivo dar mais nfase relao da tica com uma estratificao dos valores do que uma
ET-I,p.145ss. ET-I,p.151: el autentico a priori material para nuestra intuicin de valores. 191 Llambas, p.93
190
189
105
completa descrio de valores. Como Scheler explica no incio do captulo, no hei de aduzir aqui tudo o que pertence a cada uma destas classes fundamentais, pois isto seria desenvolver a tica positiva192. Pretende apenas clarear os fundamentos ticos materiais da inteno valorativa moral, sem descrever toda a multiplicidade de valores possveis. Descrevemos brevemente as modalidades de valores: 1. A modalidade dos valores puros do agradvel-desagradvel, referido a coisas valiosas ou bens . A ela correspondem a funo sentimental sensvel, como seus modos de gozo e sofrimento; os estados afetivos dos sentimentos sensoriais do prazer e dor. Por isto, h um valor de coisa, um valor de funo e um valor de estado. So consecutivos, ou valores por referncia, os valores tcnicos, os valores do simblico e do til, pois que se dirigem a realizao da pura essncia dos valores do agradvel-desagradvel, isto , realizao do valor de coisas agradveis. 2. A modalidade dos valores vitais, intudos pela funo do perceber afetivo vital. No so reduzidos ao valor de coisa, pois que o vital e a vida mesma no podem ser reduzidos a um conceito como uma coisa. Assim, o valor referente est compreendido na anttese nobrevulgar. Como estados, esto relacionados aos modos de sentimento vital como o sentimento de sade,doena; vigor, esgotamento. Como reaes sentimentais, o contentar-se, afligir-se; como reaes instintivas, a angstia, a vingana, a clera, etc. No podem ser reduzidos ao valor de coisas agradveis, nem esto altura de valores espirituais. 3. A modalidade dos valores espirituais. Repousam sobre objetos, fatos, fenmenos ou coisas do mundo pessoal, mas so completamente independentes da esfera vital do corpo e meio. As funes em que os apreendemos so o perceber sentimental espiritual dos atos de amar, odiar, preferir. So atos irredutveis a quaisquer funes biolgicas, no se do por uma necessidade biolgica. Cada pessoa pode amar objetos espirituais diversos. Dividem-se em trs classe bsicas: a)os valores estticos do belo-feio; b)os valores do justo-injusto, fundamento da ordem objetiva do direito; c)os valores do puro conhecimento da verdade. So valores por referncia a estas classes os valores tcnicos e simblicos da cincia, os valores de bens culturais. So correlatos de estados uma srie de sentimentos como de alegria e tristeza espirituais, que no aparecem no eu psico-fsico como relacionados com o corpo ou parte do corpo. Possuem como reao o agradar, desagradar; aprovar, desaprovar; apreo, menosprezo, simpatia, amizade, etc.
ET-I,p.123: Mas no he de aducir aqu todo lo que pertenece acada unda\ de esas clases fundamentales , pues esto sera desarollar la tica positiva, que no es de este lugar.
192
106
4. Por fim, a classe mais elevada, os valores do santo e do profano. Se mostram em uma classe de objetos dados na inteno como absolutos193, anteriores a qualquer conceituao, independentes da posio de realidade e existncia. Se a toda essncia corresponde um modo de existncia, o modo de existncia destes portadores de valor no necessita ser acessvel ao conhecimento. Porque, segundo a teoria das esferas, de Scheler, a existncia relativa a uma esfera de ser. uma relao de ser; e h vrias esferas de existncia194. Por outro lado sua essncia, sim, que acessvel, no por conhecimento, mas por participao do ser espiritual da pessoa no ser do objeto sagrado. Todos os outros valores so dados como smbolo do valor sagrado, isto , so valores por referncia para a realizao do valor maior, apontam para este valor do sagrado. O valor do sagrado ou santo sempre se d como valor de pessoa, independente do que na histria tenha valido como santo: seja um totem, um fetiche, ou Deus. So estados associados intuio do valor do sagrado os sentimentos de felicidade e desesperana. So reaes especficas a f ou a incredulidade, a venerao, adorao, e atitudes semelhantes. O ato puro em que captamos estes valores o ato de amor dirigido a algo dado como pessoa.
Estas modalidades materiais so tambm chamadas de valores extra-morais, porque so a matria da intuio tica do valor moral, valor que aparece nos atos de preferncia, escolha e realizao dos valores superiores, dentre os valores conhecidos pela pessoa, segundo aquelas modalidades. Assim, os valores do sagrado so superiores em relao aos espirituais, estes em relao aos vitais, que por sua vez o so em relao aos valores do agradvel-desagradvel. Se quisermos aproveitar as intuies de Scheler sobre o fundamento material do valor moral, no podemos considerar de modo excessivamente rgido ou como principal a descrio da hierarquia de valores. O importante o carter de materialidade para uma intuio preenchedora de uma inteno de preferncia, diversamente do que postulava o formalismo tico, para o qual bastava a pura inteno. Scheler mesmo no se ocupa de descrever de modo completo todos os valores possveis, apenas descreve as conexes formais e materiais, os estratos e modalidades. H muitos valores por serem descobertos. O importante entender que h uma ordem hierrquica material que pode ser intuda objetivamente, que d o recheio material para uma inteno da razo prtica, ao contrrio do que postulava uma tica formal, e
193 194
ET-I,p.155 IR, p.27
107
que o valor moral somente surge como ato efetivo, que tem uma intuio material de valor na sua origem e uma ao ou realizao concreta no seu fim.
4.3.3. O valor moral ou tico: o bom e o mau
Bom e mau so valores, essncias puras. Bem e mal, ou bens e males, so portadores de valor, independente da posio de existncia ou no destes portadores. O valor mais alto, o bom absoluto, no tem necessidade de posio de existncia de seu portador, no depende da natureza ftica195. o valor da pessoa, independente de qualquer dimenso sua de realidade ou facticidade, isto , seja a pessoa humana, seja a pessoa absoluta de Deus, ou qualquer pessoalidade. A pessoa tem uma dimenso ftica, est ligada vida, mas tem o poder de ligarse e desligar-se da vida, isto , esta ligao livre, e no necessria. por isto que o Esprito para Scheler oposio vida, mas ao mesmo tempo originalmente impotente196, dependendo da vida para realizao de seus atos. Porque apesar de ser profunda unidade de corpo e alma, esprito e vida197, a pessoa uma permanente ciso ou diviso essencial entre o ser existente e a busca de um dever ser que parte da intuio da idia de Deus198, uma ponte entre a vida e Deus199. O que queremos mostrar que o bom e o mau so sempre valores relativos, inicialmente, pessoa em geral200. Aqui Scheler considera que somente as pessoas podem ser (originariamente) boas ou ms e todo o mais somente bom e mau em relao com as pessoas; por mediada que seja esta relao201. O parntese de Scheler, preparando a idia de que a pessoa s pode ser m aos nossos olhos em uma primeira impresso. Scheler pode parecer contraditrio ao afirmar que a pessoa pode ser boa e m, enquanto no captulo Pessoa e indivduo afirma que o valor essencial individual da pessoa sempre um bom em si: a viso do valor essencial de minha pessoa (...), se trata do conhecimento de algo bom em si.202. Mas precisamos entender que aqui, no captulo segundo da seo dois do primeiro tomo, O material a priori na tica, Scheler est tratando da
195 196
ET-I,p.142ss. PC,p.67. 197 PC,p.78. 198 IH,p.114. 199 IH,p.110. 200 ET-I,p.128 201 ET-I,p.127-128: Solo las personas pueden ser (originariamente) buenas y malas y todo lo dems es bueno y malo nicamente en relacin con las 202 ET-II,p.292: la visin del valor esencial de mi persona (..); es decir, se trata del conocimiento evidente de algo bueno en s.
108
fundamentao do valor moral da pessoa, isto , de seu ato, enquanto na seo seis do segundo tomo, Formalismo e pessoa, a temtica se volta mais especificamente para a antropologia, para o valor em si da pessoa. Trata-se de uma reflexo progressiva que vai das dimenses mais relativas do ser pessoal, como a relao do valor moral aos atos da pessoa, at a dimenso mais absoluta do valor da pessoa mesma. H que considerar ainda que trs anos separam os dois tomos da obra, pelo que de se esperar um amadurecimento na reflexo sobre o valor essencial da pessoa. Quando se diz que a pessoa pode ser m, somente pode ser entendido enquanto portadora de valor moral, isto , enquanto realizadora de valores negativos ou inferiores, e no por seu valor essencial, como veremos no captulo seguinte deste trabalho e conforme o que Scheler profundamente intui no segundo tomo de sua obra. Como todos os valores, o bom e o mau moral so matria de intuio, a intuio do valor moral. Porm, o bom e o mau moral no constam da hierarquia de valores, encontrada a partir das distintas modalidades e conexes essenciais dos valores, aquilo que constitui a materialidade da tica mesma, a materialidade do ato moral. Os valores da hierarquia so a matria do ato moral, so por isto valores extra-morais. O valor moral, o bom e o mau moral, o valor do ato moral que tem aqueles por matria. O valor da bondade moral intudo no momento da realizao de um valor positivo qualquer, no mesmo nvel hierrquico, ou na realizao de um valor positivo de nvel hierrquico superior. Explicaremos o surgimento do valor moral ao mostrarmos as suas condies de apario, que so as conexes essenciais necessrias entre o valor moral, o ato moral e os valores materiais ou extra-morais203. 1. Em primeiro lugar, falamos da apario do bom em sentido absoluto. O bom absoluto o porque sua essencialidade em nada relativa posio de existncia de um seu portador. O bom absoluto no aparece em coisas, nem em atos concretos ou contingentes, mas tem como portador um ato puro, o ato moral, que somente pode ser ato de uma pessoa. O bom absoluto o valor do ato moral que realiza, dentre os valores extra-morais, aquele que, para o grau de conhecimento da pessoa, isto , dentro de sua escala de valores, o valor supremo dentre todos os valores da hierarquia. O mau moral absoluto, ao contrrio, o valor do ato da pessoa que, segundo sua conscincia da hierarquia de valores, realiza o valor negativo na escala mais elevada da hierarquia, isto , quando seu correlato deveria ser o valor positivo absoluto.
203
LL,p.96; ET-I, seo II.
109
2. O bom moral em sentido relativo aparece no ato intermedirio, como meio para realizar um fim, isto , um valor superior. Assim, o ato ser bom se, e somente se, o fim for necessariamente bom. O mau relativo, por sua vez, est referido ao ato que realiza um valor inferior em comparao com outros valores. 3. Por ltimo, o bom em geral o valor que aparece em qualquer ato que realiza um valor positivo qualquer frente a seu correlato desvalor ou valor negativo, e que seja superior em relao a outros em ocasio de preferir. Isto quer dizer: no h bondade moral em geral quando no se tem ocasio de preferir. Portanto, no estamos dentro do domnio da bondade moral quando se trata exclusivamente da realizao dos valores inferiores da escala hierrquica, isto , os valores do agradvel e do desagradvel relacionados s funes do gozar e do padecer e, por outro lado, aos estados sentimentais de prazer ou dor, pois no esto em posio de superioridade em relao a nenhuma outra modalidade. A dura concluso que podemos tirar a partir desta conexo que a realizao de um valor positivo no campo inferior nunca pode ser boa; pode apenas ser indiferente, ou m em sentido relativo, conforme se aplique o sentido de relatividade descrito acima. Mau em geral, por outro lado, o valor do ato que realiza um valor negativo qualquer. O valor moral surge, pois, no ato que realiza valores materiais da escala hierrquica extra-moral. Vejamos agora a que concluses isto nos leva. Em primeiro lugar, o valor moral no encontrado num ato que realizasse o valor moral por ele mesmo, isto , que tivesse por matria o prprio valor moral. Isto seria orgulho moral204 ou farisasmo. A pessoa poderia realizar um valor somente para intuir a si mesma e seu ato como bom em si, para sua autoglorificao. No um mal intuir o valor prprio. Mas este no o objeto da moralidade, que trata da realizao de valores em atos concretos, isto , da construo do mundo humano, do agir humano sobre a realidade. Um sujeito, para realizar uma ao boa, no pode querer realizar uma que tenha somente como intentio ser bom, pois lhe faltaria contedo205. O farisasmo acontece quando a pessoa quer realizar o seu valor supremo, antes que fazer o bem. Para Scheler, a pessoa realiza-se enquanto prefere, quer e realiza o bem concreto, j desde sua inteno. Assim o valor moral surge da realizao de valores materiais e objetivos, isto , de atos que realizam valores na vida, que constroem o mundo humano, que agregam valor
204 205
ET-II,p.311 LL,p.97: Un sujeto para realizar una accin buena no puede querer realizar una que tenga slo como intentio ser bueno, pues le faltara contenido.
110
realidade. O valor moral surge do trabalho, do cuidado com a vida e a sade, do estudo, da educao, da criao cultural, do ato religioso, do cultivo de si mesmo e do prprio esprito, do amor s pessoas, enfim, surge a partir da atividade humana no mundo, da atuao do esprito da pessoa sobre o mundo das coisas e sobre o seu prprio ser psico-fsico e espiritual. A tica, princpio racional da moralidade, tem seu fundamento na percepo sentimental da materialidade dos valores, pelo que o valor imediatamente acessvel ao esprito e mediatamente acessvel razo. A partir do acesso racional ao valor, ele pode ser objeto de um preferir da razo teortica e de uma escolha concreta da razo prtica, e por fim objeto de um fazer consciente de uma vontade eficiente, culminando com atos morais concretos que conscientemente realizam valores no mundo. No demais notar que um ato eficiente tem sempre uma causa e uma ao concreta. A causa de um ato eficiente sempre uma pessoa. por isto que nas primeiras cosmovises naturais, os homens viam os fenmenos da natureza como causados por entidades pessoais206, porque esta a imediata relao de causalidade: a primeira e mais imediata intuio de atuao a nossa mesma, o ato do ser vivente bio-psquico-pessoal. Tambm da Scheler intui a relao lingstica mais imediata que h na compreenso da relao entre causalidade e moralidade: em lngua grega, a mesma palavra designa causa (em geral), e culpa; esta ltima tem sua origem na autointuio da causalidade do humano em relao a seus atos. Mas podemos ns mesmos encontrar mais relaes, em lnguas mais prximas nossa. Na lngua latina tambm h uma literalmente pronunciada relao entre causa eficiente, ser humano e atitude moral: vis, a fora, vir, o homem, virtus, vitium, voluntas, todos tm a mesma raiz latina do ablativo de vis, vi, ablativo que significa mesmo a causa eficiente de uma ao, isto , uma fora pela qual se realiza algo207, fora que no pode ser ato sem objeto, mas ato que faz. Como dissemos, h duas intuies essenciais imediatas: a intuio de essncia e a intuio da conexo entre essncias. Assim como o acesso da razo ao valor somente possvel aps ser dado na intuio sentimental, do mesmo modo o preferir somente possvel aps a intuio da conexo essencial entre os valores intudos sentimentalmente. caracterstica da tica material dos valores um princpio de adequao entre razo e contedos materiais, contedos que no podem ser criados pela razo do nada, que o que faltava ao puro formalismo tico kantiano. O querer que orienta a vontade no puramente formal, mas tem um contedo material intuitivo. Uma boa vontade precisa estar originalmente
206 207
IR,p.91. Ravizza, p. 19.
111
orientada a um contedo material de valor evidentemente intudo, e que objetivo porque independente da aplicao de categorias transcendentais subjetivas, e precisa por outro lado ter como fim a realizao, a encarnao de valor no mundo real. O portador do valor moral a pessoa. A pessoa tem valor em si porque centro de atos, esprito e vida; esprito que por si s originariamente impotente208, mas que, por ser essencialmente unido na pessoa ao ser psico-fsico, capaz de realizao intencional de atos no mundo. Como centro de ato puro, a pessoa portadora de valor absoluto em si. Se o ato concreto da pessoa mau, podemos dizer que a pessoa m somente por analogia ao valor moral do ato, enquanto realiza valores. Mas enquanto ato puro, a pessoa no pode ter diminudo seu valor. No podemos confundir o valor moral com o valor da pessoa. Aprofundaremos mais esta reflexo a seguir.
4.3.4. O valor do ato, da matria do ato, e da pessoa
Existem dois conceitos de materialidade utilizados por Scheler. H a materialidade dos valores extra-morais, isto , como matria do valor moral do ato puro de realizao de valores, o ato da pessoa espiritual que realiza valores; e h a materialidade do valor entendida como matria de intuio sentimental, como auto-dado, como preenchimento objetivo de uma intuio material da essncia em si do valor. Desta j falamos no captulo sobre os atos de intuio sentimental. Vamos falar um pouco mais sobre a matria do valor moral, os valores extra-morais. H que distinguir o valor moral do ato puro da pessoa espiritual (que por analogia, e de modo restrito como procuraremos mostrar a seguir, corresponde ao valor da pessoa como portadora de atos) dos valores extra-morais. Os valores materiais ou extra-morais, aqueles que apresentamos como constituintes da escala de modalidades hierrquicas de valores, so a verdadeira materialidade da tica de Scheler, so a matria do valor moral. O valor moral, do bom e do mau moral, no relativo a nada existente ou real, mas apenas ao puro ato da pessoa, o ato que realiza valores na existncia. Mas este ato puro no depende da existncia; puro ato. Ele que realiza valores na existncia. Esse ato puro no material, ato. A sua matria que so os valores extra-morais, os valores sensveis, vitais, culturais e do sagrado, que so realizados na existncia por este puro ato moral realizador de valores. Por isto no h
208
PC,p.68
112
sentido numa moral da pura boa inteno de ato, puramente formal, mas vazio de matria. Somente h moralidade no ato enquanto realiza valores concretamente, no ato que tem uma matria. Por outro lado, o portador do ato moral, isto , quem livremente realiza este ato, a pessoa. Aqui ainda h uma fundamental distino entre o valor da pessoa e o valor de seu ato. O ato puro, o ato moral da pessoa, pode ter valor moral bom ou mau, conforme realize valores positivos (frente aos desvalores ou o correlato negativo do valor num mesmo grau hierrquico das modalidades de valor), ou valores superiores (entre modalidades em nveis hierrquicos distintintos), ou um valor absoluto para o conhecimento da pessoa, o sagrado para a pessoa, acima do qual nada h de valor maior. A pessoa, porm, tem sempre um valor positivo absoluto: a pessoa sempre boa. O ato da pessoa pode ser bom ou mau, mas a pessoa sempre boa. Somente por uma analogia materializante da linguagem, dizemos que uma pessoa m, ainda assim em sentido relativo. Mas nunca o pode ser em modo absoluto. Ainda que seja realizadora dos piores atos, realizadora do absolutamente mau para o seu conhecimento, mesmo que tenha passado a vida realizando somente o valor absolutamente mau para o seu conhecimento, ainda assim um ser livre de qualquer posio de necessariedade espiritual e moral, pois continua sendo capaz de realizar algum ato bom, mesmo que nunca o venha a realizar. Alm disto, o amor dirige-se sempre ao bem e ao valor do bom, e sempre encontra o que procura, o valor bom que h em todo ser, que no ontologicamente o ser, mas repousa sobre o ser; sempre poder haver quem ame, e quem ama poder encontrar sempre o valor do bom, pois o amor dirige-se ao valor bom e ao bem, portador deste valor. Isto evidente somente para quem ama. Uma me pode ter como filho o pior dos bandidos, mas dificilmente o considerar como mau absoluto. O amor livre para amar e sempre encontra o bom que procura no bem que seu objeto. O amor, de certo modo, cria valor onde ainda no h. A bondade absoluta da pessoa est em que somente ela sempre capaz de atos realizadores de valores; o valor positivo somente se realiza no mundo intencionalmente atravs da pessoa moral. E mesmo que uma me abandone seu filho, ainda assim, enquanto houver uma pessoa capaz de amar, seja uma pessoa humana, como unidade de esprito e vida, seja uma pessoa absoluta como esprito absoluto fundamento de toda vida, sempre haver quem o ame, e nisto a pessoa encontrar seu valor. A aprioridade do valor encontra-se de modo absoluto na pessoa. O sentido primordial da pessoa o seu valor, que aquilo que deve ser realizado; sentido que se mostra como evidente e objetivo para uma intuio sentimental do esprito. A pessoa boa em si,
113
independente de qualquer mediao e mesmo que no tenha conscincia de seu valor209. A realizao da pessoa, tem dois sentidos: consiste em se desenvolver como pessoa mesma, realizar este bem que ; e em realizar valores no mundo. Sendo a pessoalidade pura essncia, independente do existente, pelo que Deus pessoa mas no ser existente na realidade, a pessoa no pode ser objetivada. Durante muito tempo o homem no aceitou a idia de conceber um nome para a pessoa absoluta, fundamento nico e supremo das coisas mesmas e da vida210. A necessidade de indicar positivamente o acesso para uma intuio a esta pessoa criou verdadeiras aporias, como o nome impronuncivel. Indica que, de todo modo, o caminho no comea por uma via de objetivao terica, como uma inteno nossa, apenas. Ns no podemos ordenar que uma pessoa se revele. A pessoa se revela espontaneamente, se h algum para acolher esta revelao. Como dissemos h pouco, depois de ver passar diante de si todo ente que era bom, a todos o homem deu nome. Porm, para o ser que era sua semelhana no encontrou nome: a pessoa, homem e mulher, bondade absoluta, valor absoluto porque nunca redutvel a um bem ou coisa portadora de valor, mas sim ato puro realizador de valor em bens e aes concretas, pessoa que no pode ser objetivada desde fora, mas apenas tirada desde si mesma, auto-dada, acesso para o qual a atitude objetivante da razo terica precisa como que dormir, entrar em estado de suspenso, deixar de objetivar. Descobrir a essncia individual do valor absoluto da pessoa, do bom em si para mim, o que Scheler chama de salvao pessoal211, a intuio do valor essencial de minha pessoa, que em linguagem religiosa a intuio que parte da idia de valor que o amor de Deus, enquanto se acha dirigido a mim, de mim tem. Ora, se Deus nunca deixa de amar, ama o que criou porque viu que bom, pois o amor ama o bom; logo, a pessoa sempre boa, por essncia, por relao ao amor que parte primeiramente daquele ser-em-si absoluto. Este valor de bom em si para mim no subjetivo, independente do meu saber. Independente do para mim, um bom em si212, mas que somente se concretiza em minha vida como salvao quando se torna consciente e em ato, no somente inteno. a partir da viso deste valor que se fundamenta a busca individual do dever ser pessoa, como uma chamada ou vocao. Este dever ser pessoa, realizar-se, est num outro campo que o do dever ser moral, relativo aos atos da pessoa enquanto realizadora de valores materiais ou extra-morais. Aqui estamos falando do dever ser da pessoa enquanto realizadora do seu prprio valor pessoal. O
209 210
ET-II,p.292 PH,p.35 211 ET-II,p.291 212 ET-II,p.292
114
dever ser pessoa que parte da conscincia de um valor individual absoluto, que no simplesmente o valor de pessoa geral, o motivo pelo qual cada pessoa diferente da outra. Como as cores tm todas a mesma essncia de cor, mas cada cor tem uma essncia individual pelo que h uma multiplicidade incontvel de tons, matizes, luminosidade, e todas convivem muito bem na curta faixa do espectro visvel, assim cada pessoa, por seu valor essencial individual e absoluto, tem um dever ser diverso, um sentido de ser, um modo de ser e realizarse diverso das outras pessoas no domnio da existncia. por isto que, ainda poderamos observar, o bom absoluto, porque um valor da pessoa mesma, mas o mau relativo e contingente, porque relativo somente ao ato. A pessoa um ser para si absoluto, enquanto o ato tem sempre existncia relativa. Tudo que se refere ao ato tambm padece desta relatividade e contingncia. Segundo Spiegelber, citando a interpretao da viva e primeira editora das obras de Scheler, Maria, o problema da teodicia revisto luz de sua tica tornou impossvel aceitar a justificao do mal pela queda do homem213. A pessoa homem no m, jamais. O mal no est na pessoa, mas na contingncia de seus atos. A pessoa apenas pode introduzir atos maus no mundo real ou realizar valores negativos ou inferiores relativamente. Scheler v mesmo uma progressiva diminuio das explicaes morais culpabilizantes em favor de explicaes simplesmente objetivas; percebe que a lenta exculpao` uma direo fundamental no desenvolvimento do esprito humano. Esta compreenso de cunho tico-antropolgico, segundo Spiegelber, parece ter sido um dos motivos que o levou a rever posies teolgicas ao fim da vida e a se afastar da Igreja Catlica.
4.3.5. O amor e o valor absoluto da pessoa
O amar e o odiar formam o estrato superior de nossa vida emocional214. Como o valor mais alto dentre as modalidades hierrquicas, o valor do sagrado, somente intudo por um ato de amor a uma pessoa. Llambas confirma que, dentre os atos emocionais prracionais, o amor, para Scheler, o fundador de todos os demais atos espirituais215. O amor no um ato da racionalidade pura, mas nem por isto um ato sem sentido para a conscincia. Ao contrrio, o amor que d o primeiro sentido, que d o ordre du coeur216
213 214
Spigelberger,p.276. ET-II,p.32: El amar y el odiar, por ltimo, forman el estrato superior de nuestra vida emocional intencional. 215 LL,p.83. 216 ET-II,p.25
115
procurada por Pascal, a direo ordenada para o primeiro ato intencional da conscincia espiritual pr-racional; o amor que dirige a conscincia para o valor que se mostra na experincia intuitiva sentimental. O amor se dirige ao valor do bom e ao bem portador do valor absoluto do bom, encontrados em uma experincia sentimental, mas sempre referidos a uma pessoa. O amor pode ter como objeto uma pessoa humana, a pessoa de Deus, ou mesmo um fetiche, mas sempre portadores de valor absoluto que se do como pessoa217. Acompanhando esta direo e sentido do dado prvio mostrado conscincia, seguem, ou tentam seguir, os atos teorticos e prticos da razo. Dizemos que tentam seguir, porque ao tentar objetivar o objeto do amor, somente conseguem objetivar as dimenses mais relativas existncia em seu portador, mas no a sua essncia pura. por isto que em dado momento da histria, Deus, a nica pessoa perfeita e pura218, porque puro ato, foi entificado como ser, numa ingnua tentativa de objetivao. A pessoa, por ser centro de atos, essncia no objetivvel. Deus, pessoa pura, esprito suprasingular219, para Scheler, ato puro, essncia pura, fundamento de todo ser e modo de ser. Apenas podemos seguir as indicaes, o exemplo de lderes, santos, pegadas que levam a Deus. Por isto o homem ciso entre o que busca a Deus e a existncia220, opondo e antepondo a essncia existncia. Tornar-se pessoa perfeita ainda um dever ser221; o homem cindido busca a Deus para tornar-se pessoa. O amor tem sempre diante de si o valor da pessoa. O ato de amar est dirigido ao valor absoluto e irredutvel da pessoa, o bom em si, que no em nada relativo existncia, mas essncia pura da pessoa. O amor descobre o valor do bom mesmo onde este ainda no apareceu, ou estava encoberto. Assim, por exemplo, quando todos consideramos uma pessoa m ou desprezvel levando em conta os atos concretos, e contingentes, que at ento realizou em sua vida, por piores que sejam, o amor de algum que a ame sempre encontrar nesta pessoa algo de bom. O amor, estritamente falando, no cria valores, mas os descobre, intui sem mediao. Assim, mesmo que todos digam que de Nazar nada de bom pode sair, o amor vem e v, faz, realiza, uma experincia vivida, no somente ouve por assim dizer; porque assimblico, anterior ao conceito, no aceita pr-conceitos, precisa de uma experincia intuitiva vivencial e
217 218
LL,p.93. IH,p.115. 219 PC,p.46. 220 IH,p114 221 IH,p.120
116
direta; e porque intencional, o amor sempre encontra o que procura, porque de certo modo j o sabia. O amor encontra o valor do bom mesmo naquele portador, aquela pessoa, que ainda no realizou este valor.
117
5. CONCLUSO
Ao longo de nosso trabalho, que inicialmente pretendia estar centrado no aspecto mais restrito ao ato intuitivo emocional que capta os valores, e guiados por uma noo, bastante comum, de que Max Scheler postula uma objetividade tica, fomos nos dando conta de que a descrio fenomenolgica da intuio do valor est subordinada a uma compreenso mais ampla. O contato com outras obras de Scheler, alm do ...tica material dos valores, nos levou a perceber outros eixos. Sobretudo a centralidade da antropologia como fundamentao para a tica, e as compreenses tericas das esferas de ser, de hierarquizao, alm das noes de realidade e materialidade, que vm, por sua vez, ajudar a fundamentar esta antropologia. O eixo da tica parecia estar em uma objetividade dos valores, como muitos ainda entendem. Mas Scheler no um objetivista. A insistncia em uma esfera do que chama de valores materiais, e a descrio fenomenolgica que faz dos atos que os intuem e dos estratos de sentir relacionados nos leva mais alm da simples questo do valor. Como Pintor Ramos observa, estas estruturas no devem ser tomadas de modo muito fechado. Nem mesmo o foram pelo prprio Scheler. As esferas especficas sofreram alteraes, foram ampliadas. Mas a noo de esfera em geral, e de uma hierarquia, permanece. Sua preocupao principal na fundamentao da tica superar de uma vez para sempre qualquer tica monista que ainda tenha como suposto antropolgico que o homem somente est no lado racional da definio aristotlica, e estabelecer um mtodo filosfico capaz de recolher toda informao que ajude a compor uma noo de como compreender o homem, no estaticamente, mas em realizao. O centro da tica no tanto a materialidade ou objetividade do valor; mas as dimenses materiais do humano, que daqui por diante no mais podem ser negligenciadas. E nisto est seu mrito. Scheler encontrou na fenomenologia o caminho filosfico rigoroso e seguro. A fenomenologia abre caminho para mostrar como a materialidade do humano e de seu agir est implicada numa sua compreenso. Podemos reduzir, ou isolar, o que quisermos: sempre permanece um fio de prata ligando a razo ao ser vivente. Sobre as investigaes realizadas na obra central, interessante notar que, nas longas reflexes fenomenolgicas em que desenvolve a tica material dos valores, Scheler se ocupa muito mais com a descrio da essncia dos valores materiais ou extra-morais e suas conexes essenciais, e mais ainda com seus modos de intuio que compem a base antropolgica da teoria dos modos de conhecimento, e ainda com a compreenso da pessoa e
118
de seu valor em si, do que de fato com o valor moral. O valor moral uma intuio que vem por acrscimo. Scheler j observara que, se a preocupao tica for para com a realizao do valor moral por si mesmo, camos num farisasmo, ou no contentamento amedrontado de uma boa vontade vazia mas que no se posiciona. Parece, pois, que Scheler est de fato mais preocupado com a realizao de valores no mundo, com a concretizao do bem, do que com uma justificao da pessoa. E com razo, pois a pessoa j tem um valor em si. A justificao anterior, vem de graa. Ser bom nunca pode ser objetivo do ato moral, mesmo porque um s bom. O objetivo da ao moral deve ser fazer o bem, realizar valores. Se algum quer ser moralmente perfeito, que v e realize valores atravs do trabalho e de atos que encarnam valores no mundo. A tica no a procura de um fundamento para uma justificativa da bondade da pessoa, mas sim a procura de fundamento para o agir. A tica no trata dos depositrios dos valores morais, isto , das pessoas como pessoas, mas sim dos seus atos realizadores de valor. Ora, os atos somente podem ser adequadamente julgados se levarmos em conta uma adequao completa que vai desde a intuio original da pura essncia do valor at o preenchimento material da inteno do ato realizador de valor, isto , o valor efetivamente realizado. Portanto, esta adequao abrange um campo muito mais amplo que o da tica formal, mais aqum e mais alm: abrange o campo anterior da intuio a priori sentimental da essncia do valor; o campo formal mesmo, pelo que o valor se torna objeto da razo prtica; e um campo posterior, da concreta realizao do valor no mundo, como objeto do ato da razo prtica, o ato final realizador de um bem. Poderamos agora refletir: se estivermos olhando desde fora algum que escolhe a realizao de determinado valor, como um valor sagrado, podermos ter certeza das intenes interiores, isto , se realmente a pessoa o intui como um valor superior? No poderia ser por ressentimento? Isto , uma inverso de valor que nega um valor positivo, como o valor do agradvel, como se fossem negativos, pelo que deveriam ser sempre preteridos? Mas, pelo mesmo motivo de no podermos objetivar desde fora o ato de intuio do valor, no podemos jamais dizer que h uma conexo necessria conduzida ou por ressentimento, ou pela natureza, ou por quaisquer interesses contingentes. Ao contrrio, podemos dizer ainda que sempre independente de qualquer relao com o contingente, pois que o ato de realizao nunca necessrio, mas livre. No podemos olhar o fundamento do ato desde fora; nem mesmo olhando para dentro podemos ter certeza das ltimas intuies que preenchem a motivao de um ato realizador de valor. J dissemos que tudo o que pode ser objetivado,
119
pode ser reduzido. Mas o resduo ltimo da reduo fenomenolgica justamente o que no pode ser objetivado, o ato puro, inefvel, indemonstrvel, mas que pode ser indicado, apontado, mostrado. Por outro lado, mesmo no sabendo a inteno, ou a motivao ltima da realizao de um valor, uma coisa sabemos: antes que o ato seja executado por uma pessoa nunca podemos ter certeza se ser ou no efetivamente realizado e que, portanto, no est determinado. Logo, se no h necessidade, sabemos que estamos frente a uma dimenso livre de determinao anterior, porque despegada do real e do contingente. O nico modo de termos certeza chegarmos ao resduo objetal, onde a intuio ltima se mostra conscincia fenomenolgica reflexiva. Voltando atrs e vendo se na raiz de nossa escolha prtica, o ato de preferir ideal preferiu mesmo um valor positivo superior como o valor do sagrado frente a um valor positivo inferior, como o valor do agradvel, e no desvirtuou este valor positivo inferior, apenas por ser inferior, como se fosse um desvalor. Portanto, o processo de conscincia moral com certeza reflexivo, tem um momento ideal, mas jamais puramente formal, puramente dirigido preferncia em si. O movimento de reduo fenomenolgica , sim, reflexivo. atravs dele que o pensamento sobre a essncia pode ser comparado intuio da essncia mesma, pelo que pode ser intuda a adequao. nesta reduo, nesta filtragem, que a essncia do material de intuio se mostra como essncia. O critrio nunca pode ser apenas a pura boa inteno, pois a boa inteno somente encontra seu preenchimento tendo em uma ponta materiais originais de intuio sentimental e, na outra ponta, atos concretos que realizam valores. Somente pode haver conhecimento efetivo, juzo, onde entre inteno e intuio preenchedora, entre ato e matria de intuio, houver uma adequao. Precisamos fazer algumas observaes sobre as crticas de contradio e mudanas de rumo que recebeu a obra de Scheler, algumas das quais encontramos no desenvolvimento deste trabalho, como por exemplo a questo do valor da pessoa, que aps esta investigao acreditamos estar agora suficientemente clareado. Scheler um filsofo autntico, um desbravador de essncias222, e no tem medo de encontrar novidades pelo caminho, de corrigir suas vises quando v algo com maior profundidade, de rever suas posies. Descreve o que intui, aquilo que v, e confirma que a filosofia no simplesmente conquista de posio ou estaticidade, mas atitude, uma obra aberta e em crescimento, que se desenvolve no tempo. O desenvolvimento de sua obra de vida notavelmente reconhecido como uma constante novidade de intuies, pelo que por vezes interpretado como contraditrio. reconhecida a
222
Colomer, p.407
120
crtica de que no final de sua obra Scheler desandou para uma interpretao pantesta do fundamento da realidade, contradizendo sua posio mais objetivista e realista da chamada fase catlica. Ora, ao aplicarmos uma reduo sobre outras motivaes que entram de contrabando nesta crtica, no difcil encontrar um certo ressentimento. Mesmo em sua chamada fase catlica, Scheler j possua uma interpretao imanentista da necessidade da presena interior de uma idia de Deus no homem, e da realidade como manifestao de um esprito, mesmo em suas primeiras obras223. Sem dvida esta posio se acentuou ao final de sua obra, o que posteriormente levou a subsumir toda a realidade numa interpretao chamada por muitos pantesta acosmista, com o que no concordamos, como manifestao ou emanaes de Deus em toda a realidade, ao estilo spinoziano224, e com a idia do homem como microtheos. Mas isto no indica uma virada radical, apenas uma justificativa para ser rejeitado pelos crculos de que participava, sobretudo por motivos de sua vida particular, pois o caminho terico j apontava desde as primeiras obras da fase catlica. A grande contradio de sua vida vem de fora: se por um lado foi abandonado como apstata pelos crculos catlicos, pelos no crentes foi sempre considerado como um cristo dissimulado225. A filosofia ainda busca a identidade, e pouco espao sobra para o diferente. No entanto, at no mesmo h muita diferena. Numa simples e sucinta concluso, a evoluo do pensamento de Scheler confirma que a intuio dos valores no esttica, os valores no so os mesmos a vida toda. A intuio dos valores uma obra permanente e necessria, que d o sentido ao agir humano. Precisa ser refeita constantemente. No intumos todos os valores de uma vez em um nico ato e em um nico momento da vida. Alm disto, mesmo que j tenhamos uma escala de valores, esta escala no sempre a mesma. A escala de valores se amplia e at mesmo se altera com a descoberta de novos valores. o motivo pelo qual podemos evoluir, crescer moralmente. De fato, ao longo de nossa existncia individual e coletiva, intumos novos valores, adotamos posturas novas frente vida, criamos novos bens materiais e culturais, novos modos de viver. Confirma ainda a evidncia da aprioridade do dado sentimental sobre o racional. Quando, mesmo seguindo a posio de seus crticos, se aponta que sua filosofia tomou rumos diversos ou contraditrios, relativamente s fases de sua vida e aos crculos que freqentava,
223 224
Vide, p. ex., IH, de 1914, p.107; 112; Vide, p. ex., o texto Spinoza, de 1927, em VM, e sobretudo PC, p.87-88 de 1928, quando fala do engendramento de Deus, o homem como o lugar da auto-compreenso e auto-realizao de Deus, citando explicitamente Spinoza e Hegel. 225 LL,p.18.
121
isto confirma que a intuio dos valores, pelo que estes se tornam acessveis razo terica e prtica, isto , pelo que modificamos conscientemente o rumo de nossas vidas, tem sua origem num contedo sentimental. Scheler no foi o primeiro a intuir que h muitos valores, muita emocionalidade, muito de sentimental e contedos pr-racionais por trs da filosofia. No s entre filsofos diversos, mas tambm na obra de um mesmo filsofo. Assim como no se pode acreditar mais numa pura razo formal, seno no campo exclusivo da lgica, pois a razo uma rede de atos intencionais e intuies singulares, como o mostrou Husserl, um investigador da lgica, tambm no h filosofia pura, pelo que no se poderia explicar diferenas entre as obras filosficas. A no ser que se reduzisse a atividade filosfica ao campo da lgica pura, como alguns pretendem. Mas isto seria mais uma atitude de medo e escondimento. O primeiro a apontar com clareza para o dado do valor que entra como que de contrabando na atitude filosfica foi Nietzsche. Mas Scheler mostra que este dado no subjetivo, que este dado tem uma ordem, como um ordre du coeur, e que a origem deste dado est em uma intuio sentimental. Parece que to apegado estava ao processo de mostrao fenomenolgica do valor que h por trs de toda atitude intencional e mudana de atitudes que o mostra no s filosoficamente, mas praticamente, atravs de sua vida. Isto no um drama ou o fim da filosofia, mas algo que justamente precisa ser trazido tona, racionalizado, reduzido atravs da atividade filosfica. A filosofia precisa tratar justamente destas contradies, e no exclu-las e ficar s com o formal. para as contradies que precisamos encontrar um sentido. De outra forma a filosofia nada teria a dizer, no campo da razo prtica, para a tica ou para a paz. Buscar o dado sentimental intencional, o pr-racional prenhe de sentido, fazer um mergulho no subconsciente da filosofia, l onde se sentem as intuies originais que culminam na obra filosfica, onde j h um sentido acessvel. A psicologia faz isto com muito sucesso, atravs de abordagems mediadas, simblicas, ou mesmo imediatas, do subconsciente. Mas o processo sempre o mesmo: trazer conscincia algum contedo sentimental primrio, que sabemos estar l no fundo, que tem um sentido, mas que ainda no foi reconhecido. Alis, a psicologia foi uma das primeiras cincias a tomar em considerao as intuies filosficas da fenomenologia. A reduo fenomenolgica , pois, um caminho de mostrao que revela, entre outras coisas, o quanto de dado sentimental, de valor, de intuies singulares, constitui o fundamento da atividade e da obra filosfica.
122
Podemos por fim dizer que, de fato, tica e antropologia so os dois focos desta elipse por onde, em movimento orbital, gravita o pensamento de Scheler, ora se aproximando, ora se afastando para depois voltar. A tica o interesse prtico, de onde brota e onde culmina a filosofia de Scheler. A antropologia o interesse mais essencial, que vem a fundamentar a tica. Tal como a metafsica est para a fsica, assim a antropologia est para tica numa posio de fundamentao; em ordem de manifestao, porm vem primeiramente a questo tica. Depois da tica material dos valores, nenhuma tica poder voltar a ser simplesmente formal ou puramente racionalista, nem por outro lado ser meramente uma tica positivada, de leis morais ou de bens contingentes, pois que os bens, com todo o valor que sobre eles repousa, so relativos de existncia histria humana; ao passo que uma ordem material de valores, sobre a qual se apia qualquer moral, permanece, enquanto mudam seus portadores. A dimenso antropolgica, por sua vez, jamais poder ficar restrita ao mbito de um racionalismo. O animal racional, como racional, pobre. A esquizofrenia da modernidade somente superada por um retorno da ateno para o cho de onde emergiu. No para voltar natureza, mas para no perder a raiz que a mantm viva. Porque, como diziam alguns humildes imigrantes que vinham do interior para a grande cidade, ns samos da roa, mas a roa no saiu de ns. Porque a rude natureza est presente mesmo na razo mais pura. A conscincia intencional, livre, ativa e reflexiva, permanece ligada natureza e realidade, em cuja resistncia mesmo se apia para se constituir e emergir como ser independente. Enquanto permanecer ligada nem que seja por um fio de prata, a terra de onde vem permanece ali, no horizonte dos olhos e ao alcance das mos. A antropologia scheleriana sem dvida incompleta. Como incompletas so as realizaes do homem frente s suas possibilidades. Porm, do ponto de vista formal,
avanou por um novo mtodo, abrindo as portas para a materialidade, para todas as antropologias materiais e objetivas. No se trata somente de dialogar com as cincias, mas de, como Scheler, buscar uma sntese e uma fundamentao, pois que este verdadeiramente o papel da filosofia; no o de ser mais uma cincia ou de ser uma disciplina enciclopdica. Mas buscar uma fundamentao. O filsofo precisa ir alm das cincias, e alm da descrio. Esta fundamentao Scheler encontrou - aps analisar detalhadamente os aportes da biologia, da psicologia, da sociologia, e da teologia, e compor a teoria das esferas de ser e uma viso de base sobre as estruturas do humano - na teoria de uma relao dualstica entre impulso vital e esprito impotente, arcando, por outro lado, com os prejuzos que tal dualismo pode trazer,
123
uma vez que torna difcil uma mais precisa determinao do fundamento do humano: quando se tenta peg-lo pelo esprito, escapa para a dimenso do vital, e vice-versa. A nova antropologia material tem, para Scheler, uma dimenso formal fundamental expressa neste dualismo, que serve como pano de fundo para outros aportes antropolgicos materiais, que mesmo viro a enriquec-lo. Mas a estrutura e o mtodo esto montados. Se o interesse ora oscila para a tica, ora para a antropologia, de tal modo que muitos insistentemente querem encontrar um preciso eixo para compreender a obra de Scheler, uma coisa certa: desde as esferas de atos intutivos do esprito, esferas de funcoes sensveis e esferas de valores materiais, em sua ...tica material dos valores, de 1913; at as esferas de ser no homem e a prioridade do esprito sobre o impulso vital, no ato de ideao, como especfico do humano, em A posio do homem no cosmo, de 1928, sua ltima obra mais significativa; a noo de esferas, seguida de uma conscincia clara da presena de uma hierarquia entre estas e em tudo que encontrava, e a importncia da materialidade, perpassam e estruturam todas as fases do pensamento tico, antropolgico e metafsico de Scheler; deste ltimo, inacabado em forma de expresso, podemos ter uma suficiente viso estimativa em Idealismo-Realismo. As esferas do cosmos, e de toda a realidade em geral, bem como a dimenso do ser essencial absoluto e originante de todas as essncias, se verificam igualmente no homem, microcosmos`. O caminho inverso tambm poderia ser pensado a partir das proposies schelerianas. Depois de sua extensa fundamentao para uma tica e antropologia novas, que no negligenciam o olhar para a materialidade da vida, do agir, do preferir, do dever-ser, para a materialidade que h por trs do fazer-se, do realizar-se do animal racional, ningum mais, que queira dar um impulso ao seu esprito para tornar-se homem, poder faz-lo sem apoiar-se nos estratos j descobertos, para dar a direo que quiser ao seu fazer-se. Pois que se do arrancar-se, do desprender-se, no se faz jamais possvel um voltar natureza, por outro lado este impulso, que para a auto-realizao permanente, no pode ser dado sem apoiar-se efetivamente neste cho. No h razo pura. A terra de onde brota, o mar de onde emerge, a materialidade de onde se constitui, no podem ser impurezas.
124
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
a) BIBLIOGRAFIA DE MAX SCHELER: SCHELER, Max. tica. Nuevo ensayo de fundamentacin de un personalismo tico. Tomos I e II. Trad. Hilario Rodrguez Sanz. Buenos Aires: Revista de Occidente, 1948. (Trata-se da edio em espanhol de O formalismo na tica e a tica material dos valores). ______ . Ensayos de una filosofia de la vida. In SCHELER, Max. Metafisica de la libertad. Trad. Wlater Liebling. Buenos Aires: Nova, 1960. Elsa Tabernig. Buenos Aires: Nova, 1964. ______ . La esencia de la filosofia. Trad. Elsa Tabernig. Buenos Aires: Nova, 1964. ______ . Fenomenologia y gnoseologia. In SCHELER, Max. La esencia de la filosofia. Trad. ______ . Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik. Gesammelte Werke; Band 2. Bonn: Bouvier, 2000. ______ . As formas do saber e a cultura. In SCHELER, Max. Viso Filosfica do Mundo. Trad. Regina Winberg. So Paulo: Perspectiva, 1986. ______ . Idealismo-Realismo. Trad. Agustina S. Castelli. Buenos Aires: Nova, 1962. ______ . Para a idia do homem. In SCHELER, Max. A posio do homem no cosmo. Trad. Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2003. ______ . El porvenir del hombre. In SCHELER, Max. Metafsica de la libertad. Trad. cf. separata de Revista de Occidente. Buenos Aires: Nova, 1960. ______ . A posio do homem no cosmos. Trad. Marco A. Casanova. Rio de Janeiro: Forense Universitria, 2003. ______ . O ressentimento na construo das morais. In SCHELER, Max. Da Reviravolta dos Valores. Trad. Marco A. Casanova. Petrpolis: Vozes, 1994. ______ . Spinoza. In SCHELER, Max. Viso Filosfica do Mundo. Trad. Regina Winberg. So Paulo: Perspectiva, 1986. ______ . La teoria de los 3 hechos. In SCHELER, Max. La esencia de la filosofia. Trad. Elsa Tabernig. Buenos Aires: Nova, 1964. ______ . Viso Filosfica do Mundo. Trad. Regina Winberg. So Paulo: Perspectiva, 1986.
125
b) DEMAIS REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS: COLOMER, Eusebi. El pensamiento alemn de Kant a Heidegger. Barcelona: Herder, 1990. COSTA, Jos Silveira da. Max Scheler: o personalismo tico. So Paulo: Moderna, 1996. DERISI, Octavio. Max Scheler: etica material de los valores. Madrid: Ed. Magistrio espaol, 1979. HUSSERL, Edmund. Investigaes Lgicas. Col. Os Pensadores. So Paulo: Abril Cultural, 1975. ______ .A idia da fenomenologia. Lisboa: Edies setenta, 1989. LEVINAS, Emmanuel. Descobrindo a existncia com Husserl e Heidegger. LLAMBAS DE AZEVEDO, Juan. Max Scheler: exposicin sistematica y evolutiva de su filosofia. Buenos Aires: Nova, 1966 MEISTER, Jos A. F. Amor x conhecimento. Inter-relao tico conceitual em Max Scheler. Porto Alegre: EDIPUCRS, 1994. MORA, Jos Ferrater,. Dicionrio de Filosofia. 4vols. So Paulo: Loyola, 2000 PINTOR RAMOS, Antonio. El humanismo de Max Scheler. Madrid: BAC, 1978 REALE, Giovanni e ANTISSERI, Dario. Histria da Filosofia. 3 Vols. So Paulo: Paulus, 1991. SILVA, Neusa Vaz e. A noo de mundo pessoalconforme O formalismo na tica e a tica material dos valoresde Max Scheler. Dissertao de Mestrado. Porto Alegre: PUCRS, 1989. STEIN, Ernildo. Exerccios de fenomenologia: limites de um paradigma. Iju: Ed.Uniju, 2004. PERINE, Marcelo. Filosofia e violncia. Sentido e inteno da filosofia de Eric Weil. So Paulo: Loyola, 1987. RAVIZZA, Joo. Gramtica Latina. Niteri: Escola Industrial Dom Bosco, 1956. WOJTYLA, Karol. Max Scheler e a tica crist. Trad. Diva T. Pisa. Curitiba: Champagnat, 1993.
126
Do cho a experincia d o dado, Que ao resistir conscincia se formando Qual objeto se revela - Por outro saber j alcanado.
127
PONTIFCIA UNIVERSIDADE CATLICA DO RIO GRANDE DO SUL FACULDADE DE FILOSOFIA E CINCIAS HUMANAS PROGRAMA DE PS-GRADUAO EM FILOSOFIA
O PERCEBER DO VALOR NA TICA MATERIAL DE MAX SCHELER
SRGIO AUGUSTO JARDIM VOLKMER
Porto Alegre, Junho de 2006
Você também pode gostar
- Os 42 Passos de Uma VSL FinchDocumento36 páginasOs 42 Passos de Uma VSL FinchGuilherme Basso100% (2)
- Resenha Hadot O Que É A Filosofia AntigaDocumento5 páginasResenha Hadot O Que É A Filosofia Antigaluiznothlich100% (1)
- Teoria Do Conhecimento - AristótelesDocumento19 páginasTeoria Do Conhecimento - AristótelesJosé Aristides S. Gamito100% (1)
- Gabarito RabecaDocumento46 páginasGabarito RabecaJuarez Bergmann Filho100% (1)
- Fernandes 1958 TendenciasTeoricasInvestEtnolBr PDFDocumento80 páginasFernandes 1958 TendenciasTeoricasInvestEtnolBr PDFGilmar MattaAinda não há avaliações
- "Ética Material Dos Valores" de Max SchelerDocumento32 páginas"Ética Material Dos Valores" de Max SchelerDomingos SantanaAinda não há avaliações
- Ética e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyNo EverandÉtica e Compreensão: A Psicologia, a Hermenêutica e a Ética de Wilhelm DiltheyAinda não há avaliações
- Max Scheler - Ordo AmorisDocumento44 páginasMax Scheler - Ordo Amoriscoisasdoarcodavelha100% (2)
- Olavo de Carvalho - A Destruição Da InteligênciaDocumento4 páginasOlavo de Carvalho - A Destruição Da InteligênciaLuiz Carlos R OliveiraAinda não há avaliações
- Resumo de "A Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes"Documento2 páginasResumo de "A Fundamentação Da Metafísica Dos Costumes"Gabriel Paz100% (1)
- Antropologia Filosófica - TextoDocumento13 páginasAntropologia Filosófica - TextoJosé Aristides S. GamitoAinda não há avaliações
- Vida Contemplativa e Vida Activa em Hannah ArendtDocumento1 páginaVida Contemplativa e Vida Activa em Hannah ArendtJuliano Gustavo OzgaAinda não há avaliações
- Brentano Husserl Dilthey1381927510Documento7 páginasBrentano Husserl Dilthey1381927510Colin ThorntonAinda não há avaliações
- Max Scheler e A Fenomenologia EssencialDocumento11 páginasMax Scheler e A Fenomenologia Essencialdidio7Ainda não há avaliações
- Estética - Resenha Crítica KantDocumento7 páginasEstética - Resenha Crítica KantShade AndréaAinda não há avaliações
- Iluminismo e ProgressoDocumento9 páginasIluminismo e ProgressoVivianne ResendeAinda não há avaliações
- Antropologia Filosófica - A Concepçao Do Homem OcidentalDocumento9 páginasAntropologia Filosófica - A Concepçao Do Homem OcidentalMatheus Malagueta100% (1)
- Etica e EsclarecimentoDocumento4 páginasEtica e EsclarecimentoOdiléa CorrêaAinda não há avaliações
- JASPERS, Karl - Origem e Meta Da HistóriaDocumento16 páginasJASPERS, Karl - Origem e Meta Da HistóriafalconincAinda não há avaliações
- 11abordagens de Hegel e Gadamer em Volta Do BeloDocumento14 páginas11abordagens de Hegel e Gadamer em Volta Do BeloHenriques Lucas100% (1)
- Criticismo KantianoDocumento5 páginasCriticismo KantianoRodolpho BastosAinda não há avaliações
- A FilosofiaCristãAgostinhoPlatãodocDocumento81 páginasA FilosofiaCristãAgostinhoPlatãodocdiegocmaia100% (1)
- Heidegger e A Metafísica Da SubjetividadeDocumento16 páginasHeidegger e A Metafísica Da SubjetividadeenescamposAinda não há avaliações
- A Antropologia Filosófica de Plessner Gehlen e OutrosDocumento76 páginasA Antropologia Filosófica de Plessner Gehlen e OutrosranieriribasAinda não há avaliações
- Sobre o Perniciosíssimo Erro Do Laicismo - Pe. Thomas Pegues, OPDocumento29 páginasSobre o Perniciosíssimo Erro Do Laicismo - Pe. Thomas Pegues, OPGabriel Luan Paixão MotaAinda não há avaliações
- Resumo - Ética A Nicômaco - WikipédiaDocumento8 páginasResumo - Ética A Nicômaco - WikipédiaAcacio NetoAinda não há avaliações
- Jaspers - Iniciacao Filosofica - Cap. 1Documento5 páginasJaspers - Iniciacao Filosofica - Cap. 1Marcus TorresAinda não há avaliações
- Ética em Hegel PDFDocumento2 páginasÉtica em Hegel PDFCledyson Kyldary100% (4)
- Revisitando Os S de ZollikonDocumento28 páginasRevisitando Os S de ZollikonSílvia R. C. Bonome VanzelliAinda não há avaliações
- DICHTCHEKENIAN, Nichan. "O Mundo É A Casa Do Homem".Documento5 páginasDICHTCHEKENIAN, Nichan. "O Mundo É A Casa Do Homem".liviascmAinda não há avaliações
- Carta de Benjamim para Martin BuberDocumento3 páginasCarta de Benjamim para Martin BuberAndré Carvalho de MouraAinda não há avaliações
- Hermeuneutica Do SujeitoDocumento13 páginasHermeuneutica Do SujeitoEdi RuizAinda não há avaliações
- A Psicologia de PlatãoDocumento21 páginasA Psicologia de PlatãoRafael Gomes0% (1)
- Horkheimer e BergsonDocumento20 páginasHorkheimer e BergsonAndré Paes Leme100% (1)
- Frege e A Crítica Ao PsicologismoDocumento9 páginasFrege e A Crítica Ao PsicologismoThiago de SouzaAinda não há avaliações
- Estetica Hegel 1Documento5 páginasEstetica Hegel 1Ana Paula AlcanforAinda não há avaliações
- Transição Do Mito A FilosofiaDocumento24 páginasTransição Do Mito A FilosofiaMarina TostesAinda não há avaliações
- O Vermelho e o Negro, de StendhalDocumento1 páginaO Vermelho e o Negro, de StendhalEsther Alcântara100% (2)
- Depuração DialéticaDocumento2 páginasDepuração DialéticaCaio CardosoAinda não há avaliações
- Introducao A Filosofia PDFDocumento45 páginasIntroducao A Filosofia PDFFabíola Salvador100% (5)
- ZetologiaDocumento6 páginasZetologiaSerennaCTartiniAinda não há avaliações
- Naturezas, Gyula Klima - O Problema Dos Universais (POR) ( )Documento42 páginasNaturezas, Gyula Klima - O Problema Dos Universais (POR) ( )budinha007Ainda não há avaliações
- Curso Hegel - IntegralDocumento286 páginasCurso Hegel - Integralluabela_Ainda não há avaliações
- O Misticismo de Henri Bergson - Marcilene Aparecida SeverinoDocumento6 páginasO Misticismo de Henri Bergson - Marcilene Aparecida SeverinoTiago Nunes CastilhoAinda não há avaliações
- Lima VazDocumento14 páginasLima VazMarcos MayelaAinda não há avaliações
- Scheler Max Dieferenca Entre Homem e AnimalDocumento22 páginasScheler Max Dieferenca Entre Homem e AnimalJuan Juan50% (2)
- Resumo - Os Setes Saberes Necessários À Educação Do Futuro - Morin, EDocumento3 páginasResumo - Os Setes Saberes Necessários À Educação Do Futuro - Morin, EWilson PaulinoAinda não há avaliações
- DualismoDocumento7 páginasDualismoandreza_mendonca88Ainda não há avaliações
- As Revoluções Como Mudanças Na Concepção Do MundoDocumento3 páginasAs Revoluções Como Mudanças Na Concepção Do MundoBruno GomesAinda não há avaliações
- Suma TeológicaDocumento20 páginasSuma TeológicaGuilherme Messias Pereira LimaAinda não há avaliações
- COSSUTA - Elementos para A Leitura Dos Textos Filosóficos - Cap 2Documento28 páginasCOSSUTA - Elementos para A Leitura Dos Textos Filosóficos - Cap 2AGNALDO FERREIRA DE SOUSAAinda não há avaliações
- CASSIRER,+Ernst+ +Ensaio+Sobre+o+Homem.+Introdução+a+Uma+Filosofia+Da+Cultura+HumanaDocumento188 páginasCASSIRER,+Ernst+ +Ensaio+Sobre+o+Homem.+Introdução+a+Uma+Filosofia+Da+Cultura+Humanafzcq6yx2gq100% (1)
- Filosofia e Cristianismo1Documento10 páginasFilosofia e Cristianismo1Junior FernandesAinda não há avaliações
- Ser e Conhecer Por Olavo de CarvalhoDocumento6 páginasSer e Conhecer Por Olavo de CarvalhoSandro BoschettiAinda não há avaliações
- Formação Da Pessoa e Caminho Humano - Edith Stein e Martin BuberDocumento10 páginasFormação Da Pessoa e Caminho Humano - Edith Stein e Martin BuberRone SantosAinda não há avaliações
- Paul Ricoeur - PUCDocumento37 páginasPaul Ricoeur - PUCAlcides Bardela FilhoAinda não há avaliações
- Teoria Das Quatro Causas de Aristóteles (Explicação Completa)Documento9 páginasTeoria Das Quatro Causas de Aristóteles (Explicação Completa)paulo ricardoAinda não há avaliações
- O ser e a linguagem em Drummond: uma leitura hermenêutica da poesiaNo EverandO ser e a linguagem em Drummond: uma leitura hermenêutica da poesiaAinda não há avaliações
- Karol Wojtyla, um Excursus para uma Antropologia Integral – Antropologia e Contexto AtualNo EverandKarol Wojtyla, um Excursus para uma Antropologia Integral – Antropologia e Contexto AtualAinda não há avaliações
- Ensaios de Ralph Waldo Emerson - Poesia e imaginaçãoNo EverandEnsaios de Ralph Waldo Emerson - Poesia e imaginaçãoAinda não há avaliações
- Literatura E Pensamento CientíficoNo EverandLiteratura E Pensamento CientíficoAinda não há avaliações
- AranhasDocumento25 páginasAranhasmoninha555Ainda não há avaliações
- Direito Penal Parte Especial Oab PDFDocumento180 páginasDireito Penal Parte Especial Oab PDFmoninha555Ainda não há avaliações
- IOB - Direito Do Trabalho PDFDocumento96 páginasIOB - Direito Do Trabalho PDFmoninha555Ainda não há avaliações
- Oab Direito Do Consumidor PDFDocumento70 páginasOab Direito Do Consumidor PDFmoninha555Ainda não há avaliações
- Apostila 1Documento15 páginasApostila 1moninha555Ainda não há avaliações
- Garfield BookDocumento9 páginasGarfield Bookmoninha555100% (1)
- Apostila Filosofia 1 Ano 2 Bimestre AlunoDocumento24 páginasApostila Filosofia 1 Ano 2 Bimestre AlunoTricia Carnevale100% (2)
- Intercultura e EducaçãoDocumento178 páginasIntercultura e EducaçãoBruna Carolini100% (1)
- Atividade 1 - Fsce - Formação Sociocultural e Ética II - 52-2024Documento9 páginasAtividade 1 - Fsce - Formação Sociocultural e Ética II - 52-2024admcavaliniassessoriaAinda não há avaliações
- E Book Disciplina 5 Politica Educacao Permanente e Popular em Saude 1 1662464100Documento49 páginasE Book Disciplina 5 Politica Educacao Permanente e Popular em Saude 1 1662464100Samantha GrassiAinda não há avaliações
- Sniffy Vai À EscolaDocumento6 páginasSniffy Vai À EscolaCris LinoAinda não há avaliações
- A Concepção de Fé e Razão em Santo Tomás de AquinoDocumento6 páginasA Concepção de Fé e Razão em Santo Tomás de AquinoElayne OliveiraAinda não há avaliações
- FIGUEIREDO, Nice Menezes De. Textos Avançados em Referência e Informação.Documento121 páginasFIGUEIREDO, Nice Menezes De. Textos Avançados em Referência e Informação.Nádia HelenaAinda não há avaliações
- Planejamento Anual de Matemática 5 Ano Do Fundamental de Acordo Com A BNCC 2020Documento16 páginasPlanejamento Anual de Matemática 5 Ano Do Fundamental de Acordo Com A BNCC 2020Alex Bruno Almeida da SilvaAinda não há avaliações
- A Geografia Cultural e o Turismo - Reflexões e AnáliseDocumento15 páginasA Geografia Cultural e o Turismo - Reflexões e AnáliseLeandro BaptistaAinda não há avaliações
- Edgar Morin, A Dailogia de Um Sapiens-DemensDocumento4 páginasEdgar Morin, A Dailogia de Um Sapiens-DemensLuan SanchoAinda não há avaliações
- A Aula de Filosofia Como Oficina de CriaçãoDocumento18 páginasA Aula de Filosofia Como Oficina de CriaçãoalexonAinda não há avaliações
- Conceitos Basicos CabalaDocumento115 páginasConceitos Basicos CabalaLucas Gatto de MeloAinda não há avaliações
- 4 Grupos de Modos Do SerDocumento14 páginas4 Grupos de Modos Do SerJoão Pedro BoquimpaniAinda não há avaliações
- Joao Formosinho Caderno 8Documento41 páginasJoao Formosinho Caderno 8Rodrigo Eberhart Musaio SommaAinda não há avaliações
- Ebook Dna IIIDocumento303 páginasEbook Dna IIIJosimar Tomaz de BarrosAinda não há avaliações
- Filosofia 1ANO 1BDocumento12 páginasFilosofia 1ANO 1BHeráclito Luiz MaiaAinda não há avaliações
- A Arte de Viver em PazDocumento174 páginasA Arte de Viver em PazCarlos Alberto Baptista100% (2)
- Vou Ministrar A Palavra, e Agor - Cristiano ArcoverdeDocumento121 páginasVou Ministrar A Palavra, e Agor - Cristiano ArcoverdeKelli RonciAinda não há avaliações
- RESUMO FILOSOFIA DO DIREITO Passei DiretoDocumento11 páginasRESUMO FILOSOFIA DO DIREITO Passei DiretoEdenir MeaurioAinda não há avaliações
- Ana Lúcia ValenteDocumento8 páginasAna Lúcia ValentejoaninhacamposAinda não há avaliações
- Aula Sobre Estudar e AprenderDocumento18 páginasAula Sobre Estudar e AprenderMaxmílian CostaAinda não há avaliações
- Laura Devesa - 140327005 Ciências EmpresariaisDocumento67 páginasLaura Devesa - 140327005 Ciências EmpresariaisAyrk ZamiskeAinda não há avaliações
- Gérard VergnaudDocumento4 páginasGérard VergnaudPri SouzaAinda não há avaliações
- As Bordas Do Tempo 2. A Lagoa Do PeixeDocumento5 páginasAs Bordas Do Tempo 2. A Lagoa Do PeixeFernando fuãoAinda não há avaliações
- Estética em AristótelesDocumento14 páginasEstética em AristótelesJorge SayãoAinda não há avaliações
- Programa Da Disciplina Psicanálise e Educação - Carlos RomeroDocumento2 páginasPrograma Da Disciplina Psicanálise e Educação - Carlos RomeroMartha Santos LimaAinda não há avaliações
- A Bíblia Demonica, Por MagnusDocumento80 páginasA Bíblia Demonica, Por MagnusRaziel Angel100% (1)