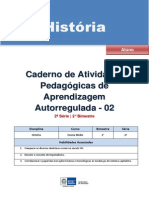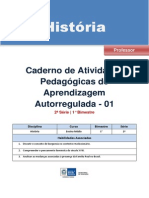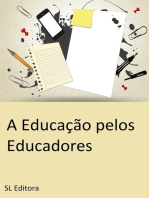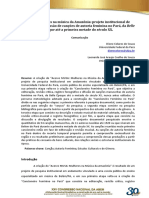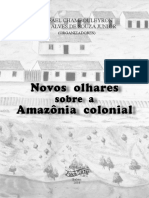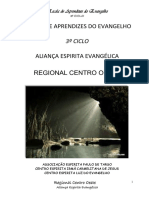Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizaçõesCandau 2 Didática 2000
Candau 2 Didática 2000
Enviado por
Lucien Sampaio DinizDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você também pode gostar
- GOODSON, I. A Construção Social Do CurrículoDocumento103 páginasGOODSON, I. A Construção Social Do CurrículoCarolina Penafiel de Queiróz100% (1)
- Currículos e programas no BrasilNo EverandCurrículos e programas no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Sociologia 12Documento64 páginasSociologia 12Vanda Sirgado100% (11)
- Livro 1 - Talmud Babilônico Tratado Shabat LDocumento398 páginasLivro 1 - Talmud Babilônico Tratado Shabat LSid Xavier Do Nascimento75% (4)
- Apostila Historia 9 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento21 páginasApostila Historia 9 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale86% (7)
- Economia C 12Documento43 páginasEconomia C 12Gabriel2010RI0% (2)
- Escola e CurriculoDocumento80 páginasEscola e Curriculotrick2Ainda não há avaliações
- Currículo, Conhecimento e Cultura Antonio FlavioDocumento35 páginasCurrículo, Conhecimento e Cultura Antonio FlavioJéssica HuangAinda não há avaliações
- O Efeito de RealDocumento4 páginasO Efeito de RealDani Rocha67% (3)
- ILB - Curso Ética e Administração Pública - Exercícios de Fixação - Módulo IIDocumento10 páginasILB - Curso Ética e Administração Pública - Exercícios de Fixação - Módulo IIMaylaAinda não há avaliações
- Relatório Final Da I Conferência Interestadual de Saúde Mental Do Submédio São FranciscoDocumento39 páginasRelatório Final Da I Conferência Interestadual de Saúde Mental Do Submédio São FranciscoPaulo Roberto Marinho MeiraAinda não há avaliações
- 5 (OK) Vera Maria Candau - A Didática HojeDocumento11 páginas5 (OK) Vera Maria Candau - A Didática HojeEduardo Loureiro JrAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 2 Bimestre AlunoDocumento29 páginasApostila Historia 2 Ano 2 Bimestre AlunoTricia Carnevale100% (1)
- Curriculo, Cultura e SociedadeDocumento15 páginasCurriculo, Cultura e SociedadeElisângela Duarte Barbosa100% (2)
- Vera Candau - Educação e Inclusão Social Versão FinalDocumento12 páginasVera Candau - Educação e Inclusão Social Versão FinalDaniel RubioAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento28 páginasApostila Historia 2 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale67% (9)
- Planejamento e Avaliação em Projetos de Educação AmbientalDocumento157 páginasPlanejamento e Avaliação em Projetos de Educação AmbientalFelipe Moraes Dos SantosAinda não há avaliações
- Profissão DocenteDocumento45 páginasProfissão DocenteIsrael SilvaAinda não há avaliações
- Construção Social Do CurrículoDocumento19 páginasConstrução Social Do CurrículoCeli MilagresAinda não há avaliações
- A Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelDocumento33 páginasA Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelGleyson ViegasAinda não há avaliações
- Didática: Alex Ribeiro NunesDocumento14 páginasDidática: Alex Ribeiro NunesMylena ProcópioAinda não há avaliações
- Evolucao Educacao ADistanciaDocumento8 páginasEvolucao Educacao ADistanciamatheusth.devAinda não há avaliações
- Caderno Do Professor 8 Série 9º Ano EF Volume 1Documento82 páginasCaderno Do Professor 8 Série 9º Ano EF Volume 1Cristiano Tavares100% (9)
- Apostila Historia 1 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento28 páginasApostila Historia 1 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale75% (4)
- 11 Metodologia Ensino SuperiorDocumento46 páginas11 Metodologia Ensino SuperiorVicente AurinoAinda não há avaliações
- Currículo em Salto para o Futuro - TV EscolaDocumento35 páginasCurrículo em Salto para o Futuro - TV EscolaMarcelo VicentinAinda não há avaliações
- Apostila DidáticaDocumento81 páginasApostila DidáticaJaque LimaAinda não há avaliações
- PROJETO EDUCATIVO 2017 2020 - Versão Final - Jul - 19Documento31 páginasPROJETO EDUCATIVO 2017 2020 - Versão Final - Jul - 19Sofia AzevedoAinda não há avaliações
- Sociologia12 130720084839 Phpapp01Documento54 páginasSociologia12 130720084839 Phpapp01nanacardozoAinda não há avaliações
- 1 - IntroduçãoDocumento103 páginas1 - Introduçãojanine poloAinda não há avaliações
- Apple 2001 Educacao e PoderDocumento274 páginasApple 2001 Educacao e PoderEdgar Miranda100% (9)
- UNESCO - Roteiro para A Educacao ArtisticaDocumento34 páginasUNESCO - Roteiro para A Educacao ArtisticaAna PimentelAinda não há avaliações
- Microsoft Word - R1240-1Documento13 páginasMicrosoft Word - R1240-1debora menonAinda não há avaliações
- Desafios Na Construção Do Currículo Do ProejaDocumento18 páginasDesafios Na Construção Do Currículo Do ProejaRobson Sanches Fernandes LopesAinda não há avaliações
- Projeto Visita Ao InhotimDocumento4 páginasProjeto Visita Ao InhotimCleidianelemesAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 1 Bimestre ProfessorDocumento24 páginasApostila Historia 2 Ano 1 Bimestre ProfessorTricia Carnevale88% (16)
- Teoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990No EverandTeoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990Ainda não há avaliações
- Aula 05Documento25 páginasAula 05marcelo santana figueiredoAinda não há avaliações
- Ensino de História e Patrimônio CulturalDocumento39 páginasEnsino de História e Patrimônio CulturalUlisses De Deus GomesAinda não há avaliações
- Tardif BorgesDocumento16 páginasTardif BorgesLaricssiaAinda não há avaliações
- A Luta Pelo Ensino Livre - A Educação Na AITDocumento137 páginasA Luta Pelo Ensino Livre - A Educação Na AITOlú LsrAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Das Ciências Da Educação de Gui AvanziniDocumento10 páginasO Desenvolvimento Das Ciências Da Educação de Gui Avanziniinvencaodemorel100% (1)
- 1 PBDocumento21 páginas1 PBAdilson RodriguesAinda não há avaliações
- A Psicologia Educacional e o Sistema de Educação em Cuba - Es.ptDocumento10 páginasA Psicologia Educacional e o Sistema de Educação em Cuba - Es.ptAngel LAinda não há avaliações
- Apostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorDocumento29 páginasApostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorTricia Carnevale88% (8)
- Alfabetização Científica e A Formação Do CidadãoDocumento32 páginasAlfabetização Científica e A Formação Do CidadãoJucimar Antunes CabralAinda não há avaliações
- O Adulto em Situações de Vida - O Desenho Curricular Na Educação e Formação de AdultosDocumento55 páginasO Adulto em Situações de Vida - O Desenho Curricular Na Educação e Formação de AdultosQuitéria SilvaAinda não há avaliações
- ROTEIRO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA - A CIDADANIA NA - PELA MATEMÁTICA. Paulo Apolinário Nogueira Eline Das Flores Victer Cristina NovikoffDocumento50 páginasROTEIRO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA - A CIDADANIA NA - PELA MATEMÁTICA. Paulo Apolinário Nogueira Eline Das Flores Victer Cristina NovikoffPaulo Apolinário NogueiraAinda não há avaliações
- LivroDocumento150 páginasLivroelencrisolivAinda não há avaliações
- FASICULO de D.CDocumento33 páginasFASICULO de D.CAbraão Cuanda Mbolonga GomesAinda não há avaliações
- Fundamentos Educação Ambiental Popular Marcos ReigotaDocumento6 páginasFundamentos Educação Ambiental Popular Marcos ReigotaLeonardo DiasAinda não há avaliações
- DidáticaDocumento115 páginasDidáticaSidnéia Da Costa LesakAinda não há avaliações
- SEE Sociologia 1 86Documento81 páginasSEE Sociologia 1 86Lourdes HTAinda não há avaliações
- Criatividade e Inovacao Na EducacaoDocumento268 páginasCriatividade e Inovacao Na EducacaoElisa PivettaAinda não há avaliações
- Plano de Trabalho - Estágio II - E.MDocumento12 páginasPlano de Trabalho - Estágio II - E.MTere'sAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino SuperiorDocumento45 páginasMetodologia Do Ensino SuperiorAloizio Francisco do Nascimento JuniorAinda não há avaliações
- Sequência Didática Interdisciplinar sobre Educação Financeira como prática integradora no Ensino Médio IntegradoNo EverandSequência Didática Interdisciplinar sobre Educação Financeira como prática integradora no Ensino Médio IntegradoAinda não há avaliações
- A extensão universitária e a formação de docentes para o ensino de línguas: um estudo avaliativoNo EverandA extensão universitária e a formação de docentes para o ensino de línguas: um estudo avaliativoAinda não há avaliações
- Currículo: Políticas e práticasNo EverandCurrículo: Políticas e práticasNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Ensino de História e Programa São Paulo Faz Escola: processo formativo e prática docente na rede estadual paulista (2008-2019)No EverandEnsino de História e Programa São Paulo Faz Escola: processo formativo e prática docente na rede estadual paulista (2008-2019)Ainda não há avaliações
- O Que faz um "Bom" Professor de Português?No EverandO Que faz um "Bom" Professor de Português?Ainda não há avaliações
- A difusão global da produção e o conceito de imperialismoDocumento6 páginasA difusão global da produção e o conceito de imperialismoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Camuflando uma agenda de classeDocumento7 páginasCamuflando uma agenda de classeVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Os Eunucos Unidos Da EuropaDocumento11 páginasOs Eunucos Unidos Da EuropaVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Vítimas de I Bullying - I e Prisioneiros Dos "Valores"Documento11 páginasVítimas de I Bullying - I e Prisioneiros Dos "Valores"Vinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Blackrock Toma o Controle Dos Estados e Dos Bancos CentraisDocumento8 páginasA Blackrock Toma o Controle Dos Estados e Dos Bancos CentraisVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Fetichismo Da Taxa de Crescimento Do PIBDocumento7 páginasFetichismo Da Taxa de Crescimento Do PIBVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- O Colapso de Bancos Dos EUADocumento6 páginasO Colapso de Bancos Dos EUAVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Criação Destrutiva Ou Risco MoralDocumento7 páginasCriação Destrutiva Ou Risco MoralVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Vacuidade Do Argumento Do Livre ComércioDocumento7 páginasA Vacuidade Do Argumento Do Livre ComércioVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Relatório Na Véspera Da 9 Conferência de Revisão Do CBWCDocumento14 páginasRelatório Na Véspera Da 9 Conferência de Revisão Do CBWCVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A OPEP+ e A Luta Do Capitalismo Contra A InflaçãoDocumento6 páginasA OPEP+ e A Luta Do Capitalismo Contra A InflaçãoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Esperando o Fim Do MundoDocumento9 páginasEsperando o Fim Do MundoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Uma Breve História Dos EmpréstimosDocumento9 páginasUma Breve História Dos EmpréstimosVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Sobre Engels e - I - A Guerra Camponesa Na Alemanha - IDocumento7 páginasSobre Engels e - I - A Guerra Camponesa Na Alemanha - IVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Crise Brasileira,..Documento13 páginasReflexões Sobre A Crise Brasileira,..Vinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Ordem Mundial Tripartida e A Guerra Híbrida MundialDocumento18 páginasA Ordem Mundial Tripartida e A Guerra Híbrida MundialVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- 797 4531 1 PBDocumento12 páginas797 4531 1 PBportoppAinda não há avaliações
- Horario Bacharelado 2024.1Documento4 páginasHorario Bacharelado 2024.1jujucamiraAinda não há avaliações
- Arqueologia Da ReligiaoDocumento124 páginasArqueologia Da ReligiaoAna100% (1)
- Memorial CompletoDocumento60 páginasMemorial CompletoAAmandaAinda não há avaliações
- A Estilização MedievalDocumento9 páginasA Estilização MedievalLucianoAinda não há avaliações
- Amigos EspirituaisDocumento20 páginasAmigos Espirituaisanarcos33Ainda não há avaliações
- 02 - Plano Aula HomiléticaDocumento11 páginas02 - Plano Aula HomiléticaPr Márcio BatistaAinda não há avaliações
- Re 82214 dm11 Teste Diferenciacao4Documento6 páginasRe 82214 dm11 Teste Diferenciacao439974Ainda não há avaliações
- Texto Sobre Plágio PDFDocumento2 páginasTexto Sobre Plágio PDFViviane RaposoAinda não há avaliações
- Inclusc383o Processos Escolares e PDFDocumento248 páginasInclusc383o Processos Escolares e PDFGiselle Lemos Schmidel KautskyAinda não há avaliações
- Tavares (El - Brujo) - A Idéia Dos SovietesDocumento2 páginasTavares (El - Brujo) - A Idéia Dos Sovietestavaresinspetor6953Ainda não há avaliações
- Planejamento Educação Física 1° AnosDocumento1 páginaPlanejamento Educação Física 1° Anosbruno barbosaAinda não há avaliações
- Sérgio Affonso - Proff TênisDocumento4 páginasSérgio Affonso - Proff TênissergioaffonsoAinda não há avaliações
- Indisciplinar 04Documento186 páginasIndisciplinar 04Thiago Fernandes100% (1)
- Prova Impressionismo 2 Â A CorDocumento2 páginasProva Impressionismo 2 Â A CorAdrianaViannaAinda não há avaliações
- Sobre Arte e MagiaDocumento117 páginasSobre Arte e MagiaRafael Bedoia100% (2)
- Iamamiwhoami: Videoarte, Música Eletrônica e Narrativa Multimídia Convergem Numa Estratégia de Comunicação ExperimentalDocumento85 páginasIamamiwhoami: Videoarte, Música Eletrônica e Narrativa Multimídia Convergem Numa Estratégia de Comunicação ExperimentalFelipe DárioAinda não há avaliações
- Categoria Da Objetividade PDFDocumento3 páginasCategoria Da Objetividade PDFFilipe AraújoAinda não há avaliações
- FCH ANDREYEVA O Anti-Stalinismo, Cavalo de Tróia No Movimento Comunista Da Segunda Mitade Do Século XXDocumento3 páginasFCH ANDREYEVA O Anti-Stalinismo, Cavalo de Tróia No Movimento Comunista Da Segunda Mitade Do Século XXAgustin EmilianoAinda não há avaliações
- Suelen Simião - Dissertação - Medianeras No Cinema e Na Cidade PDFDocumento208 páginasSuelen Simião - Dissertação - Medianeras No Cinema e Na Cidade PDFSuelen CaldasAinda não há avaliações
- A Contação de História Como Resposta de Intervenção PedagógicaDocumento15 páginasA Contação de História Como Resposta de Intervenção PedagógicaAlice Maria de Jesus100% (1)
- ADocumento12 páginasAdescarregarAinda não há avaliações
- 9a Aula - Reinaldo Barroso JRDocumento21 páginas9a Aula - Reinaldo Barroso JRCarla SousaAinda não há avaliações
- Apostila Marketing Pessoal SENAIDocumento11 páginasApostila Marketing Pessoal SENAIBárbara EdnaAinda não há avaliações
- Ciclo 3 Iniciação Espirita DirigenteDocumento98 páginasCiclo 3 Iniciação Espirita DirigenteMárcio Henrique Lima da SilvaAinda não há avaliações
- RAMIREZ, M. C. Táticas para Viver Da Adversidade. O Conceitualismo Da América LatinaDocumento12 páginasRAMIREZ, M. C. Táticas para Viver Da Adversidade. O Conceitualismo Da América LatinaCamila VitorioAinda não há avaliações
Candau 2 Didática 2000
Candau 2 Didática 2000
Enviado por
Lucien Sampaio Diniz0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações7 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações7 páginasCandau 2 Didática 2000
Candau 2 Didática 2000
Enviado por
Lucien Sampaio DinizDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Fazer download em pdf ou txt
Você está na página 1de 7
<~ OU:W(fST-n . ' r i " . 'S""'rw"'g?t'PC i.mf'f~~'dn_, ...,..~ .. ,~.,.
_~
C
, . , 1./\ (I '
'Il)\i I;';/
jQ /~o.l;;A'C c. J
i) ~)<." A ';/),9-vI
~/ ,~""" t
I ,) ,
/
f
. 1 r/ ,
~~A.A-t?LI'AC~>
.;..{/,.:~(.t" CJ . l2 M 7
r'/ .. {.. ' , C . ( CI Ui17
I
l j
II
I
1 1 ,
[ ,
I
11: :
II
.?t(
'))O/'f\. Wvv
( ; ,
Mes a 20 an o s d e En d i p e
A d i d t i c a h o j e: u m a ag en d a d e t r ab al h o
Ver a Mar i a Can d au *
Os Encontros Nacionais de Didtica e Prtica de Ensino -
ENDI PEs-, ao l ongo deste quase 20 anos, sempre tiveram uma
caracterstica fundamental , assinal ada expl icitamente desde o primeiro
encontro, intitul ado a Didtica em Questo: ser um ponto de chegada
e tambm um ponto de partida. Um ponto de chegada por
propiciarem um espao de social izao e dil ogo de refl exes,
experincias epesquisas real izadas, de confronto de posies ebuscas
e, principal mente, de bal ano crtico do caminho percorrido.
No entanto, tambm a dimenso prospectiva sempre esteve
presente. Os ENDI PEs tm sido extremamente estimul antes para o
desenvol vimento da rea. Temas, enfoques, metodol ogias, novas
questes, inquietudes, intuies, caminhos e propostas emergiram
do terreno fertil izado pel as diferentes atividades real izadas e
promovidas por cada um dos encontros.
Vrios tm sido os estudos real izados ao l ongo dos l timos
anos que desenvol veram anl ises da produo desses fruns em
diferentes perodos de tempo ou dedeterminados ENDI PEs, muitas
vezes incorporando tambm a estas anl ises as contribuies dos
textos apresentados em diferentes grupos de trabal ho da ANPEd,
especial mente no grupo de Didtica.
Nesta breve comunicao, tendo presente estes trabal hos, me
proponho tentar real izar um exerccio mais de carter intuitivo que
anal tico, de carter prospectivo, tentando responder, mesmo que
sej aprovisoriamente, seguinte questo: ~omo formul ar : : '~~~E..<ia
sl ~trabal ho para os prximos anos, para ns .9!: : !enasdedicamos
DidI tc~?"-Q~i;--seri;;;; ~~-se~-mp~~s f~d;~~? Est~
~;~~C i~i qu~; ;i~-;: pi~~~-~~teter-~ m"pa: p~l e;ri~~~;-d~~d;discusso
': Ii
"
I 1
1 " 1
! :
I
'."11 1
I~
I
I"
,I
~
~;
~III !
~ li,
* Professora da PUC-Rio.
~iIiiiii .-. 'iI l i!J ~ /' kt M'Tt s r r r t r fSt : Mr fi f" zh : .'" t K s t ti mi d " r n " t t t r ;m C'" . .. __'~~~Ql i I .r ' . _ _ _ _ _ _ . ...> .: .u : . . _
150 Didtica, currculo e saberes escolares
151 Adidtica hoje: uma agenda de trabalho
entre professores e pesquisadores interessados nesta temtica, sem
nenhuma outra pretenso. Trata-se simpl esmente de col ocar al gumas
cartas na mesa para que possam ser discutidas, contestadas e
confrontadas com outras.
Na Amrica Latina, para muitos cientistas sociais, o horizonte de
futuro se revel a particul armente sombrio se as pol ticas neol iberais
continuarem a atuar de modo to contundente no continente enos
diversos mbitos da vida social .
Certamente os anos 90 tambm esto marcados por uma forte
val orizao da educao, por mais contraditrios que sej am os
discursos configuradores das pol ticas educacionais, epor um esforo
sistemtico de reformas, de modo especial de reformas curricul ares,
nos diferentes pases l atino-americanos. importante assinal ar que,
j unto com amatriz oficial das reformas educativas que, com pequenas
variantes, segue o mesmo esquema das orientaes dos organismos
internacionais nos diferentes pases do continente, desenvol veram-
setambm no perodo reformas baseadas em outras matrizes pol tico-
pedaggicas, no podendo-se portanto ter uma viso reducionista,
uniforme epadronizada das experincias real izadas.
Este ano, por ocasio da preparao do Frttm M undial de
Educao, real izado em Dakar do 24 ao 28 de abril , tendo por obj etivo
anal isar os resul tados da aval iao da dcada de Educaopara Todos e
aprovar uma nova decl arao eum novo M arcodeAo, que estendero
seu prazo at o ano 2015, um grupo de educadores e intel ectuais
l atino-americanos el aborou um "pronunciamento" com o obj etivo
de social izar suas preocupaes e refl exes. Partindo da afirmao
de que Nossos povos merecem mais c melhor educaoede que "as pol ticas
recomendadas e adotadas nos l timos anos no esto
correspondendo satisfatoriamente s expectativas da popul ao
l atino-americana, s real idades do sistema escol ar edos docentes em
particul ar e no obtiveram os resul tados esperados"(p. 3), prope
que sej am feitas retificaes no sentido de que as pol ticas educativas
adotem concepes que no se reduzam a questes de cobertura e
de eficincia nem encarem os sistemas de ensino como peas aservio
da economia e sim seinspirem em val ores hum~~_~f~D: ~_J : ?: l .~.!.11-~'', __
enfatizem o pl ano tico, anecessidad~-ae-~ar recursos eesforos
que favoream a qual idade da educao para todos, especial mente
os grupos excl udos, reconheam adiversidade cul tural erecuperem
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ~_ .._ .._ _ ..._ _ .~_ , ...R ._
um~vis~?l l l ul tiset()~i~Lp_~: r.~<: : n.f: ~?~~~os PEo~1C: l ?a~,,(O!.dl ~~atiY9~ -.Na
l tima parte, o documento faz uma especial chamada a, no contexto
Um p o n t o d e p ar t i d a: u m n o v o c en r i o
Quando real izamos o primeiro encontro, no incio dos anos
80, o fazamos em um contexto de forte compromisso com a
construo dos caminhos de redemocratizao da sociedade
brasil eira. Para todos ns esta era uma exigncia inil udvel : articul ar
os processos educacionais com as dinmicas de transformao e
recuperao do estado de direito no pas. A rea de educao passava
por um momento de grande mobil izao e ampl a produo
acadmica. Conscientes de que aeducao tinha um papel , l imitado
mas significativo, no processo sociopol tico e cul tural de afirmao
da democracia col ocamos nossos mel hores esforos na construo
de uma pedagogia e uma didtica em consonncia com esta
!
perspectiva. O nosso horizonte utpico era cl aro e um referente
fundamental para as pl urais refl exes e prticas desenvol vidas.
! Certamente a dcada dos 80 constituiu uma etapa fecunda e
mobil izadora de um pensamento pedaggico e didtico original e
diversificado, assim como de diferentes propostas, tanto a nvel de
sistemas educativos como de escol as e sal as de aul a.
Com adcada dos 90, emerge progressivamente outro cenrio:
gl obal izao, hegemonia neol iberal , ideol ogia do "fim da histria" e
do pensamento nico, deteriorao dos processos democrticos,
desenvol vimento denovas formas de excl uso edesigual dade, Estado
mnimo, crescente viol ncia urbana, transformao dos processos
produtivos, desemprego, afirmao da sociedade da informao, so
estes apenas al guns el ementos configuradores deste novo cenrio.
Diante del e, de suas contradies e ambigidades, a perpl exidade
grande, os caminhos incertos e a fal ta e cl areza em rel ao aos
possveis horizontes de futuro est cada vez mais presente no tecido
~;(l eia I , j unto com um descrdito crescente nas mediaes disponveis
1': \ 1 ': \ : \ construo do Estado, da esfera pbl ica e da democracia.
,,1 ': 1
-~r...,;J",_":,,.,~~!,,~,~ _;;~.,. ---.:.. "-,,
=rnT ' t '_ _ ~~_ _._
" ., ._ ,. ._ ..
_~" : __ ' "
152 Didtica, currcul oesaberes escol ares 153 Adidtica hoj e: umaagenda detrabal ho
atual de gl obal izao, trabal har questes rel ativas s identidades
l atino-americanas e aos val ores nel as presentes e participao da
sociedade, especial mente dos educadores, no s na execuo mas
tambm na formul ao e discusso das pol ticas educacionais.
neste novo cenrio que se situa nossa agenda de trabal ho.
No pretendemos nestas refl exes aprofundarmos na \,
compl exidade do ps-modernismo nas suas diferentes verses. t
Gostaramos unicamente de sal ientar que nos situamos entre aquel es I
que o encaram como, ao mesmo tempo, uma forma de crtica cul tural !
e em referncia a um conj unto de condies sociais, cul turais e i
econmicas que caracterizam o atual estgio de desenv. ol vimento I
das sociedades capital istas, configuradas por uma gl obal izao
excl udente euma acel erada informatizao das rel aes sociais e da
produo do conhecimento.
Por outro l ado, partimos do pressuposto de que a crtica ps-
moderna oferece el ementos importantes para serepensar apedagogia
e a didtica na perspectiva crtica, no contexto de sociedades cada
vez mais marcadas por condies de vida que trazem as marcas da
nossa contemporaneidade. Portanto, setrata de trabal har aspossveis
articul aes ede, sem negar o horizonte emancipador da perspectiva
crtica, incorporar novas questes que emergem da perspectiva ps-
moderna, como as rel ativas subj etividade, diferena, construo
de identidades, diversidade cul tural , rel ao saber-poder, s
questes tnicas, de gnero e sexual idade etc. A categoria cul tura ,
sem dvida, central nesta perspectiva.
Segundo Giroux (1993) "o ps-modernismo oferece aos
educadores uma srie de importantes insights que podem ser
adotados como parte de uma teoria mais ampl a de escol arizao e
de pedagogia crtica" (p. 63). Suas preocupaes com adiferena e
a subj etividade do el ementos para perguntarmos pel as bases que
sustentam o ideal moderno de uma vida boa e humana, l evantam
questes sobre aconstruo de narrativas eseu significado epapel
regul ador, questionam as formas tradicionais de poder, fornecem
urna variedade de discursos que permitem questionar adependncia
do modernismo em rel ao ateorias total izantes baseadas no desej o
de certezas e de absol utos, propem um discurso capaz de
incorporar aimportncia do contingente; do especfico, do histrico
como aspectos centrais de uma pedagogia l ibertadora, entre outras
contribuies. Tal vez sepossa afirmar que aprincipal contribuio
da perspectiva ps-moderna educao sej a uma viso mais rica,
compl exa eabrangente das rel aes entre cul tura, conhecimento e
Um en fo q u e: en fr en t ar -s e c o m a c r t i c a p s -m o d er n a
A construo da didtica apartir dos incios dos anos 80 esteve
fortemente marcada pel o que se chamou perspectiva critica,
transformadora ou progressista, por mais pol issmicas que estas
expresses sej am. Desenvol veu-se uma corrente de idias, enfoques,
inquietudes, propostas ebuscas pl urais eal gumas vezes em confronto,
mas dentro de uma perspectiva comum. I deol ogia, poder, currcul o
ocul to, al ienao, conscientizao, reproduo, contestao do sistema
capital ista, cl asses sociais, emancipao, resistncia, rel ao teoria-
prtica, educao como prtica social , o educador como agente de
transformao, articul ao do processo educativo com a real idade,
so preocupaes e categorias que perpassaram a produo
dominante na rea. Certamente este universo pode ser identificado
como caracterstico da modernidade, enquanto enfatiza acapacidade
dos indivduos situarem-se criticamente diante da real idade, exercerem
sua responsabil idade social e construrem o mundo e a histria a
partir de um horizonte utpico baseado na l iberdade, na igual dade e
na racional idade.
Para muitos de ns que mergul hamos com muito entusiasmo
nestas guas, no fcil navegar em outras, nas turvas eextremamente
vol teis da chamada crtica ps-moderna, por instigante que sej a
penetrar neste universo que engl oba pl ural idade de abordagens e
enfoques:
Embora o ps-modernismo tenha infl uenciado uma gama ampl a de
campos - incl uindo amsica, a fico, o cinema, o teatro, aarquitetura,
a crtica l iterria, a antropol ogia, a sociol ogia e as artes visuais - no
existe nenhum significado consensual para o termo. Em consonncia
com amul tipl icidade da diferena que cel ebra, o ps-modernismo est
no apenas suj eito aapropriaes ideol gicas diferentes, mas tambm a
uma ampl a gama de interpretaes (GI ROUX, 1993, p. 43-44).
! ~: 111
II
,I,
1
11
~II
Ili
l
,
I
1
1
1
1
1 1;1
11 ~~
I1
1
1
I
1
II1
I
li
il'i
1
1
I
1
" 1 1
11,1
1111
1111
nlll~
1 1 1
1
1I 1
1
111
1
I~!
11
1
ill
I~I
I1
I
1 1 I
II
>C . . !!_ ," . ; (.-.-
" .f $,. .';.r., ~"------ __ ....:.... _
: ?.. "'"-... k: ....~~;.,,_.: ~ ..,\....... :
154
Didtica, currcul o e saberes escol ares
poder. No entanto, esta afirmao no quer dizer que no sej amos
conscientes dos l imites da viso ps-moderna, particul armente no
pl ano epistemol gico e no nvel da radical izao de processos
democrticos. No entanto, segundo o mesmo autor j mencionado,
"para os educadores, apreocupao modernista com suj eitos l cidos,
quando combinada com anfase ps-modernista na diversidade, na
contingncia e no pl ural ismo cul tural aponta para o obj etivo de se
educar os estudantes para um tipo de cidadania que no faa uma
separao entre direitos abstratos edomnio do cotidiano eno defina
a comunidade como prtica l egitimadora e unificadora de uma
narrativa histrica e cul tural unidimensional " (p. 65).
Muitas so as questes que a pedagogia e a didtica esto
chamadas a enfrentar ao navegar nas guas ps-modernas, tanto
no pl ano terico como das prticas educativas, e este um
componente da nossa agenda que sem dvida suscitar muito debate
e controvrsia.
Um desafio: romper fronteiras e articular saberes
O movimento que foi se estruturando a partir do primeiro
ENDI PE estava, num primeiro momento, cl aramente referido ao
mbito ensino e pesquisa em didtica. No entanto, a prpria
real idade foi l evando a que pouco a pouco fosse sendo ampl iada a
sua abrangncia, rompendo-se fronteiras edel imitaes com outras
reas do conhecimento, nunca bem definidas e cl aras ao l ongo de
toda ahistria da didtica.
De fato adidtica, desde os seus incios com Comnio, incl ua
um ampl o espectro de temas que no se reduziam aos aspectos
instrumentais do ensino. Seria interessante neste sentido recuperar a
histria da didtica. As articul aes com a fil osofia, a tica, a
sociol ogia, apol tica, aorganizao escol ar esto presentes desde as
primeiras formul aes. No entanto, especial mente apartir da viso
meramente instrumental da didtica, com a nfase na dimenso
tcnica do processo pedaggico, esta passou areduzir cada vez mais
a sua abrangncia e o seu horizonte de preocupaes.
A (re)construo da didtica nos l timos anos resgata eatual iza
a perspectiva de uma viso contextual izada e mul tidimensional do
A didtica hoj e: uma agenda de trabal ho
processo pedaggico. Passa ento a trabal har as questes inerentes
aos processos de ensino-aprendizagem articul ando as contribuies
de diferentes reas de conhecimento. Este movimento l evou muitas
vezes auma perda de especificidade, passando os cursos de didtica
a se l imitar a um el enco de temas de fato trabal hados por outras
"discipl inas", se assim podem ser categorizadas estas reas de
conhecimento chamadas de cincias da educao. Acreditamos que
hoj e esta etapa j foi superada e que a especificidade do seu obj eto
de estudo, o processo de ensino-aprendizagem, para uns, o trabal ho
docente, a prtica pedaggica, a aul a, para outros, cl aro em suas
diferentes formul aes, que se situam num horizonte de sentido
comum, assim como sua intencional idade orientada compreenso
einterveno nos processos pedaggicos. A publ icao organizada
por Marl i El iza de Andr e Maria Rita Ol iveira (1997), Alternativas
doEnsino de Didtica, evidencia cl aramente esta afirmao.
Portanto, hoj e o desafio , tendo presente a especificidade da
didtica, trabal har a articul ao com diferentes reas do
conhecimento. A evol uo dos ENDI PEs evidencia cl aramente este
processo. Hoj e el es seconfiguram como um frum onde especial istas
da rea de educao ereas afins interagem numa perspectiva mul ti
einterdiscipl inar para aprofundar nas questes daprtica pedaggica
eda formao de professores.
Por outro l ado, importante tambm compreender o
cruzamento de saberes que se d no cotidiano escol ar: o saber
docente, os saberes sociais de referncia e os saberes j construdos
pel os al unos. Como entender e trabal har esta rede de saberes do
ponto devista pedaggico outro ponto importante danossa agenda
de trabal ho.
Uma urgncia: favorecer ecossistemas educativos
O debate sobre as questes educacionais vem sofrendo um
progressivo estreitamento nos l timos anos, ficando em grande parte
reduzido aos processos de escol arizao, educao formal . No
entanto, a educao nas sociedades em que vivemos, compl exas,
contraditrias edesiguais, sereal iza em diferentes mbitos, instituies
e prticas sociais.
155
lil
1I
I
I I 1
,I
li!
li
!
1 \
1I
fi! ,.
'I,
J
II
I
I: i
'I
I,
~e1 t r - *?' i t ~ : nt f j j t r ' r - ' i *r M~~~, . , ~&~- ~~~~~~
156 A didtica hoj e: uma agenda de trabal ho 157 Didtica. currcul o e saberes escol ares
Umdos desafiosdomomento ampl iar, reconhecer efavorecer
distintos !oeus, ecossistemas educacionais, diferentes espaos de
produo da informao e do conhecimento, de criao e
reconhecimento deidentidades, prticas cul turaisesociais,decarter
presencial elou virtual , onde diversas l inguagens so trabal hadas e
pl ural idade desuj eitos interagem.
A produo da didtica tem privil egiado de modo quase
excl usivo a educao escol ar. No entanto, hoj e os processos
educativos se desenvol vem apartir de diferentes configuraes.
A pl ural idade deespaos, tempos el inguagens deveser no somente
reconhecida, como promovida. A educaonopode ser enquadrada
numa l gica nica. Neste sentido os professores e pesquisadores
estamos desafiados apensar adidticareferidaadiferentes contextos
scio-educativos. A educao distncia e o mundo virtual so
particul armente desafiantes nesta perspectiva para que no nos
l imitemos auma transposio que no incorpora aespecificidade
destas real idades nem a uma mera tecnol ogizao do ensino.
Trabal hos real izados nesta direo tm provocado novas questes
para adidtica.
demassa e, particul armente, dainformtica estrevol ucionando as
formas deconstruir conhecimento. E estas formas esto chamadas
asemul tipl icar nos prximos anos.
Por outro l ado, a cul tura escol ar est impregnada pel a
perspectiva do comum, doal unopadro, do "aqui todos sotratados
damesmaforma, todos soiguais". Emrecentes pesquisasquetemos
real izado emdiferentes escol as, pbl icas eparticul ares, constatamos,
uma vez mais, a recorrncia de um mesmo estil o de ensino,
organizao e dinmica da sal a de aul a. Escol as consideradas
progressistas ou tradicionais mantm o mesmo estil o frontal de
ensino. Por maisqueossintomas deinadequao apaream, al gumas
vezes de forma viol enta, a dificul dade de mudar o estil o de
escol arizao edeestruturao daprticapedaggica enorme. Faz
pouco tempo, uma diretora de uma reconhecida escol a de ensino
fundamental emdio dacidade do Rio deJ aneiro me perguntou o
que eu fariapara provocar uma mudana no estil o pedaggico da
escol a, pedindo-me quefosseal govivel eno demasiado compl exo
nem caro. Respondi simpl esmente que diriaaos professores epais
que, apartir doprximo ano, no haveriaquadro-negro - certamente
seria mais adequado usar aexpresso quadro-preto na escol a. El a
merespondeu, surpreendida, queisto eraimpossvel , queprovocaria
uma revol uo. No me parece que a ausncia do quadro-negro
necessariamente l eveaum estil o diferente do trabal ho docente. No
entanto, nel e est material izado simbol icamente todo um modo de
conceber a prtica pedaggica que necessrio desnatural izar e
desconstruir para que sepossa reinventar adidtica escol ar numa
perspectiva mul tidimensional , diversificada epl ural .
Um a ex i g n c i a: r ei n v en t ar a d i d t i c a es c o l ar
A escol a, tal como a conhecemos hoj e, uma construo
histrica recente. Na Amrica Latina os sistemas escol ares se
constituram praticamente neste scul o. A concepo deescol aque
se foi consol idando, apresenta-a como uma instituio orientada
fundamental mente a promover a apropriao do conhecimento
considerado social mente rel evante e a formao para a cidadania.
No entanto, hoj e sepode afirmar que, estasduas funes bsicas da
escol arizao esto emcrise, sej apel adificul dade daescol a de fato
asreal izar, sej apel aprpria concepo emque asprticas escol ares
se baseiam, que j no respondem s exigncias do momento
(CANDAU, 1999).
Nas sociedades atuais, marcadas pel ascondies ps-modernas
devida, o conhecimento fortemente val orizado masmuitas so as
formas de aceder a el e, no se podendo atribuir escol a a quase
excl usividade desta funo. O impacto dos meios de comunicao
Um a c o n d i o : ap o s t ar n a d i v er s i d ad e
A padronizao presente emgeral naorganizao enadinmica
pedaggica escol ares, assimcomo ocarter monocul tural dacul tura
escol ar estohoj efortemente questionados pel asdiferentes correntes
domul ticul tural ismo, assimcomo por todos osautores quetrabal ham
naperspectiva dapedagogia das diferenas. Segundo estas correntes
as prticas educativas deveriam estar marcadas pel a dinamicidade,
fl exibil idade, diversificao, diferentes l eituras de um mesmo
. _ ----...l
11
1
I 1
I 1
I
1 1 '
II
[ :
J
i
I
I
r
~
II
I
: .
II
II
I
I
I,
i
I
I
~I
~
--------------------------------------------------------_ ....~.,~"
1 58 Didtica, currcul o e saberes escol ares
fenmeno, diversas formas de expresso, debate e pel a construo
de uma perspectiva crtica pl ural .
Trata-se de articul ar igual dade ediferena. Durante muito tempo
a cul tura escol ar se configurou a partir da nfase na questo da
igual dade, o que significou, na prtica, aafirmao da hegemonia de
um determinado modo de conceb-I a, considerado universal . Assim,
a pl ural idade de vozes, estil os e suj eitos sociocul turais ficou
minimizada ou sil enciada. No entanto, principal mente a partir das
reivindicaes de diferentes movimentos sociais que defendem o
direito diferena se tem l evantado, cada vez com maior fora, a
exigncia de uma cul tura educacional mais pl ural , que questione
esteretipos sociais e promova uma educao verdadeiramente
intercul tural , anti-racista eanti-sexista, como princpio configurador
do sistema escol ar como um todo e no somente orientada a
determinadas reas curricul ares, situaes egrupos sociais.
Trabal har apartir desta abordagem col oca muitas questes para
a didtica. Supe repensar temas que vo da sel eo dos contedos
escol ares edo modo de se conceber aconstruo do conhecimento
dinmica do cotidiano das escol as e sal as de aul a, incl uindo-se o
tipo de trabal hos e exerccios propostos, os processos aval iativos, a
construo de normas etc, assim como aformao inicial econtinuada
de professores e de educadores em geral .
As prticas educativas, concebidas nesta perspectiva, se
transformam em espaos de busca, construo, dil ogo econfronto
intercul tural , prazer, desafio, conquista de espao, descoberta de
diferentes possibil idades de expresso e l inguagens, experincia da
pl ural idade, aventura, organizao cidad, "empoderamento" de
diferentes grupos sociais, principal mente dos marginal izados e
excl udos, eafirmao das dimenses cul tural , tica epol tica de todo
processo educativo.
Uma preocupao: revisitar temas " clssicos"
Nesta agenda de trabal ho no podem fal tar os temas
considerados "cl ssicos" no mbito da didtica. Nos ml tipl os
dil ogos e encontros mantidos com professores e educadores ao
A didtica hoj e: uma agenda de trabal ho 1 59
l ongo do territrio nacional ede outros pases, principal mente l atino-
americanos, as questes que muitas vezes so consideradas as mais
angustiantes no seu dia-a-dia dizem respeito aval iao es questes
de discipl ina eviol ncia como componentes especial mente crticos
nos processos educativos. Acredito mesmo que, sequeremos verificar
as concepes pedaggicas que de fato esto presentes no dia-a-dia
das prticas educativas, um indicador privil egiado anal isar asprticas
aval iativas ediscipl inares. Nel as secondensam de modo privil egiado
nossas concepes de educao. Sobre el as recaem muitos
questionamentos mas poucas so as propostas para que possam ser
ressignificadas.
Outros temas que podemos considerar cl ssicos na refl exo
didtica so pl anej amento etcnicas. Constituem temas que exigem
ser retrabal hados e ressituados em todo o horizonte que vimos
apresentando. No dia-a-dia dos educadores pl anej amento,
(in)discipl ina, aval iao e tcnicas didticas material izam o ensino e
no podem ser negados ou sil enciados na refl exo didtica.
guisa de concluso
Vol tamos a nossa preocupao do incio. Toda refl exo
pedaggica exige um horizonte utpico. Na construo da nossa
agenda de trabal ho necessrio reconhecer o cenrio em que hoj e
estamos imersos. Articul ar aperspectiva crtica com as contribuies
daviso ps-moderna. Romper fronteiras epistemol gicas earticul ar
saberes. Favorecer ecossistemas educativos. Reinventar a didtica
escol ar. Afirmar a mul tidimensional idade do processo educativo.
Apostar na diversidade. Revisitar os temas "cl ssicos" da didtica.
Certamente esta uma agenda que suscita muitas perguntas, debates
e enriquecimentos e admite muitos desdobramentos, tanto na tica
do ensino como da pesquisa.
Terminamos com estas pal avras de Paul o Freire (2000) que
nos animam aseguir afirmando o horizonte topico que inspira nossa
refl exo pedaggica edidtica:
certo que mul heres e homens podem mudar o mundo para mel hor,
para faz-l o menos inj usto, mas a partir da real idade concreta a que
II
1 1 ;1
li
I,
: illll
: 1
,
II! I'I
! III
!
11: 11'
'." -. ..',,: .~
160
Didtica, currculo e saberes escolares
"chegam" em sua gerao. E no fundadas ou fundados em devaneios,
fal sos sonhos sem razes, puras il uses.
O que no , porm, possvel sequer pensar em transformar o mundo
sem sonho, sem utopia ou sem proj eto. As puras il uses so os sonhos
fal sos de quem, no importa que pl eno ou pl ena de boas intenes, faz
a proposta de quimeras que, por isso mesmo, no podem real izar-se.
A transformao do mundo necessita tanto de sonho quanto a
indispensvel autenticidade deste depende da l eal dade de quem sonha
s condies histricas, materiais, aos nveis de desenvol vimento
tecnol gico, cientfico do contexto do sonhador. Os sonhos so proj etos
pel os quais se l uta (p. 53-54).
B i b l i o g r afi a
ANDR,M. E.;OUVEI RA"M.R. (org.) Alternativas doEnsino de Didtica. Campinas:
Papirus,1997. .
CANDAU,V. M. Construir ecossistemas educativos - reinventar a escol a.
NOVAM ERICA. Rio deJ aneiro, n. 84, dez. 1999.
FREl RE,P. Pedagogia da Indignao. So Paul o: Ed, UNESP, 2000.
Gl ROUX,H. (88) O ps-modernismo eo discurso dacrtica educacional . I n: SI LVA,
T. T. de. Teoria educacional critica em tempos ps-modernos. Porto Al egre: Artes
Mdicas, 1993.
FRUMMUNDI ALDEEDUCAAO. Pronunciamento Latino-americano. Dakar, 24-28
de abril , 2000.
20 an o s d e ENDIPE
Maria Rita Neto Safes Ofiveira*
Este estudo tem por obj etivo identificar propriedades da
produo terico-prtica na rea do ensino que tem nos Encontros
Nacionais de Didtica e Prtica de Ensino (ENDI PEs) um ponto
de partida e/ou de chegada.
Como fontes para o estudo, al m do material prprio dos I V
ao I X ENDI PEs,1 propriamente ditos - documento bsico, fol heto,
programao, e anais? -, foram consul tados documentos da
Associao Nacional de Pesquisa e Ps-Graduao em Educao-
ANPEd (ANPEd, 1995; CALAZANS, 1995), e trabal hos que
envol veram, entre outros, o material dos encontros (OLI VEI RA, 1993,3
1996,4 1997).
Assim, o dil ogo estabel ecido com os trabal hos apresentados
nos ENDI PES impl icou reviso de concl uses de estudos anteriores
eo estudo de sessenta edois dos trabal hos rel ativos s conferncias,
mesas-redondas e simpsios dos VI I I eI X ENDI PEs econstantes
* Professora titul ar da UFMG eprofessora adj unta do CEFET /J vI G.
1 Esses Encontros ocorreram, respectivamente, nos seguintes l ocais e datas:
Recife, 1987; Bel o Horizonte, 1989; Porto Al egre, 1991; Goinia, 1994;
Fl orianpol is, 1996; guas de Lindia, 1998. Antes del es ocorreram, no Pas,
encontros dessas duas reas, real izados separadamente. A propsito, ver
OLI VEI RA, 1993.
2 Ver todos os ttul os das referncias bibl iogrficas rel ativas aos encontros.
3 Nesse estudo que aborda material at o V ENDI PE incl usive, no se teve
acesso aqual quer texto apenas em rel ao ao 1 Encontro Nacional de Prtica
de Ensino, que, segundo texto de LI l l ANEO(1994), foi real izado em Santa
Maria, em 1979.
4 Este estudo foi apresentado no VI I I ENDI PE e aparece em seus ANAI S,tal
como expl icita a sua referncia bibl iogrfica.
Você também pode gostar
- GOODSON, I. A Construção Social Do CurrículoDocumento103 páginasGOODSON, I. A Construção Social Do CurrículoCarolina Penafiel de Queiróz100% (1)
- Currículos e programas no BrasilNo EverandCurrículos e programas no BrasilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Sociologia 12Documento64 páginasSociologia 12Vanda Sirgado100% (11)
- Livro 1 - Talmud Babilônico Tratado Shabat LDocumento398 páginasLivro 1 - Talmud Babilônico Tratado Shabat LSid Xavier Do Nascimento75% (4)
- Apostila Historia 9 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento21 páginasApostila Historia 9 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale86% (7)
- Economia C 12Documento43 páginasEconomia C 12Gabriel2010RI0% (2)
- Escola e CurriculoDocumento80 páginasEscola e Curriculotrick2Ainda não há avaliações
- Currículo, Conhecimento e Cultura Antonio FlavioDocumento35 páginasCurrículo, Conhecimento e Cultura Antonio FlavioJéssica HuangAinda não há avaliações
- O Efeito de RealDocumento4 páginasO Efeito de RealDani Rocha67% (3)
- ILB - Curso Ética e Administração Pública - Exercícios de Fixação - Módulo IIDocumento10 páginasILB - Curso Ética e Administração Pública - Exercícios de Fixação - Módulo IIMaylaAinda não há avaliações
- Relatório Final Da I Conferência Interestadual de Saúde Mental Do Submédio São FranciscoDocumento39 páginasRelatório Final Da I Conferência Interestadual de Saúde Mental Do Submédio São FranciscoPaulo Roberto Marinho MeiraAinda não há avaliações
- 5 (OK) Vera Maria Candau - A Didática HojeDocumento11 páginas5 (OK) Vera Maria Candau - A Didática HojeEduardo Loureiro JrAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 2 Bimestre AlunoDocumento29 páginasApostila Historia 2 Ano 2 Bimestre AlunoTricia Carnevale100% (1)
- Curriculo, Cultura e SociedadeDocumento15 páginasCurriculo, Cultura e SociedadeElisângela Duarte Barbosa100% (2)
- Vera Candau - Educação e Inclusão Social Versão FinalDocumento12 páginasVera Candau - Educação e Inclusão Social Versão FinalDaniel RubioAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento28 páginasApostila Historia 2 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale67% (9)
- Planejamento e Avaliação em Projetos de Educação AmbientalDocumento157 páginasPlanejamento e Avaliação em Projetos de Educação AmbientalFelipe Moraes Dos SantosAinda não há avaliações
- Profissão DocenteDocumento45 páginasProfissão DocenteIsrael SilvaAinda não há avaliações
- Construção Social Do CurrículoDocumento19 páginasConstrução Social Do CurrículoCeli MilagresAinda não há avaliações
- A Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelDocumento33 páginasA Geopolítica e o Desenvolvimento SustentávelGleyson ViegasAinda não há avaliações
- Didática: Alex Ribeiro NunesDocumento14 páginasDidática: Alex Ribeiro NunesMylena ProcópioAinda não há avaliações
- Evolucao Educacao ADistanciaDocumento8 páginasEvolucao Educacao ADistanciamatheusth.devAinda não há avaliações
- Caderno Do Professor 8 Série 9º Ano EF Volume 1Documento82 páginasCaderno Do Professor 8 Série 9º Ano EF Volume 1Cristiano Tavares100% (9)
- Apostila Historia 1 Ano 2 Bimestre ProfessorDocumento28 páginasApostila Historia 1 Ano 2 Bimestre ProfessorTricia Carnevale75% (4)
- 11 Metodologia Ensino SuperiorDocumento46 páginas11 Metodologia Ensino SuperiorVicente AurinoAinda não há avaliações
- Currículo em Salto para o Futuro - TV EscolaDocumento35 páginasCurrículo em Salto para o Futuro - TV EscolaMarcelo VicentinAinda não há avaliações
- Apostila DidáticaDocumento81 páginasApostila DidáticaJaque LimaAinda não há avaliações
- PROJETO EDUCATIVO 2017 2020 - Versão Final - Jul - 19Documento31 páginasPROJETO EDUCATIVO 2017 2020 - Versão Final - Jul - 19Sofia AzevedoAinda não há avaliações
- Sociologia12 130720084839 Phpapp01Documento54 páginasSociologia12 130720084839 Phpapp01nanacardozoAinda não há avaliações
- 1 - IntroduçãoDocumento103 páginas1 - Introduçãojanine poloAinda não há avaliações
- Apple 2001 Educacao e PoderDocumento274 páginasApple 2001 Educacao e PoderEdgar Miranda100% (9)
- UNESCO - Roteiro para A Educacao ArtisticaDocumento34 páginasUNESCO - Roteiro para A Educacao ArtisticaAna PimentelAinda não há avaliações
- Microsoft Word - R1240-1Documento13 páginasMicrosoft Word - R1240-1debora menonAinda não há avaliações
- Desafios Na Construção Do Currículo Do ProejaDocumento18 páginasDesafios Na Construção Do Currículo Do ProejaRobson Sanches Fernandes LopesAinda não há avaliações
- Projeto Visita Ao InhotimDocumento4 páginasProjeto Visita Ao InhotimCleidianelemesAinda não há avaliações
- Apostila Historia 2 Ano 1 Bimestre ProfessorDocumento24 páginasApostila Historia 2 Ano 1 Bimestre ProfessorTricia Carnevale88% (16)
- Teoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990No EverandTeoria crítica, neoliberalismo e educação: Análise reflexiva da realidade educacional brasileira a partir de 1990Ainda não há avaliações
- Aula 05Documento25 páginasAula 05marcelo santana figueiredoAinda não há avaliações
- Ensino de História e Patrimônio CulturalDocumento39 páginasEnsino de História e Patrimônio CulturalUlisses De Deus GomesAinda não há avaliações
- Tardif BorgesDocumento16 páginasTardif BorgesLaricssiaAinda não há avaliações
- A Luta Pelo Ensino Livre - A Educação Na AITDocumento137 páginasA Luta Pelo Ensino Livre - A Educação Na AITOlú LsrAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Das Ciências Da Educação de Gui AvanziniDocumento10 páginasO Desenvolvimento Das Ciências Da Educação de Gui Avanziniinvencaodemorel100% (1)
- 1 PBDocumento21 páginas1 PBAdilson RodriguesAinda não há avaliações
- A Psicologia Educacional e o Sistema de Educação em Cuba - Es.ptDocumento10 páginasA Psicologia Educacional e o Sistema de Educação em Cuba - Es.ptAngel LAinda não há avaliações
- Apostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorDocumento29 páginasApostila Historia 7 Ano 3 Bimestre ProfessorTricia Carnevale88% (8)
- Alfabetização Científica e A Formação Do CidadãoDocumento32 páginasAlfabetização Científica e A Formação Do CidadãoJucimar Antunes CabralAinda não há avaliações
- O Adulto em Situações de Vida - O Desenho Curricular Na Educação e Formação de AdultosDocumento55 páginasO Adulto em Situações de Vida - O Desenho Curricular Na Educação e Formação de AdultosQuitéria SilvaAinda não há avaliações
- ROTEIRO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA - A CIDADANIA NA - PELA MATEMÁTICA. Paulo Apolinário Nogueira Eline Das Flores Victer Cristina NovikoffDocumento50 páginasROTEIRO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE ESTATÍSTICA - A CIDADANIA NA - PELA MATEMÁTICA. Paulo Apolinário Nogueira Eline Das Flores Victer Cristina NovikoffPaulo Apolinário NogueiraAinda não há avaliações
- LivroDocumento150 páginasLivroelencrisolivAinda não há avaliações
- FASICULO de D.CDocumento33 páginasFASICULO de D.CAbraão Cuanda Mbolonga GomesAinda não há avaliações
- Fundamentos Educação Ambiental Popular Marcos ReigotaDocumento6 páginasFundamentos Educação Ambiental Popular Marcos ReigotaLeonardo DiasAinda não há avaliações
- DidáticaDocumento115 páginasDidáticaSidnéia Da Costa LesakAinda não há avaliações
- SEE Sociologia 1 86Documento81 páginasSEE Sociologia 1 86Lourdes HTAinda não há avaliações
- Criatividade e Inovacao Na EducacaoDocumento268 páginasCriatividade e Inovacao Na EducacaoElisa PivettaAinda não há avaliações
- Plano de Trabalho - Estágio II - E.MDocumento12 páginasPlano de Trabalho - Estágio II - E.MTere'sAinda não há avaliações
- Metodologia Do Ensino SuperiorDocumento45 páginasMetodologia Do Ensino SuperiorAloizio Francisco do Nascimento JuniorAinda não há avaliações
- Sequência Didática Interdisciplinar sobre Educação Financeira como prática integradora no Ensino Médio IntegradoNo EverandSequência Didática Interdisciplinar sobre Educação Financeira como prática integradora no Ensino Médio IntegradoAinda não há avaliações
- A extensão universitária e a formação de docentes para o ensino de línguas: um estudo avaliativoNo EverandA extensão universitária e a formação de docentes para o ensino de línguas: um estudo avaliativoAinda não há avaliações
- Currículo: Políticas e práticasNo EverandCurrículo: Políticas e práticasNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Ensino de História e Programa São Paulo Faz Escola: processo formativo e prática docente na rede estadual paulista (2008-2019)No EverandEnsino de História e Programa São Paulo Faz Escola: processo formativo e prática docente na rede estadual paulista (2008-2019)Ainda não há avaliações
- O Que faz um "Bom" Professor de Português?No EverandO Que faz um "Bom" Professor de Português?Ainda não há avaliações
- A difusão global da produção e o conceito de imperialismoDocumento6 páginasA difusão global da produção e o conceito de imperialismoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Camuflando uma agenda de classeDocumento7 páginasCamuflando uma agenda de classeVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Os Eunucos Unidos Da EuropaDocumento11 páginasOs Eunucos Unidos Da EuropaVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Vítimas de I Bullying - I e Prisioneiros Dos "Valores"Documento11 páginasVítimas de I Bullying - I e Prisioneiros Dos "Valores"Vinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Blackrock Toma o Controle Dos Estados e Dos Bancos CentraisDocumento8 páginasA Blackrock Toma o Controle Dos Estados e Dos Bancos CentraisVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Fetichismo Da Taxa de Crescimento Do PIBDocumento7 páginasFetichismo Da Taxa de Crescimento Do PIBVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- O Colapso de Bancos Dos EUADocumento6 páginasO Colapso de Bancos Dos EUAVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Criação Destrutiva Ou Risco MoralDocumento7 páginasCriação Destrutiva Ou Risco MoralVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Vacuidade Do Argumento Do Livre ComércioDocumento7 páginasA Vacuidade Do Argumento Do Livre ComércioVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Relatório Na Véspera Da 9 Conferência de Revisão Do CBWCDocumento14 páginasRelatório Na Véspera Da 9 Conferência de Revisão Do CBWCVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A OPEP+ e A Luta Do Capitalismo Contra A InflaçãoDocumento6 páginasA OPEP+ e A Luta Do Capitalismo Contra A InflaçãoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Esperando o Fim Do MundoDocumento9 páginasEsperando o Fim Do MundoVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Uma Breve História Dos EmpréstimosDocumento9 páginasUma Breve História Dos EmpréstimosVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Sobre Engels e - I - A Guerra Camponesa Na Alemanha - IDocumento7 páginasSobre Engels e - I - A Guerra Camponesa Na Alemanha - IVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- Reflexões Sobre A Crise Brasileira,..Documento13 páginasReflexões Sobre A Crise Brasileira,..Vinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- A Ordem Mundial Tripartida e A Guerra Híbrida MundialDocumento18 páginasA Ordem Mundial Tripartida e A Guerra Híbrida MundialVinicius Machado Pereira dos santosAinda não há avaliações
- 797 4531 1 PBDocumento12 páginas797 4531 1 PBportoppAinda não há avaliações
- Horario Bacharelado 2024.1Documento4 páginasHorario Bacharelado 2024.1jujucamiraAinda não há avaliações
- Arqueologia Da ReligiaoDocumento124 páginasArqueologia Da ReligiaoAna100% (1)
- Memorial CompletoDocumento60 páginasMemorial CompletoAAmandaAinda não há avaliações
- A Estilização MedievalDocumento9 páginasA Estilização MedievalLucianoAinda não há avaliações
- Amigos EspirituaisDocumento20 páginasAmigos Espirituaisanarcos33Ainda não há avaliações
- 02 - Plano Aula HomiléticaDocumento11 páginas02 - Plano Aula HomiléticaPr Márcio BatistaAinda não há avaliações
- Re 82214 dm11 Teste Diferenciacao4Documento6 páginasRe 82214 dm11 Teste Diferenciacao439974Ainda não há avaliações
- Texto Sobre Plágio PDFDocumento2 páginasTexto Sobre Plágio PDFViviane RaposoAinda não há avaliações
- Inclusc383o Processos Escolares e PDFDocumento248 páginasInclusc383o Processos Escolares e PDFGiselle Lemos Schmidel KautskyAinda não há avaliações
- Tavares (El - Brujo) - A Idéia Dos SovietesDocumento2 páginasTavares (El - Brujo) - A Idéia Dos Sovietestavaresinspetor6953Ainda não há avaliações
- Planejamento Educação Física 1° AnosDocumento1 páginaPlanejamento Educação Física 1° Anosbruno barbosaAinda não há avaliações
- Sérgio Affonso - Proff TênisDocumento4 páginasSérgio Affonso - Proff TênissergioaffonsoAinda não há avaliações
- Indisciplinar 04Documento186 páginasIndisciplinar 04Thiago Fernandes100% (1)
- Prova Impressionismo 2 Â A CorDocumento2 páginasProva Impressionismo 2 Â A CorAdrianaViannaAinda não há avaliações
- Sobre Arte e MagiaDocumento117 páginasSobre Arte e MagiaRafael Bedoia100% (2)
- Iamamiwhoami: Videoarte, Música Eletrônica e Narrativa Multimídia Convergem Numa Estratégia de Comunicação ExperimentalDocumento85 páginasIamamiwhoami: Videoarte, Música Eletrônica e Narrativa Multimídia Convergem Numa Estratégia de Comunicação ExperimentalFelipe DárioAinda não há avaliações
- Categoria Da Objetividade PDFDocumento3 páginasCategoria Da Objetividade PDFFilipe AraújoAinda não há avaliações
- FCH ANDREYEVA O Anti-Stalinismo, Cavalo de Tróia No Movimento Comunista Da Segunda Mitade Do Século XXDocumento3 páginasFCH ANDREYEVA O Anti-Stalinismo, Cavalo de Tróia No Movimento Comunista Da Segunda Mitade Do Século XXAgustin EmilianoAinda não há avaliações
- Suelen Simião - Dissertação - Medianeras No Cinema e Na Cidade PDFDocumento208 páginasSuelen Simião - Dissertação - Medianeras No Cinema e Na Cidade PDFSuelen CaldasAinda não há avaliações
- A Contação de História Como Resposta de Intervenção PedagógicaDocumento15 páginasA Contação de História Como Resposta de Intervenção PedagógicaAlice Maria de Jesus100% (1)
- ADocumento12 páginasAdescarregarAinda não há avaliações
- 9a Aula - Reinaldo Barroso JRDocumento21 páginas9a Aula - Reinaldo Barroso JRCarla SousaAinda não há avaliações
- Apostila Marketing Pessoal SENAIDocumento11 páginasApostila Marketing Pessoal SENAIBárbara EdnaAinda não há avaliações
- Ciclo 3 Iniciação Espirita DirigenteDocumento98 páginasCiclo 3 Iniciação Espirita DirigenteMárcio Henrique Lima da SilvaAinda não há avaliações
- RAMIREZ, M. C. Táticas para Viver Da Adversidade. O Conceitualismo Da América LatinaDocumento12 páginasRAMIREZ, M. C. Táticas para Viver Da Adversidade. O Conceitualismo Da América LatinaCamila VitorioAinda não há avaliações